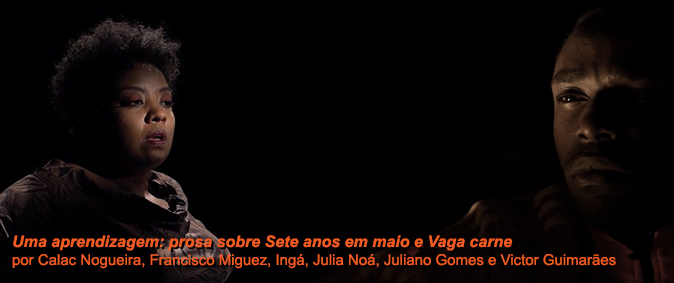A ideia de trabalhar coletivamente tem orientado a Cinética na busca de novos diálogos e caminhos junto aos filmes. São oportunidades de conversarmos entre nós e com os filmes, chances de praticar conhecimentos, reconhecimentos e desconhecimentos. Aproveitamos o lançamento recente dos médias Sete anos em maio e Vaga carne – ambos com críticas publicadas aqui – para fazer este diálogo que se segue. A ideia é que possamos, via escrita coletiva, experimentar contágios, respostas, discordâncias, buscando assim falar de maneira multidimensional dos filmes e, em certa medida, de nós mesmos, expondo uma gama razoavelmente variada de respostas aos filmes e aos estímulos que vão aparecendo nas intervenções de cada pessoa. Este diálogo foi realizado a partir de um documento compartilhado online, entre oito e meia e dez e meia da noite da quarta-feira, 20 de maio de 2020. Participaram Calac Nogueira, Francisco Miguez, Ingá, Júlia Noá, Juliano Gomes e Victor Guimarães.
*
Juliano Gomes: Os dois filmes estão sendo lançados juntos no “circuito” neste mês, portanto, sua relação foi dada ou sugerida pelo lançamento, mas creio que o propósito deste diálogo aqui é que acreditamos haver uma série afinidades e diferenças que justificam essa justaposição. Pensando, de um lado, o Ricardo Alves, cuja obra a revista acompanha há bastante tempo, o Affonso Uchôa, a mesma coisa, o João Dumans, roteirista do Sete anos em maio, já colaborou com a Cinética, e a Grace Passô, cuja carreira no cinema está completamente registrada aqui. Portanto, são produções que vem de caminhos que temos acompanhado, certo?
Victor Guimarães: Sim. A aproximação poderia ter algo de aleatório, já que é um tanto arbitrária a junção (o fato de serem médias-metragens também influencia nesse lançamento conjunto). Por outro lado, as afinidades são evidentes. Começaria pelo fato de que são filmes que têm a voz como elemento fundante. No Vaga Carne, essa voz que conceitualmente não tem corpo, mas que o tempo inteiro estabelece um embate com o corpo da atriz. No Sete anos em maio, essa vocalidade inteiramente fundamentada na experiência, assentada no corpo (cujo emblema é o monólogo do protagonista). Os filmes salientam as possibilidades de arranjo ou desarranjo entre corpo e voz.
Júlia Noá: É interessante essa aposta. O formato média me parece bastante escanteado no audiovisual, sem muito volume de produção e mesmo interesse em fazê-lo. É um quase-longa ou um curta que se excedeu no tempo. Seria interessante pensar na potência desse tempo, do que ele sugere.
Calac Nogueira: Em geral, quando os realizadores percebem que está saindo um média, dão uma esticada para fazer um longa, para poder lançar comercialmente. Os dois filmes se fortaleceriam muito se vistos juntos, em uma sessão dupla, o que não necessariamente ocorre na internet – eu já tinha visto o Sete anos em maio no cinema, e assisti ao Vaga carne só agora. O diálogo é evidente, muito mais intenso do que em alguns filmes de episódios já concebidos para serem exibidos juntos. Além da voz, os dois filmes têm um certo arejamento que é dado por um desejo de experimentação, de cruzar fronteiras: cinema/teatro no Vaga carne, relato pessoal/alegoria política no Sete anos.
Francisco Miguez: Lembrei do que vimos com Arthur Jafa conversando com bell hooks, sobre tentativa e erro. Os dois filmes aqui experimentam nesse sentido, no intervalo entre voz, corpo e representação. Tentativa e erro na representação. O Vaga Carne, nessa voz que é interposta por um corpo difícil, os intervalos entre voz, corpo, consciência de si, subjetivação e representação. No Sete anos, o intervalo é o da repetição do trauma, como sugeriu o Calac no seu texto, que volta de diferentes formas, na reencenação, no relato, na performance.
Júlia: Pensando nessa questão da voz enquanto costura, atadura, dos filmes, me vem à mente essa palavra que Francisco disse, e que creio estar no texto de Calac também: “trauma”. A narração em Sete anos em maio me soa como cura, como um processo de cicatrização do trauma, enquanto em Vaga Carne é a voz que destrói, que rasga, não?
Ingá: Sim. É curioso como esse arejamento da experimentação em “cruzar fronteiras”, como Calac falou, me parece impulsionado por um sufocamento extremo. Em ambos os casos. No Vaga carne a voz trava uma luta constante contra o corpo, ou para se liberar dele. Em Sete anos: a memória do trauma, o rosto do policial. É como se o escuro, ou vez por outra o silêncio, também fossem elementos necessários pra lidar com uma panela de pressão.
Juliano: Entretanto, estes gestos não são um retirar-se, né? São filmes pretensiosos. O escuro é uma oportunidade. A indefinição…
Victor: Falando do escuro como oportunidade, pensei nessa nossa situação atual de só poder ver os filmes em casa. Vi ambos no cinema e, revendo hoje, fiquei pensando no quanto a sala escura faz falta a esses filmes, ou melhor, no quanto as experiências de ver em comunidade e de forma isolada são diferentes. No Sete anos, me lembro nitidamente do suspiro geral que perpassou a sala quando o filme faz aquele contracampo pro personagem do Wederson Neguinho depois do monólogo do Rafael. Era como se o filme se reconfigurasse inteiro ali, e aquilo tinha algo de mágico, não só pelo que acontecia na tela, mas por viver essa surpresa coletivamente. No Vaga carne, o desenho de som do filme é muito minucioso, tem um jogo com as caixas de som da sala, que se tornam também parte do jogo do filme – esse som que percorre a sala, salta de uma caixa pra outra, se espacializa, tem tudo a ver com o conceito dessa voz que entra pelas matérias, desdobra isso. Vendo em casa, boa parte dessa experiência se reconfigura radicalmente. A experiência da escuta se torna muito mais íntima, menos espacializada, mais concentrada.
Júlia: Esses filmes parecem ser sombras com pontos iluminados, e não cenas potencialmente recortadas por uma sombra ou outra. É interessante isso do “escuro enquanto oportunidade”, né? A escuridão deixa muito ainda a ser descoberto, e um mundo só iluminado parece um pouco sem graça, já todo desvelado e muito pouco interessante. Essa conversa me fez recordar do Nunca É Noite No Mapa (2016), do Ernesto de Carvalho – talvez mais pelo título do que necessariamente pelo filme. Ver o filme em casa é uma experiência mais iluminada e menos introspectiva justamente pela ausência da escuridão coletiva.
Juliano: Nunca é noite no mapa é um título triste. Pensando em pessoas negras, pessoas que foram presas, “não ser descoberto” é importante.
Francisco: O tema da escuridão me lembrou o Vitalina Varela do Pedro Costa e o papo do Juliano com o Victor aqui. O quadro sem borda, sempre no escuro. O mundo dividido entre luz e sombra, como fala a Vitalina. Tem um pensamento sobre a fotografia do corpo negro nesses filmes todos. Isso se perde fora da sala escura, na televisão, onde a borda está ali, de plástico. Uma outra coisa: creio que os filmes têm outro caminho comum, que é que essa experimentação se dá no pacto com o espectador também. O Vaga Carne não topa a identificação com o corpo presente, a voz e o gesto sempre desconcertam em estabelecer relação por identificação. Isso aparece ali quando os espectadores, todos negros e negras, reagem pensativos, até autoconscientes. No Sete anos ele refaz esse pacto também a todo momento, a cada registro de encenação. É muito marcante quando você vê o protagonista dando seu longo relato, e acha que aquilo pode estar no registro da entrevista. E então ele faz a quebra e bota um interlocutor que joga o jogo pro diálogo, para ficção.
Ingá: É uma mudança radical mesmo, e aí o interlocutor ocupa a posição de uma voz presente, pensando a partir de Vaga carne. Quando falam do escuro como indefinição, vejo nos dois filmes o escuro como uma força expressiva do invisível. Tentando dar conta dele. Em Sete anos em maio a gente é constantemente reenviado para imagens que não se materializam na tela, algum invisível presente, e em Vaga carne o invisível é ainda mais inquieto, porque parece estar tão ali que se recusa a figurar no que a gente entende por visibilidade.
Juliano: Esse contraplano do Sete anos – que Francisco falou – é o ápice do filme pra mim, porque ele requalifica toda a estrutura. Entretanto, a força ambivalente do filme só vai caindo pra mim, dali em diante. Uma certa coragem moral que admiro no filme se arrefece um pouco. Podíamos falar sobre as clarezas destes filmes. Que acham? Porque pra mim, o problema que sinto neste momento passa por isto.
Ingá: Ele se torna literal demais?
Juliano: Exato.
Victor: Também sinto que o filme cai depois da virada. O que havia de subversão da expectativa no começo – os jovens tomando as fardas para si e desativando a coreografia do poder através da farsa, a surpresa do contracampo – se torna muito mais previsível. Na sequência final, concordo com o texto do Calac quando ele diz que a sustentação da brincadeira faz com que a metáfora não seja tão banal, mas por outro lado o policial tem uma “cara de policial” terrível. Tudo o que era jogo, vacilação, se torna muito mais amarrado num discurso. O filme parece se atar ao discurso da metáfora ali. No Vaga carne, isso talvez esteja – e essa ideia é ainda bastante incipiente, porque é um filme mais difícil de estabelecer juízo – não só nas vozes reconhecíveis dos créditos finais, mas no arco dramático que faz com que a voz se estabilize no corpo. Algo da potência de deriva dessa voz voraz parece se estancar no momento em que ela se assenta no corpo.
Calac: Concordo com o texto do Juliano quando ele diz, sobre o Vaga carne, que a necessidade de explicitar um conteúdo político com as palavras “mulher”, “negra” e com os créditos é um pouco supérflua. O gesto político silencioso de o filme só ter atores negros é bem mais potente.
Ingá: O lance com Vaga carne tá mais na postura da interrogação. “De que cor ela é?” é uma pergunta que não tarda a chegar. Não é como se o corpo, ou o que quer que ele carrega de político, inclusive a partir de nomes “humanos” fosse esquecido, né? Eles só não deixam de ser chacoalhados.
Juliano: A força do Vaga é de interrogação. É muito difícil manter uma interrogação, um tom interrogativo. Tanto que é difícil, quando falamos, falar frases longas no tom de pergunta. O tom de pergunta é a coisa mais difícil de manter. O filme acaba dando respostas mais do que julgo que seria rico que ele fizesse.
Calac: No caso do Vaga carne, fico em dúvida sobre o que a passagem da peça para o cinema acrescenta de fato. Já havia assistido à peça, e vendo o filme não consegui perceber muita coisa. Me parece que os espectadores colocados no filme fazem um papel que a plateia fazia no teatro, e o cinema serve como mero registro de uma dinâmica do teatro.
Ingá: Colocar apenas espectadores negros foi dito como um gesto silencioso de potência. Fazia falta à peça, por exemplo? Ou modifica a relação com o cinema?
Calac: É um gesto interessante colocar os espectadores negros. Mas o texto não pede esse gesto. Ele é fechadinho.
Júlia: É interessante isso que Ingá disse (que também está no texto de Juliano) sobre os “nomes não humanos” e de uma voz autônoma. De alguma maneira poderia ser uma espécie de resposta a algumas elucubrações levantadas no nosso outro texto coletivo, sobre o que seria um filme não-humano. Numa outra chave, mas é ainda uma voz deslocada de um corpo, né, e isso altera a natureza da performance.
Francisco: Discordo que a plateia esteja ali por registro da dinâmica do teatro, como uma espécie de resquício do “original”. Não assisti à peça, talvez bata diferente aqui. Ali o filme estabelece um contracampo. Ou, por sugestão, que o espectador “habite uma posição de espectatorialidade negra no mundo”, como fala o Christopher Harris, na entrevista com a Kênia Freitas pro Festcurtas. É isso também que acontece no contracampo do Sete anos.
Victor: Nos dois médias tem um gesto de transposição, né? No caso do Sete anos, ele é inteiramente baseado na história do Rafael, e o desafio primordial é como encenar essa história traumática. O filme ganha muito quando não se deixa levar pela tentação de transformar essa história em depoimento, relato, entrevista. Tem algo de recusar uma coisa que o Adirley Queirós sempre fala, que é um vício do documentário convencional: se a pessoa já sofre tanto na vida, por que fazê-la sofrer de novo no cinema? Por outro lado, no Vaga carne, há algumas potências que só o cinema poderia trazer pro filme, ao menos enquanto obra pensada para a sala de cinema. Falei aqui do som, que radicaliza o lado não-humano da voz, dissocia ainda mais o corpo e sublinha o aspecto maquínico do som, mas tem uma outra coisa que me interessa muito. Fala-se muito do teatro como essa experiência de intimidade, da força da presença, de estar ali convivendo com os atores. Mas é muito bonito no filme como a gente escuta a saliva, o roçar da roupa no corpo, todos esses ruídos minimais que não me lembro de ter ouvido no teatro quando vi a peça.
Juliano: Sinto que o filme é mais ansioso do que ele poderia ser, tendo seu texto como base. O desenho de som do Vaga – que Victor citou – me soa um pouco redundante, com receio dos vazios. Ansioso por significar e por se intensificar. Sinto que ele teria margem pra ser mais forte encarando situações de “menos”, encarando os limites do “quase nada” que a peça e livro encaram. Aquela saturação toda na parte final me parece menos criativa do que o sistema inteiro do filme sugere. O livro publicado tem várias páginas vazias. Lembro do silêncio do teatro, era muito cheio. Tem uma potencialidade do nada que é rara de atingir. O morto-vivo do Sete anos é um exercício teatral?
Júlia: A coisa do morto-vivo é muito mais um performance filmada que um exercício teatral. Até porque é o momento que a espectatorialidade me parece mais distanciada, cindida. A dimensão teatral que ainda subsiste em Vaga carne parece estar na forma como ela encara a câmera, não? Mais do que o próprio espaço do palco.
Francisco: Dá para pensar uma contramão aí, não do teatro para o cinema, mas do cinema para a teatralidade. Isso tá no problema da representação dos dois filmes, é tema.
Juliano: Diria que é uma peça cinematográfica e um filme teatral. O Vaga.
Francisco: Por exercício aqui, e o Sete anos? Filme-performance?
Júlia: Um relato falso-documentário com fim performático. Existe?
Juliano: Um tríptico conceitual. Com o prolongamento dessa pesquisa lírico-narrativa da dupla Uchôa-Dumans. Mas, repetindo: sinto que a literatura vai se arrefecendo no último terço. São dois belos filmes literários. O texto é um ente ali.
Victor: Sim, tem a literatura também. Me lembro que a primeira imagem que me veio à cabeça quando vi o Arábia foi o São Bernardo (Leon Hirzsman, 1971). Me lembrou imediatamente esse esforço do Cinema Novo tardio, da virada pros anos 1970, de retomar de maneira muito forte um diálogo entre cinema e literatura: A Casa Assassinada (Paulo César Saraceni, 1971), Macunaíma (Joaquim Pedro de Andrade, 1970). E isso era algo que não via no cinema brasileiro contemporâneo. De certa maneira o Sete anos continua isso, essa pesquisa que busca uma vibração literária nessa fala dos homens comuns. No Vaga, o texto é realmente muito forte. Tem uma autonomia. Quando a tela tá preta no começo, a experiência do espectador é praticamente uma experiência literária. E o tempo inteiro o filme tá se debatendo com uma questão que, no fundo, é literária. Como fazer vibrar essa voz a não ser com palavras? Que só rodeiam o problema, e é esse rodear que torna o texto algo comparável com grandes momentos da literatura brasileira: Clarice, claro.
Juliano: Vaga é Lispector pura. Acaba igual ao Livro dos prazeres. Quase chamei meu texto de Uma aprendizagem.
Francisco: Queria perguntar sobre a representação da violência. Me parece que é incontornável para falar desses filmes, não?
Juliano: Certamente.
Francisco: Porque me parecem exercícios muito forte de tentativa e erro, de que não tem boa forma, forma correta, moralmente. É sobre errar e errar de novo. Tentar elaborar sobre a violência e recusar as formas prontas.
Juliano : Sim. Senti que voltamos ao território do Arthur Jafa, no que tu falou.
Júlia: E um pouco ao Harris também, especialmente em Uma Suspensão Voluntária da Descrença + Fotografia e Fetiche, de 2014.
Calac: Creio que o Sete anos em maio consegue criar formas muito potentes de trazer essa violência de maneira indireta – com o relato, mas também com o jogo do morto-vivo, que é bastante desconfortável. O Vaga carne tem isso muito claramente no embate voz/corpo. Mas julgo que a presença do corpo físico no teatro deixa a experiência mais potente. Mas aí vocês vão me acusar de estar sendo chato com o filme.
Ingá: Não assisti à peça, mas a experiência do filme me chamou muita atenção pras minhas reações físicas ao que acontecia, muito do texto me puxava, de modo que às vezes achava que poderia estar numa sala de teatro mesmo. Gritei de volta pra tela. Nesse ponto Vaga carne atinge um modo de retrato da violência que tá também na partilha, ele precisa ser violento também com quem o escuta e o assiste, compartilhar a violência corporalmente. Em Sete anos essa dimensão do texto, literária, é um vetor de lembrança, algum momento ele diz que se ele esquecer do que aconteceu, é como se tivessem completado o serviço.
Juliano: No Vaga ela diz: “eu te amo esquecimento, estou apaixonada.”. Talvez o mais violento e político seja esculpir uma forma de recusar a significar, sem rodear os problemas. Ser direto e indireto. A polícia depende de informação. Vejo aquela recusa final, a maneira como a entendo, como confortável, o efeito dela. Ela assenta minha leitura num lugar esperado. O texto do Vaga fala de uma certa violência constituinte, entende? Por isso sinto o finalzinho do filme menos forte.
Francisco: O intervalo falhado entre corpo e voz é marca da violência. Isso é mais evidente no modo como opera o Vaga carne. Mas no Sete anos essa falha está no jogo da repetição, da reencenação, que é característica psíquica do trauma, da memória que volta várias vezes, por interrupção, desordenada.
Juliano: Sorry to interrupt mas olha como acaba o livro da Clarice que falei:
— Meu amor, você não acredita no Deus porque nós erramos ao humanizá-lo. Nós O humanizamos porque não O entendemos, então não deu certo. Tenho certeza de que Ele não é humano. Mas embora não sendo humano, no entanto, Ele às vezes nos diviniza. Você pensa que —
— Eu penso, interrompeu o homem e sua voz estava lenta e abafada porque ele estava sofrendo de vida e de amor, eu penso o seguinte:
Leia também:
- Editorial de abril de 2020
- A fartura da fratura, por Juliano Gomes
- O trauma, a fala, por Calac Nogueira
- A crítica: métodos, critérios, políticas II: A Falta que Nos Move, carta dos leitores
- E o teatro, o que é?, por Eduardo Valente
- Sobre cantar e morrer por Marcelo Miranda
- O que pode o cinema?, por Eduardo Valente
- Um épico playground guerrilheiro, por Luiz Soares Jr.
- Abrindo o jogo, por Cléber Eduardo
- A representação violada, por Fabio Diaz Camarneiro
- Existo, logo enceno, por Marcelo Miranda
- A cena muda, por Juliano Gomes