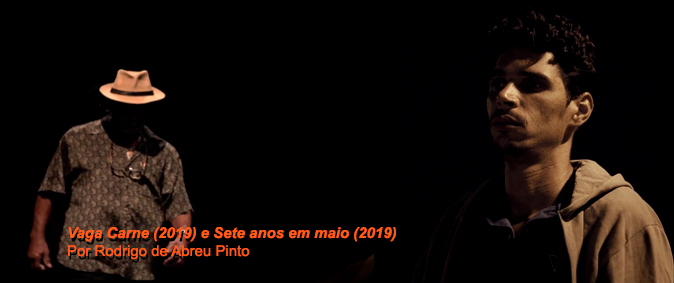Na mesma semana do lançamento de Vaga Carne e Sete Anos em Maio, Regina Duarte saiu da Secretaria Cultura e foi para a Cinemateca. O crítico Fábio Andrade estava certo ao dizer que “o cinema brasileiro é, hoje, menor do que seus filmes”, e não apenas pela barbárie bolsonarista – isso é óbvio – mas pela força propositiva da nossa filmografia recente.
Minha semana também foi tumultuada e acabei não participando da conversa em torno dos filmes (realizada quarta e publicada ontem). Mas achei ótimo que destacaram, logo de saída, que os filmes de Affonso Uchôa e Grace Passô & Ricardo Alves Jr. são mais do que dois médias-metragens mineiros que cumpririam a façanha de estrearem juntos em salas de cinemas, se não fosse a pandemia. Outrossim, ambos encenam personagens cujas ações são dominadas pela oralidade. Além de envoltos na escuridão que não apenas criptografa o visível – onde outrora se enraizara a normalidade da dominação – mas que também reorienta as relações para que escutemos as imagens, ao mesmo tempo em que assistimos os sons a cada crispar dos lábios e agitação ´íntima dos rostos, onde se concentra o feixe de luz. À vista de tais elementos – sobretudo o breu e o som – faço coro ao lamento de Victor sobre “o quanto a sala de cinema faz falta a esses filmes”.
Naquilo que mais me engaja, Vaga Carne e Sete Anos em Maio também sondam, cada qual à sua maneira, o avesso da vida – seja a morte propriedade dita ou a vida não-orgânica. Ao passo que Affonso Uchôa se engaja no óbito como fenômeno social, Grace Passô e Ricardo Alves Jr. prestam um exame ontológico do não-humano (o que é diferente de inumano).
Por mais que o fechamento dos possíveis tenha fornecido a medida do real nos últimos anos, as formas artísticas, não menos indóceis, têm se implicado na busca de invenções – em muitos casos, inversões – capazes de destravar a nossa imaginação política. Em Vaga Carne, com efeito, estamos diante de uma postura pós-vitalista – ou, para falar como Juliano Gomes, uma necropoética – compreendida como “a perspectiva onde o espaço da vida, do corpo orgânico em pleno funcionamento, não é mais o lugar privilegiado da atividade dramática, nem de investimento simbólico”. Pois, na obra de Grace e Ricardo, tudo se dá através de uma voz – voraz, mas não mais que voz – que circula no interior do quadro enquanto qualifica a “vitalidade não vivente do que rodeia os corpos”. Para, ao final, mergulhar no corpo – sólido, íntegro, sempre ele mesmo – e gritar por entre as vísceras que “há outras formas de vida e isto é necessário ser dito”, sem que voz e corpo se sobrepunham uma à outra, e sim ensaiem relações entre os opostos.
Essa busca por uma ‘não-vida vivente’ no âmago do ser – como uma qualidade interna, embora nunca inteiramente própria – já estava presente nas obras anteriores de Ricardo Alves Jr, seja na vibração tátil das epidermes em Permanências (2010), seja no furor indomável – mais animal que humano – do protagonista de Tremor (2013). Aqui, no entanto, essa pulsão – mais gore do que psicanalítica – produzirá mais do que transtornos internos na protagonista, conformando uma experiência para-humana que força e viola as barreiras antropológicas até então fixadas. Daí, a partir de então, ser vivente ou não-vivente se torna uma distinção metafísica não-binária – além de estratégica – pois afirma uma potência não orgânica embora não menos capaz de assaltar a matéria e fazê-la exprimir uma outra essência como quem diz: “mesmo sabendo que vocês não acreditam nesse tipo de existência, que não é humana, vim até aqui, proferir sons de vossas línguas limitadas.”
Por outro lado, tenho a impressão de que parte dessa energia híbrida e dissensual se perde quando a fricção entre voz e corpo é mitigada, e o filme caminha ávido para o fim. O fechamento do arco dramático – que se dá pela fixação da voz no corpo – alimenta a consumação nostálgica do liame anteriormente perdido. “O filme”, como destacou Juliano na conversa da redação, “acaba respondendo mais do que acho que seria rico que ele fizesse”. E essa renúncia da opacidade, embora preserve o filme das acusações de niilismo ou intransigência, é também o sinal de que o desespero não foi levado até o limite.
Em Sete Anos em Maio, a questão não está nesse trânsito entre vida e não-vida que nunca se estabiliza, mas na paralisação da vida um passo antes da morte – uma vida que não é mais que meramente orgânica. Boa parte do filme transcorre no longo relato do protagonista (Rafael dos Santos Rocha), alvo de inúmeras violências policiais ao longo da vida. A oralidade robotizada, a postura hierática e a impassibilidade das suas feições – características robustecidas pela fixidez do plano – atestam alguém que ex-iste, isto é, alguém que não passa de testemunha da própria vida.
De modo que a sua subjetividade – esse instrumento dialético e incansável de superação de si – foi represado pelas experiências de vida que, se não o mataram, também não o deixaram muito mais que vivo. E mesmo a intervenção do amigo (Wederson Neguinho), afirmando que a sua narrativa se repete em vários outros lugares e corpos, não é capaz de fazê-lo sair de si, embora mensure ainda mais a brutalidade do estado de coisas existentes em que a mera conservação da vida orgânica não tem nada de mera. O que é reforçado sobremaneira na última cena, onde assistimos a encenação da brincadeira de morto-vivo, chefiada por um “policial”, em que apenas Rafael sobra no final, ao contrário dos pares que não tiveram a mesma força ou sorte.
A força de Sete Anos em Maio está em se desviar da sociologia ruim de filmes que analisam os sujeitos de baixo para cima e apresentam a violência numa ordem de razões tão estrutural quanto empilhada ao longo da obra (exemplo maior é Ônibus 174, feito por José Padilha em 2000). O resultado, em tais casos, não é outro senão uma vitimização do personagem, tido como um verdadeiro produto do real, enquanto a opressão propriamente dita mal é percebida em meio às inúmeras causalidades deterministas. Já em Sete Anos em Maio, a diferença é que Affonso ergue uma encenação em que a injustiça, embora não redimida, é apresentada em todo o seu ceticismo e falta de transcendência que a torna o registro bruto do novo tempo do mundo. Enquanto há filmes em que “indigna-se, que se fique claro, com a matéria-prima, não com a forma” (na fórmula de Cléber Eduardo), aqui aqui ambas as coisas se dão simultaneamente.
Assim como em Arábia (2017) do próprio Affonso – mas também em Era Uma Vez Brasília (2016) e Baixo Centro (2018) – os discursos dos personagens até sinalizam uma conscientização política, mas não se coadunam em nenhuma redenção ou virada – como se fosse questão de encarar os impasses, de uma vez por todas, levando realmente em conta as assimetrias de força do real. Na cena final, Affonso teatraliza a cerimônia dos assassinatos – o que talvez sugira o caminho da reinvenção (embora eu concorde com Calac que a metáfora da brincadeira é frágil) – mas embora o personagem preserve a vida, ele só vai até o limite de se recusar a morrer, sem o empenho seguinte de insurgir. Pois esse último gesto, afinal, só pode ser levado a cabo enquanto somos impelidos ao desespero para que daí nasça as condições, por ora inexistentes, de uma ação que satisfaça a urgência.
Leia também:
- A fartura da fratura, por Juliano Gomes
- O trauma, a fala, por Calac Nogueira
- Levante de um corpo em colisão, por Ingá
- Disjunção lavar, por Juliano Gomes
- Juventude em marcha, por Victor Guimarães
- Diante da dor das outras, por Hannah Serrat
- A dívida, o segredo, o labirinto, por Luiz Soares Jr.
- Por um cinema pós-industrial, por Cézar Milgiorin