No trato com o romance de Antonio di Benedetto, há uma omissão significativa em Zama. Já na jornada final, quando o destacamento reunido para a caça do bandido Vicuña Porto se depara com o grupo de índios conhecido como “os cegos”, di Benedetto invoca uma anedota marcante. Depois que a tribo inteira tivera a visão extirpada pelos inimigos, os homens e mulheres encontraram uma insuspeita liberdade na mutilação: em terra de cego em que não há sequer um caolho, todas as convenções tradicionais são, de súbito, suspensas. Junto com a dificuldade inicial da nova condição perceptiva, vem a ciência de uma oportunidade: da noite para o dia, é possível, para um grupo humano inteiro, subverter todos os hábitos arraigados em sua sociedade, abrir-se para um deslimite da vida em comum. Como não há ninguém olhando, é possível inventar novos afetos, novas experiências de sexualidade, novas maneiras de estar juntos, até que alguns, tomados por uma euforia febril com o novo mundo que se abre à percepção, decidem golpear os próprios ouvidos até perderem também a audição. A automutilação dos índios – que contrasta violentamente com a mutilação progressiva de Don Diego de Zama, que encarna a decomposição do mundo colonial – é de uma potência que não cabe tratar aqui, mas há um traço a reter: nessa terra de cegos e surdos pelo excesso de palavras, é um acontecimento perceptivo que aponta o novo e tem uma força avassaladora, capaz de exceder a de qualquer potência ultramarina.
Bazin já o sabia: ser fiel a um romance não significa reter ao máximo os elementos de sua intriga – tarefa sempre fadada ao fracasso –, mas engendrar invenções formais que sejam equivalentes, em termos cinematográficos, àquelas da obra literária. Em Zama, a anedota é contada apenas parcialmente pelo personagem de Matheus Nachtergaele, mas o princípio que a move é transformado por Lucrecia Martel em leitmotiv. Zama é um dos raros filmes contemporâneos a ter assumido uma tarefa tão ambiciosa quanto descrever a ruína de um mundo e inventar, numa tacada só, um regime narrativo e um regime de percepção. Martel desfaz a integridade implacável de um romance inadaptável e o transforma em um campo de trabalho cinematográfico. Se di Benedetto transformava a desintegração do projeto colonial numa aventura literária que alcançava “um ponto culminante da literatura em língua castelhana do século XX”, como escreveu Juan José Saer, Martel se posta diante da putrefação e enseja uma linguagem corroída e corrosiva, que converte a degradação em princípio poético da descoberta de uma outra via possível para o cinema de nosso tempo.
Em fins do século XVIII, Diego de Zama (Daniel Giménez Cacho), assessor “letrado” do governador de uma província no território onde hoje fica o Paraguai, sul-americano que se crê europeu, figura subalterna que caminha altivamente como se tivesse poder real, carrega a fama de um passado glorioso que só se traduz em atos fracassados, enquanto espera por uma transferência que nunca chegará. No romance, não há escapatória: nossa única porta de entrada é através do ponto de vista desse restolho ambulante de um mundo caduco que acumula desvarios de grandeza e fantasias de pureza enquanto espera e espera, deteriora-se mais e mais a cada dia e só não morre de fome porque aqueles que ele despreza lhe salvam a vida. Essa brutal ausência de contraponto, no entanto, longe de ser uma deficiência, é o trunfo principal da narração de di Benedetto: o mergulho abissal na subjetividade de Diego de Zama não se faz sem um profundo distanciamento, sem a intuição de outros pontos de vista possíveis. Atados à moral de um canalha – que, no entanto, exibe uma imaginação prodigiosa a cada pedaço de texto –, somos arrastados para o turbilhão da história enquanto nos debatemos com alteridades inacessíveis, mas intensamente presentes.

Ao abolir o trunfo principal do romance – a peculiaríssima narração em primeira pessoa –, Martel assume a tarefa de espalhar o realismo alucinatório do texto e a subjetividade fraturada do protagonista por cada um dos elementos de Zama. No campo da dramaturgia, cria figuras dramáticas novas (o filho do Oriental com seu recitativo de criança demoníaca), injeta estranheza noutras (as filhas do hóspede como ninfas perturbadoras), imagina cenas aberrantes (a festa da aristocracia convertida em puteiro e estábulo, o espaço do ritual indígena que mais parece uma sauna), concentra ao máximo os acontecimentos da intriga e os faz participar de uma torrente narrativa imparável, que se move muito mais por sobreposição de camadas do que por linearidade. Acontecimentos muitas vezes separados por dezenas de páginas no romance são sobrepostos na mesma sequência, por vezes no mesmo plano. O que, no início do romance, aparece como deriva imaginativa – a prosa delirante a partir da descrição dos animais, por exemplo – alternada com momentos de maior realismo, no filme adentra o plano, sobrepõe-se à intriga realista.
No campo visual, Martel descentra enquadramentos e sobrepõe corpos no quadro, carrega nas tintas, constrói cenários e figurinos alucinantes, vulgariza ao extremo as paisagens, compõe balés onde esperaríamos gestos cotidianos, desenha figuras fantasmagóricas que atravessam o quadro a toda velocidade. No sonoro, intui o que o romance continha como traço fundante – o imenso “extracampo” da narração de Zama – e o radicaliza, ao fazer de cada plano uma totalidade provisória sempre porosa, violentamente atravessada pelos ruídos, pelas vozes, por todas as presenças do fora de campo que inquietam a percepção e se fazem sentir no plano. A riqueza do campo sonoro, que já era um marco no cinema de Martel desde O Pântano (2001), é aqui multiplicada pelas inserções nada realistas da trilha musical, que empurram o filme para bem longe da convenção do filme histórico. O anti-herói torna-se então, pouco a pouco, um corpo anestesiado que só pode oferecer um olhar espantado a tudo o que o rodeia. Somos arrastados, junto com ele, para uma imersão violenta nesse mundo putrefato, no calor úmido que invade as casas e os corpos, no cheiro insuportável dos cadáveres.

A crítica do projeto colonial não vem acompanhada de nenhum apego pela facticidade histórica. Martel não visa retratar o período, mas destruir as bases cognitivas e estéticas da colonialidade. Com o perdão da paráfrase (Godard sobre Hitchcock), não nos lembramos como é que começou a briga entre Ventura Prieto e Diego de Zama, mas nos lembramos perfeitamente do efeito de uma nota alongada a perfurar a banda sonora, da feiura contundente das paisagens, do susto de uma lhama caminhando em direção a nós. Embora no romance houvesse uma breve indicação dos anos em que se passa a intriga – que só servia para acentuar o extraordinário efeito das elipses –, no filme as temporalidades são ainda mais embaralhadas, pois não importa exatamente em que ano estamos, mas sim a secura do ruído do tapa na cara de Malemba (Mariana Nunes), o barulho de seu andar manco, sua pequena vingança expressa não em um ato de revolta para amansar espectadores sedentos de conforto moral, mas na densidade de um olhar fulminante e ambíguo, que só nos deixa ainda mais nervosos.
O cotejo de Zama com Vazante (Daniela Thomas, 2017) pode ser revelador. Enquanto Vazante descreve a decadência do projeto colonial a partir de um relato “de época” como qualquer outro – calcado na progressão linear, no suspense, na estilização sempre sóbria e equilibrada, nos meios tons, na facticidade –, Zama faz explodir a verossimilhança, a racionalidade, o equilíbrio do relato, pois essas são as armas do colonizador. Enquanto Daniela Thomas adora um plano de passagem para ressaltar a exuberância das montanhas mineiras com sua delicada fotografia em mil tons de cinza, Martel não admite um plano de passagem sequer e pratica uma encenação agressiva, de cores berrantes, de onde a empatia está desterrada. Enquanto Vazante é impregnado de má consciência, de boas intenções, de um humanismo demagogo que não consegue disfarçar seu compromisso fundamental com a norma – essa que, no fundo, reproduz a perspectiva colonial –, Zama é herdeiro insuspeito da Eztétyka do Sonho glauberiana, o manifesto que afirmava que “a ruptura com os racionalismos colonizadores é a única saída”.

Em Zama, o projeto colonial não é, como em Vazante, um fracasso – o que pressupõe que ele poderia ter dado certo –, mas um absurdo, um disparate completo. A aparição da lhama que adentra o quadro e vem se juntar de rostinho colado com Diego de Zama não é mais nonsense do que a frase que o capitão diz em espanhol ao índio, afirmando que aquela terra na qual seus ancestrais nasceram e morreram agora pertence a um monarca de além-mar. A sobreatuação de Matheus Nachtergaele não é mais disparatada do que as pesadas roupas de inverno europeu que os colonizadores insistem em suportar no inferno dos trópicos. E se Vazante, em última instância, faz uma viagem turística ao Brasil colonial para conservá-lo como um belo retrato em branco e preto na parede da Casa Grande, Zama intensifica a putrefação do cadáver do colonialismo até que o fedor se torne intolerável. O tom de Shepard descendente que invade a trilha sonora vez por outra, em que pese seu efeito imediato de estranheza irredutível, não poderia ser mais eloquente: uma escala musical que parece descer eternamente – como o mundo de Diego de Zama, que nunca terminou de acabar, nesse fim que se prolonga infinitamente, até hoje, até nós.
Não é um acaso que o pensador mais influente para os cineastas-teóricos do momento áureo do cinema latino-americano seja Frantz Fanon. Birri, Glauber, Solanas/Getino, Sganzerla, todos o invocam com frequência pois uma questão é comum ao filósofo martinicano e aos cineastas do sul: para derrotar o projeto colonial que perdura no presente, é preciso desativar suas formas – suas configurações econômico-políticas, mas também sua linguagem, suas estruturas de pensamento e de percepção. Não por acaso, o manifesto Hacia un Tercer Cine, célebre por sua defesa veemente de um cinema engajado na luta pela liberação (tantas e tantas vezes confundido com uma negação da forma em prol da intervenção direta), começava com uma epígrafe fanoniana nada previsível: “… hay que descubrir, hay que inventar”. Ao decidir encarar o colonialismo de frente, meio século depois, Martel reata com essa tradição sem emular nenhuma de suas formas, mas inteiramente comprometida com o mesmo imperativo da invenção e da descoberta.
O Diego de Zama de Martel faz pensar em Juan Morales, o personagem mítico do roteiro nunca filmado de Glauber, América Nuestra, escrito desde 1965 e que depois desaguaria parte em Terra em Transe, parte nos filmes posteriores, parte na Eztétyka do Sonho. No roteiro-tese, Morales “representa a dualidade intelectual latina entre o romantismo e o racionalismo; o retardamento romântico e a impossibilidade racional o levam a um troca-passo contínuo, cujo resultado é um neo-surrealismo. Eis a tônica estilística da fábula”. Ao comentar esse projeto nunca realizado – como tantos outros entre nós – em A Ponte Clandestina, José Carlos Avellar escreveu: “Neo-surrealismo: a palavra, especialmente se lida em portunhol, especialmente se vista como imagem, representa com exatidão o cinema que Glauber sonhou para a América Latina: neo-sur-realismo, neo-sul-realismo, neosurrealismo do sul”. A refundação do surrealismo a partir das raízes latino-americanas imaginada por Glauber é a tônica estilística do realismo alucinatório de Zama.
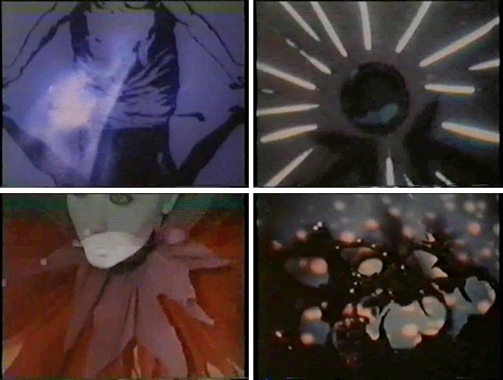
O percurso estético-político de Glauber – da fome ao sonho – é muito semelhante ao de Fernando Birri: da fundação de um cinema “nacional, realista e popular” com Tire Dié (1958), Birri chegaria, vinte anos mais tarde, ao cinema “cósmico, delirante e lúmpen” desse filme extraordinário e ainda mais esquecido que é Org (1978), essa possibilidade grandiosa de inauguração de um cinema estrutural-mítico, abstração irracionalista, formalismo sensual, vanguarda turbinada pelas cosmologias latino-americanas. Org, como escreveu Birri, “é um filme que quer se colocar em relação com o espectador em termos de experiência, de busca de linguagem e de significado, não em um plano racional, mas em um plano visceral, além da razão”. Boa parte dos efeitos de Zama são da ordem de uma energia irracional, de estímulos viscerais que resistem à tentativa de interpretação. Mas se Zama não tem a radicalidade perceptiva de Org, é porque o gênio de Martel é ter introduzido essa outra energia figurativa em uma narrativa alucinante, porém cheia de intriga; em ter conjugado o excesso de percepção à refundação de um cinema narrativo a partir da América Latina. O imperativo de William Blake que surgia como epígrafe fulgurante em meio à desordem formal do início de Org (“o caminho do excesso conduz ao palácio da sabedoria”) é seguido à risca por Martel, mas em outros termos, temperado por um interesse romanesco igualmente potente.
E se a invenção a partir da extrema precariedade do subdesenvolvimento sessentista era o trunfo mais valioso do cinema da época – o dramatismo sem igual da fotografia de Tire Dié conseguido através da filmagem com película vencida, a ausência de som direto que conduz à voz over subjetiva de um morador de rua bêbado em Carlos, Cine-retrato de un Caminante en Montevideo (Mario Handler, 1965) –, Martel produz um épico a partir de meios nada precários, em uma robusta coprodução internacional. Nesse contexto diametralmente oposto, ela demonstra ser, hoje, nossa melhor cineasta tardia, ao tomar as formas gastas do filme histórico e desintegrá-las por dentro: onde se espera uma trilha sonora épica qualquer, ela mete uma peça com ares havaianos do duo cearense de origem indígena Los Indios Tabajaras; onde se espera a beleza íntegra do trópico virgem, ela deteriora malandramente a grandiosidade das paisagens, que mais parecem imagens de fundo de karaokê decadente. A retomada do neo-sur-realismo por Martel é também a invenção de um maneirismo do sul.

Zama merece uma outra comparação: com Twin Peaks: O Retorno (David Lynch, 2017), essa outra enorme empreitada fantástica recente. Se Lynch narra um cotidiano que se tornou tão codificado a ponto de normalizar o insólito (a prosa delirante de Dougie Jones entendida por todos ao redor; suas repetições automáticas que, ao fazer sentido, apontam para a extrema codificação da linguagem comum; a caricatura aparentemente bizarra dos tipos sociais que nada mais é do que a tradução realista da sociedade estadunidense), Martel narra uma ruína insólita que é também a gênese de um mundo latino-americano fundado no desarranjo colonial. Os corpos velhos rejuvenescidos à força em Twin Peaks são a tradução de uma sociedade envelhecida, desesperada por retornar a uma juventude inalcançável; os corpos jovens corroídos pelo envelhecimento precoce, pela fome e pela doença em Zama traduzem um Novo Mundo que já nasce em ruínas, onde a juventude só é possível para aqueles que ainda não fazem parte da importação violenta do Velho Mundo e ainda vivem nus na floresta.

Em Lynch como em Martel, o insólito é da ordem da descrição realista. Mas se em Twin Peaks é a repetição ad nauseam do cotidiano que faz advir o fantástico – Sarah Palmer (Gracie Zabriskie) assistindo o boxe em loop na TV tomada pela gagueira -, em Zama o despautério surge na impossibilidade absoluta da menor ação corriqueira: Diego de Zama vai ao hospital em busca de um médico e se depara com um ritual religioso; Luciana Piñares de Luenga (Lola Dueñas) toma uma aguardente preciosa em uma taça de cristal trazida da Espanha enquanto derrete de calor no espartilho abanada por um escravo. Em Twin Peaks cada ação demora um século, pois só assim é possível sabotar a velocidade da televisão; em Zama cada momento de espera abriga camadas e mais camadas de acontecimentos ininterruptos dentro e fora do quadro, pois só assim é possível contrariar a contemplação resignada do cinema contemporâneo. Se em Lynch é o exagero da banalidade que produz o fantástico – nada mais insólito do que Diane (Laura Dern) tomando uma xícara de café por minutos intermináveis –, em Martel é a exorbitância do desatino colonial que faz com que não haja banalidade possível, pois a imprevisibilidade absoluta se tornou a matéria mesma do cotidiano.
O fim é o princípio: o ocaso sem fim de um mundo – o de Diego de Zama – é a aurora sem início do nosso, esse novo mundo que já nasce em ruínas, fundado sobre o edifício absurdo da colonização. Qualquer iniciativa de retrato do período colonial que só se interesse pelos fatos – e não pelas formas – corre o sério risco de compactuar com a forma soberana da colonialidade. Na cegueira e na surdez do excesso de razão que constitui nosso habitat cotidiano, o insólito acontecimento narrativo e perceptivo que é Zama é mais valioso que qualquer relato histórico que se queira justo. Lucrecia Martel nos ensina a estranhar o passado para que, quiçá, possamos reaprender a estranhar o presente.
Leia também:
- Cinema fantástico, por Eduardo Valente
- Em busca de fissuras – Entrevista com Lucrecia Martel, por Marcelo Miranda
- Estrada para a perdição, por Francis Vogner dos Reis
- David Lynch no Bar do Bob, por André Brasil
- A fita branca, por Juliano Gomes
- Formas da deriva, por Victor Guimarães
- Todo dia é um ato, por Raul Arthuso
