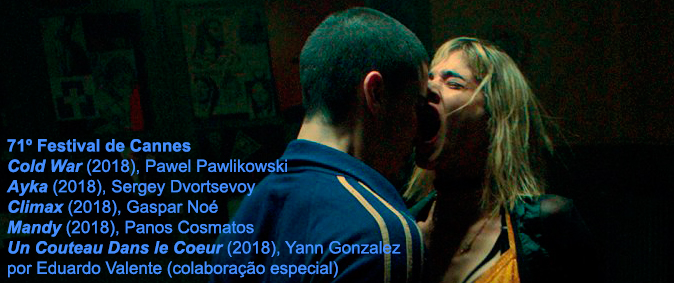Se a expressão “cinema de arte” tem alguma relevância, ela se refere principalmente à possibilidade de delimitar todo um “sistema”, termo aqui entendido como um modelo de exploração econômica e de possibilidade de financiamento de obras que engloba uma série de elos da cadeia do audiovisual, entre os quais os festivais seriam das mais centrais (e o Festival de Cannes, como o maior deles, especialmente) – não cabendo aqui nesse momento fazer nem uma defesa nem uma acusação, mas apenas constatar a sua existência. O curioso nesse sistema é que, de forma não tão distinta a vários outros, para fazer parte dele há muitas maneiras eficazes de atender suas expectativas. Nesses dias finais de festival pudemos assistir alguns filmes que “jogam o jogo” para fazer parte desse sistema, a partir de alguns pontos de partida bastante distintos entre si.
Há, por exemplo, o realizador que atende gentilmente às expectativas do “bom filme de festival”, segundo as distintas leituras contemporâneas desse termo, as quais podem ser variadas conforme é comum num sistema complexo. Um exemplo preciso é Cold War, o novo filme do polonês Pawel Pawlikowski (cujo filme anterior, Ida (2013), jogou tão perfeitamente esse jogo que até o Oscar de filme estrangeiro ganhou). Tudo em Cold War está “no lugar”: desde a coprodução com Inglaterra e França abrindo mercados-chave para financiamento e futura exploração comercial, passando pelo tema “relevante” (não bastando, no caso, a história de amor que narra, mas sim ela estar em precisa consonância com um momento histórico que se reflete em sua dinâmica – no caso, os anos de 1949-1964 na Europa da Guerra Fria do título), até a realização que demonstra maestria técnica/estética (principalmente, mais uma vez após Ida, no uso da fotografia em preto e branco cristalino e com o formato quadrado 4:3 da tela, que emprestam seu aspecto “clássico”). Dessa maneira, não importa tanto que essa história de amour fou pareça gélida e sob controle o tempo todo: o sucesso está garantido no ponto de partida, num exemplar perfeito e renovado do “cinema de qualidade”.
Num caminho distinto, mas perfeitamente complementar, pudemos ver nesses dias Ayka, de Sergey Dvortsevoy, cineasta cujo filme de estreia em longas (Tulpan, 2008) havia ganhado o prêmio principal na mostra Un Certain Regard – o que certamente não atrapalhou em nada a que esse novo trabalho estreasse na competição. Pois Ayka atende perfeitamente, e até mesmo leva a novos picos, algo que corresponde a um novo tipo de classicismo nesse universo do cinema de arte, em especial aquele que passa pelos festivais: uma câmera grudada na sua personagem principal quase durante toda a duração do filme, hiper-realismo de registro, quase sempre acompanhando um périplo de sofrimento e de luta contra… bem, contra o mundo. Como em muitos casos nesse cinema, uma temática maior (nesse caso, o sofrimento dos imigrantes ilegais do Cazaquistão presos entre o medo das autoridades, a prisão do subemprego e a exploração por máfias de agiotas) justifica previamente a “importância” do todo, e o andamento do filme passa a atender esse voyeurismo um tanto doentio de “conhecer como vivem os que sofrem”. Só que, sob a justificativa dessa “realidade como ela é”, fica escondida toda uma dramaturgia da miséria, onde tudo que puder piorar, vai, e todo gesto de qualquer humanidade será punido. Quando dizemos que Dvortsevoy leva isso a novos picos, podemos citar momentos como quando a personagem entra num apertado banheiro e a câmera vai junto, ou quando ela trabalha fazendo faxina num veterinário e a câmera fica um tempo filmando um cachorro que sofre. Tudo isso é difícil de colocar na conta “da realidade”, e sim da tomada do espectador como refém do filme para que se torne mais e mais insuportável, sob a justificativa de que ele precisa “aprender algo” ou decidir pela alienação. No fundo, uma chantagem que os melhores filmes dos irmãos Dardenne (para citar o nome dos que em grande parte deram força maior a esse movimento em tempos recentes) conseguiam evitar, olhando as personagens na altura dos olhos. Aqui, não: Ayka (Samal Yeslyamova) é uma refém, antes de tudo, do filme, depois do destino. Mas, todo esse sofrimento é considerado como algo que “limpa a experiência” dos espectadores de festivais.
No entanto, não é apenas agradando as expectativas mais gerais do momento que se “joga o jogo”, pois o sistema é complexo e multifacetado, como dizíamos. Igualmente funcional é se tornar o enfant terrible, aquele que afronta e cria polêmica – pois esse sistema também se alimenta disso (o retorno triunfal de Lars Von Trier a Cannes neste ano sendo a comprovação mais clara). Ninguém tem seguido esse caminho de forma mais eficaz nos últimos anos do que Gaspar Noé, que teve todos os seus filmes até hoje exibidos em Cannes, não sendo distinto com o mais recente Climax, que teve espaço na Quinzena dos Realizadores. Desde a abertura, com os seus já tradicionais créditos invertidos e a imagem de uma mulher sangrando na neve num plano zenital, Noé indica para onde seu filme vai se direcionar, ainda que ele dê uma volta antes de chegar lá. O plano que introduz as personagens do filme tem a falta de vergonha de ser filmado numa TV de tubo antiga, apenas para que Noé amontoe ao redor da tela desta uma série de livros (Bataille, Oscar Wilde, Cioran, Lotte Eisner, etc) e capas de fitas VHS (Possessão, Querelle, Cão Andaluz, Saló, etc) como quem apresenta credenciais. A partir daí vem o plano-sequência hiper-consciente que empresta inegável energia à experiência de estar na sala ao documentar uma longa apresentação de dança do grupo de jovens que conhecemos na cena anterior. Mas quem conhece Noé já sabe: logo essa energia viva dos corpos será punida e explorada com o máximo sadismo por uma câmera francamente obscena e situações dramáticas em que as personagens farão o pior, e somente o pior, uns com os outros. Épater, diriam os franceses: esse é o limite dos horizontes do diretor.
Nesse sentido parece muito mais interessante a experiência que oferece Mandy, de Panos Cosmatos, que também trafega por um universo de drogas e violência hiper-explícita. Só que, ao contrário do que acontece em Noé, não há o desejo de “denúncia urgente” de uma condição humana contemporânea decadente, nem nada assim: seu lugar no mundo dos festivais é o dos “filmes de meia-noite”, as chamadas “sessões malditas” – um espaço que ele ocupa com gosto. Há a exploração bastante juvenil, em termos de energia, de alguns dos mais antigos prazeres do cinema: filmar coisas que nunca antes foram vistas, ou ao menos que nunca foram vistas do jeito que se deseja mostrar. Mais do que o choque, é o espanto que busca Mandy: a sensação, a cada cena, de que não sabemos (até) onde ele vai nos levar a seguir. Cosmatos, nesse sentido, não tem nenhum receio do over: entre a fotografia que trabalha luzes, cores e distorções como se fosse uma pintura à trilha sonora hiperpresente com seus sintetizadores (última criação do músico Johann Johannsson antes de sua morte precoce), e principalmente num trabalho de atores francamente insano (onde ao melhor Nicolas Cage em anos se soma um Linus Roache demencial). A violência aqui é meio, e não fim em si mesmo, e as propriedades cinéticas da linguagem audiovisual são exploradas ao máximo. Se o choque existir, ele deverá ser prévio: uma recusa ao formato do cinema de gênero, com tudo que ele significa – o que, por incrível que pareça, ainda existe no mundo dos festivais “de qualidade”.
Da mesma maneira existem aqueles que recusam a presença de um filme como Un Couteau dans le Coeur, de Yann Gonzalez, na competição de Cannes, no que pode ter sido um dos poucos gestos mais ousados da seleção do festival nesse ano (de fato, na sessão em que eu estive, uma senhora se levantou e saiu da sala ainda na primeira cena). Gonzalez, de alguma maneira, propõe com esse seu segundo longa uma espécie de inventário de um imaginário queer do cinema – e, não por acaso, a história se passa em 1979 e ao redor de uma produtora de filmes pornô gays. Embora num primeiro momento a forma como a narrativa atrela a pulsão do desejo homossexual com o impulso assassino pareça um pouco automática, aos poucos o filme vai deixando claro que se trata de uma elaborada e sofrida homenagem tanto aos pioneiros de um cinema queer (a presença de Jacques Nolot numa ponta, por exemplo, é significativa) como às próprias gerações de homossexuais que viveram (e vivem, em muitos sentidos) sob o espectro do medo e da violência. Nesse sentido, a forte sequência final, que vem apenas depois dos primeiros créditos finais (sendo quase algo “fora do filme”) tem o peso de uma ode e uma fantasia, triste e encantadora ao mesmo tempo.
É verdade que, na sua forma profundamente referencial e quase paródica (inclusive na relação com o giallo), o filme tem algo de pudico, seja na forma ou mesmo na filmagem do sexo (não se vê nem um órgão sexual no filme todo, por exemplo). Talvez isso ajude a explicar em parte sua seleção, mas é mais provável que ela se deva a um outro fenômeno absolutamente típico do universo dos festivais modernos: a louvação à ideia do autor e a aposta nos que ainda se confirmarão essenciais. De fato, Gonzalez teve um curta e seu primeiro longa já exibidos em sessões paralelas em Cannes, e esse é o longa em que sua produção parece dar “o passo além” (algo bem similar aconteceu nesse ano com o americano David Robert Mitchell, também em competição). É o momento, portanto de colocá-lo sob os holofotes, mesmo que o filme resulte um tanto irregular e disperso: seu estilo pessoal é inegável e o festival claramente acredita que seu nome e obra serão importantes no futuro, e assim ele poderá dizer “nós apostamos nele desde o começo” – o tipo de coisa que tem valor inestimável. É, afinal, o “sistema”.
Eduardo Valente é cineasta, crítico e curador de cinema, formado em cinema pela UFF, com mestrado na USP. Dirigiu três curtas e um longa-metragem, todos exibidos em distintas mostras do Festival de Cannes, entre outros. Foi editor das revistas de crítica Contracampo (1998-2005) e Cinética (2006-2011). Fundador da Semana dos Realizadores (2009), fez curadoria para vários festivais do Brasil. Entre 2011 e 2016 trabalhou como Assessor Internacional da ANCINE. Atualmente é curador do Festival de Brasília e delegado para o Brasil do Festival de Berlim.
Leia também:
- Cobertura do 71º Festival de Cannes (2018), por Eduardo Valente
- O que existe, aparece, por Fábio Andrade
- Vento que sopra do deserto, por Eduardo Valente
- A alteridade está morta; vida longa à alteridade, por Fábio Andrade
- Da cosmética da fome à gentrificação da violência, por Victor Guimarães
- Falso distanciamento e a farsa do poder, por Cléber Eduardo
- De falso remake a filme da Millenium, por Filipe Furtado
- Elogio ao artifício, por Arthur Tuoto