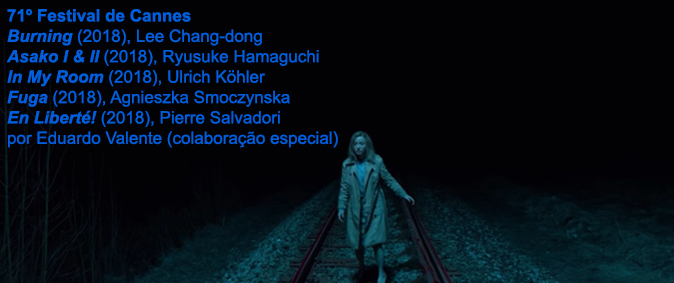A capacidade de emprestar presença a fantasmas e projeções é uma característica comum entre o discurso cinematográfico e o sentimento amoroso, e nos últimos dias as telas de Cannes estiveram especialmente povoadas por histórias ao redor dessas “encarnações”. Na competição, por exemplo, dois filmes asiáticos vieram propor olhares distintos sobre uma juventude “desencantada” e sua necessidade de tentar completar alguns de seus vazios através da projeção do desejo do amor em personagens que surgem repentinamente em suas vidas.
No coreano Burning, novo filme de Lee Chang-dong (o primeiro em quase uma década), encontramos o protagonista Jongsu (Yoo Ah-in) já praticamente no momento em que ele é interpelado na rua por Haemi (Jun Jong-seo), uma conhecida de velhos tempos que mudou suas feições com uma cirurgia plástica (ou pelo menos é o que ela diz, porque logo descobriremos que as narrativas dela podem ser mais ou menos conectadas com fatos reais). Entre outras coisas, Haemi estuda a arte da pantomima e, como explica a Jongsu, nessa prática importa menos que algo esteja ou não presente, e sim que se acredite nessa presença. Jongsu logo vai levar essa sugestão para si, e projetar em Haemi a energia que pode alterar sua apatia, uma vez que no resto da sua vida não encontra nenhum porto comum em que se basear: sua mãe abandonou a família quando era criança, seu pai foi recentemente preso por um acesso de raiva em que atacou fisicamente um funcionário público, ele sonha em ser escritor enquanto trabalha com entregas. Na TV, notícias do desemprego que cresce entre os jovens coreanos, e da posse de Donald Trump nos EUA.
Baseado num conto do escritor japonês Haruki Murakami, Burning poderia facilmente ser um desses exemplos de “cinema conceitual” no qual aquilo que se deseja que os personagens representem nunca efetivamente se transforma no foco do drama na tela, mas boa parte da força do filme vem justamente da maneira como Lee Chang-dong consegue trabalhar a dinâmica de seus atores com a câmera. Especialmente, também, um jogo de ritmos entre elipses e cortes na montagem que permite o acesso com muita densidade ao sentimento de mundo de seu personagem principal, que guia o filme. Isso se torna particularmente efetivo com a entrada em cena da terceira personagem importante do filme, Ben (Steven Yeun), que vem somar ao drama afetivo um componente de classe bastante forte. Ben é uma presença fantasmática por natureza, um personagem que parece flutuar pela vida sem se deixar realmente tocar por nada, e a partir do encontro com ele as coisas saem de controle. É o momento em que desaparições e projeções viram o centro mesmo do filme, até seu final bastante dúbio – libertador ou desesperado, dependerá do que o espectador quiser projetar ali.
Por sua vez, Asako I & II começa por um encontro tão repentino quanto, e ainda mais irreal, do que o filme de Chang-dong. Mas duas diferenças frontais: aqui a protagonista é a mulher, a Asako (Erika Karata) do título, e esse encontro já acontece sob o anúncio da sua futura desaparição (“eu costumo desaparecer”, avisa Baku). Toda a primeira parte do filme transpassa então o sentimento do transitório e do amour fou. E quando Baku (Masahiro HIgashide) efetivamente desaparece (aqui as elipses são ainda mais radicais que em Burning, e logo no começo do filme avançamos primeiro seis meses, e em seguida cinco anos), o filme recomeça para sua personagem e para nós todos.
Este recomeço não é a única característica do filme do japonês Ryusuke Hamaguchi que faz pensar no cinema de outro coreano, Hong Sangsoo. Assim como neste último, as personagens parecem reencarnar em corpos ou identidades variadas, assim como a nossa protagonista vive duas vidas alternativas (daí o I e II do título). No entanto, paira por sobre ela, e todo o filme, o sentimento de que aquela primeira vida vai finalmente se chocar com a nova, e quando isso acontecer é bastante imprevisível o que virá. Asako terá que decidir se prefere viver algo real ou projetado/idealizado, ou em última instância se o real efetivamente existe ou seria apenas um outro tipo de projeção. Como os amores do passado nos assombram a vida toda, e o quanto pautam as relações que estabelecemos depois? No final, Asako e aquele com quem ela escolhe viver olham para o rio na frente de casa: seria ele bonito ou sujo? De novo, assim como em Burning, a decisão vai caber ao espectador.
Enquanto Jongsu e Asako enfrentam essas dúvidas, é natural na forma como são filmados pelos realizadores que partilhemos a sua experiência de mundo. Bastante mais desafiadora parece a opção tomada pelo alemão Ulrich Kohler e a polonesa Agnieszka Smoczynska em seus filmes, ao nos fazer acompanhar protagonistas franca e sabidamente desagradáveis, que estão na tela praticamente durante o filme todo. No caso de In My Room, dirigido por Kohler, seu protagonista masculino já é introduzido numa cena patética mostrando sua efetiva desconexão do mundo no momento em que o filme começa. Daí por diante, a cada cena subsequente ele parece descer mais baixo até que um acontecimento traz a morte para dentro do filme, que mergulha inesperadamente numa via fantástica que lembra alguns episódios da série Além da Imaginação. Leva um tempo para que nós (assim como a personagem) nos adaptemos a essa nova realidade, e será o surgimento de um objeto amoroso que estabelecerá essa possibilidade. No caso, é radical a necessidade de inventar uma forma de estar no mundo a partir desse encontro, mas ao contrário dos exemplos asiáticos acima nunca conseguimos exatamente embarcar na radical proposta de reinvenção que o filme corajosamente propõe. Acompanhamos essa narrativa a uma distância ao mesmo tempo segura e sem nos afetar, o que não é o lugar ideal para estar frente ao radicalismo da proposta.
Já no caso do filme da polonesa Smoczynska é da falta de memória que se trata, ao acompanharmos a volta para casa de uma mulher que passou dois anos retirada do mundo em um trauma amnésico, e que não se lembra nem do marido, nem dos pais, nem mesmo de seu filho de 5 anos. O filme acompanha esse processo de retorno em que todos precisam se reinventar naquela casa, e se colocam as perguntas acerca da possibilidade ser uma mãe ou uma mulher ou uma filha sem ter memórias em comum com as pessoas. A diretora consegue criar algumas cenas fortes (uma particularmente, em que casais dançam embriagados), e a protagonista nos impõe sua presença irredutível na decisão de confrontar todos aqueles à sua volta. No entanto, algo na filmagem excessivamente milimétrica e no uso da banda sonora indica um controle do nosso olhar que não chega a se irmanar com o que passa na tela. Aqui, ao contrário de Kohler, a distância que assumimos não vem daquilo que vemos, mas sim de como o que vemos nos é mostrado. Nos dois filmes não chega a ser surpresa que o final não tenha como ser partilhado pelas personagens na tela, mas é uma questão difícil que não seja partilhado conosco também, como sentimento.
Finalmente, na Quinzena dos Realizadores foi exibido um exemplar do gênero mais incomum de filme num festival importante como Cannes: a comédia desbragada. En Liberté! parte de um pressuposto a princípio muito afeito a um registro dramático: após a morte do seu marido e colega de trabalho de oito anos, a policial Yvonne (Adèle Haenel) descobre que ele não era a pessoa que ela acreditava ser. O jogo de reinvenção pós-morte dessa identidade do companheiro é explorada no máximo do seu efeito cômico pelo roteiro de forma muito inteligente, projetando a decepção inicial da protagonista num triplo movimento: a construção constantemente em movimento da memória mais ou menos heroica desse pai para o filho dela; a sua obsessão com a restruturação social de um homem que havia sido preso injustamente pelo morto; e finalmente o novo amor da policial com o padrinho de seu filho. Embora em muitos momentos explore bastante os complexos enredamentos entre as três instâncias narrativas, a forma como estrutura-se o jogo de invenção e recriação da imagem de um possível amor faz dessa uma daquelas raras comédias em que o que realmente nos move não são as situações em si, e sim as personagens e suas construções/reações, que nos deixam engajados o tempo todo (e rindo, o que é mais importante). Ao final, fica a frase de uma das personagens (que evoca o final de Asako): “foi mentira, mas foi bonito” – e de quanto da vida não se pode dizer isso?
Eduardo Valente é cineasta, crítico e curador de cinema, formado em cinema pela UFF, com mestrado na USP. Dirigiu três curtas e um longa-metragem, todos exibidos em distintas mostras do Festival de Cannes, entre outros. Foi editor das revistas de crítica Contracampo (1998-2005) e Cinética (2006-2011). Fundador da Semana dos Realizadores (2009), fez curadoria para vários festivais do Brasil. Entre 2011 e 2016 trabalhou como Assessor Internacional da ANCINE. Atualmente é curador do Festival de Brasília e delegado para o Brasil do Festival de Berlim.
Leia também:
- Cobertura do 71º Festival de Cannes (2018), por Eduardo Valente
- Sem limites para sofrer – e resistir, por Cléber Eduardo
- A dor da criação, por Fábio Andrade
- Europa, espaço não-concreto, por Filipe Furtado
- O nascimento de um universo, por Fábio Andrade
- Encontros e desencontros, por Raul Arthuso
- O corpo que ri, por Fábio Andrade