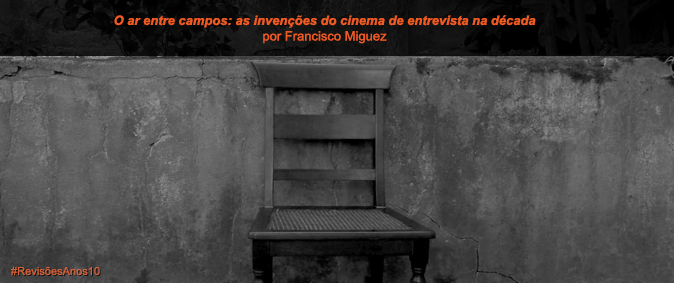Por onde andou o cinema de entrevista brasileiro na última década? O que aconteceu depois da morte de Eduardo Coutinho em 2014? O que se deu depois que ele, que subiu um edifício dedicado a esse cinema, decidiu dinamitá-lo, em partes, nas vigas e colunas que o deixavam de pé, sobrando afinal as paredes esburacadas e bambas, bem ao seu gosto pelo imperfeito, o impuro, o momentâneo, o passageiro?
A partir de Santo Forte (1999), Coutinho se dedicou a filmes estruturados pela sequência de personagens falando para ele, o interlocutor atrás da câmera, a partir de dispositivos espaciais ou temporais que as juntavam contingencialmente. Então Jogo de Cena (2007) “abala as estruturas do cinema baseado na fala”, como escreveu à época Jean-Claude Bernardet, ao separar a voz do corpo que fala. Já em As Canções (2011), ele reincorpora a voz, mas agora através das vozes de outros. Em Moscou (2009), a entrevista entra de soslaio, entre jogos de atuação e autoficções. Uma investigação que se desdobra na fase tardia de Coutinho, e sobre a qual muita gente já se dedicou, por exemplo no catatau amarelo de textos sobre sua obra, organizado por Milton Ohata (também conhecido como Eduardo Coutinho, lançado pela Cosac Naify em 2013).
Menos interessa ver nesse percurso uma narrativa do disruptivo, do culminante ou do fim de alguma coisa, mas notar que o trabalho exaustivo de Coutinho através da entrevista o levou a novos problemas a cada filme. Uma trajetória de dobras reflexivas, em que o método é constantemente colocado à prova, ao retorcer pressupostos de unidade entre vivido/narrado, corpo/fala, autêntico/falsificado e desestabilizar posições fixas de interlocutor e personagem.
Para ficar só no recorte do cinema brasileiro contemporâneo pós década de 1990, Coutinho não é referência única, e a contribuição aos usos inventivos da entrevistas deve também a realizadores como Cao Guimarães, Andrea Tonacci, Sandra Kogut, Maria Augusta Ramos, Cristina Grumbach, Carlos Nader, João Moreira Salles, Eduardo Escorel, entre outros, e está bem documentada por Consuelo Lins e Cláudia Mesquita no livro Filmar o Real de 2008.
Vale ainda considerar que o cinema brasileiro não é um circuito fechado, e que as exibições de cinema estrangeiro colocaram-nos em contato com, por exemplo, Abbas Kiarostami e o cinema iraniano, que tanto tem a conversar com o cinema brasileiro, nas tradições do realismo, do documentário, e também do inventivo e do reflexivo. Kiarostami, o maior truqueiro dos realistas, nos ensina que é possível fazer um documentário de entrevistas e depois trocar todas as pistas de áudio do entrevistador e substituí-las por um ator, montando uma sequência de diálogo em campo e contracampo entre duas pessoas que nunca se viram, como fez em Gosto de Cereja (1997).
A entrevista sempre esteve aí, e não é uma invenção do cinema. É imprópria à “linguagem cinematográfica”, sendo seu uso feito no jornalismo, em toda sorte de programa midiático, na etnografia, no censo demográfico, e faz as vezes de pão-pão-queijo-queijo do documentarismo.
Um automatismo do “sistema de entrevistas” no documentário é notado por Bernardet desde os anos 1990 no apêndice “A entrevista” da segunda edição do Cineastas e Imagens do Povo (2003): “Não se pensa mais documentário sem entrevista, e o mais das vezes dirigir uma pergunta ao entrevistado é como ligar o piloto automático”. A entrevista é talvez uma espécie de “unidade mínima” de relações intersubjetivas mediadas por dispositivos de captação, capaz de instaurar condições situacionais para produzir dramaturgias, naquilo que oferece como parâmetro relacional e possibilidade de jogo com convenções. A palavra entrevista, interview, entre vistas, entre dois olhares, o ar entre duas pessoas, entre um campo e um antecampo. Enfim, a entrevista é feita a dois, menos ainda que o triângulo de um plano/contra-plano.
Esboço aqui uma continuidade, a partir mais ou menos de onde parou o livro de Lins e Mesquita, observando as proposições ao uso da entrevista nessa década que passou. O que se fez desse prédio bambo desde então? Vivemos talvez um ciclo de ressaca de Coutinho, de sua importância na crítica, um cansaço do seu modelo? O que fazer depois de tantas torções? Ou melhor, para sair da conversa sobre estilo, quais foram os gestos inventivos da entrevista na última década e como contribuíram para pensar os usos desse procedimento para além do “piloto automático” de seu setup de cena dado?
Quem filma e quem é filmado? Problemas para o “outro de classe” em Pacific (Marcelo Pedroso, 2009), Um Lugar ao Sol (Gabriel Mascaro, 2009) e Doméstica (Gabriel Mascaro, 2012)
A obra inicial no documentário de Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso trabalhou práticas dos chamados “sistema de entrevistas”, dos filmes-dispositivo e de apropriação. Através de estratégias de infiltração – como sugeriu Mariana Souto -, de pactos tensos e ambíguos com quem filmam, colocam à crítica e à teoria novos problemas com relação à noção de “outro de classe” presente nas historiografias do documentário brasileiro. Pacific faz um readymade a partir de registros de viagem de turistas em um cruzeiro. Um Lugar ao Sol entrevista moradores de coberturas pelo país, e faz da entrevista um ordenamento estruturante com semelhanças à lógica de Coutinho. Mas, neste último, o dispositivo de delimitação é menos espacial em termos físicos e geográficos e mais arquitetônico e social, no sentido de que o tipo de moradia marca uma posição de classe e um ponto de vista sobre a cidade, num duplo sentido entre o espaço físico da onde se vê e onde se conformam suas visões de mundo.
São filmes que botam a posição ética do realizador em perigo. No primeiro, como desviante dos fins de um material produzido por terceiros, ao juntar gravações de turistas e dar forma a um retrato do consumo e do lazer das férias no cruzeiro de uma classe média assalariada. No segundo, como traidor do pacto entrevistador-entrevistado, jogando com assimetrias de classe e a possibilidade de infiltrar uma câmera em suas casas já tão vigiadas, para capturar suas intimidades e ideias, e muitas vezes as contrariando na estrutura da montagem.
Mais ainda, o filme que faz o gesto mais arriscado com a relação ao problema das igualdades e diferenças entre filmador e filmado e às noções do “outro de classe” é Doméstica. O gesto polêmico pode se resumir à sinopse. Filhos dos patrões e patroas filmam o cotidiano e entrevistam as empregadas domésticas que trabalham há anos em suas casas. Em mais um dispositivo de infiltração, o olhar é confiado aos adolescentes, um deslocamento do patrão, que atravessa a relação empregatícia com funções de maternidade. Assim, o filme enfrenta de forma inédita o tema da exploração familiar tão marcadamente colonial, bem distante da identificação pela representação de Domésticas (2001, Fernando Meirelles e Nando Olival) ou Que Horas Ela Volta? (2015, Anna Muylaert). Por uma marcação social que se confunde com o ponto de vista do filme, tensiona-se o pacto do que pode ser dito e perguntado. E também, do que não se diz como revelador dessa relação mediada por contratos empregatício-familiares, e agora também pelo filme.

Assim como em Um Lugar ao Sol, a delimitação do dispositivo é de classe, ao mesmo tempo que descreve o espaço onde se dá a cena de classes. No primeiro, o espaço de moradia é ponto de vista e visão de mundo. No segundo a moradia se confunde com o espaço de trabalho, dentro da propriedade do patrão. O filme se empresta aos olhos do filho do patrão, na duplicidade do cruel afeto que obriga essas trabalhadoras a passarem mais tempo com esses filhos do que com os seus próprios. Ao mesmo tempo, terceiriza o trabalho de filmagem aos menores de idade, para filmarem pessoas empregadas por seus pais que, entre outras tarefas, tomam conta dessas crianças há anos. Apontar a câmera para a elite proprietária de coberturas e instaurar a dinâmica de classe no próprio modo de fazer do filme são golpes cortantes na historiografia brasileira do “outro de classe”.
Esse termo, “outro de classe”, por vezes sugere transferir o degrau da diferença a quem é filmado, mas também lança de volta a pergunta sobre quem filma enquanto “outro de classe”. Por várias razões, esse “outro que filma” é uma figura menos fixa no Brasil do que historicamente já foi, principalmente por conta de movimentações sociais amplas e do momento de políticas públicas e ampliação das universidades federais de cinema na década e meia de governos do PT. A mudança no quadro social, racial e de gênero que se viu nas gerações da última década do cinema brasileiro coloca ainda mais acontecimentos a se considerar. Está por ser feito o filme em que o empregado pergunta o que quiser para o patrão?
Investidas pelo desconforto: Os Dias com Ele (Maria Clara Escobar, 2013) e Retratos de Identificação (Anita Leandro, 2014)
Há no Brasil e em outros países da América Latina toda uma filmografia de obras de filhos da geração das ditaduras – o que se convencionou chamar de segunda geração. São filmes que pensam a herança da geração dos pais, não sem atritos, onde o espaço da família vira campo para o desentendimento afetivo e histórico, que desestabiliza a memória dos militantes enquanto lugar de fala inequívoco. Obras onde a segunda geração faz visível sua percepção sensível face à vida militante dos pais, em que suas figuras geralmente são pensadas a partir da instância de uma “ausência presente”, no conflito entre militância e família e um passado irreconciliável.
Se a geração dos filhos se identifica com ou confronta o passado familiar, o que se vê nesses filmes é uma problemática entre dimensões públicas e privadas da dor, onde o que se coloca em jogo é uma mobilização, através dessa relação pais-filhos, do passado no presente e vice-versa. São trabalhos que operam no esforço em elaborar um passado silenciado ou traumático, mas através do presente da relação. Essa elaboração ganha força na medida em que não se dá por uma continuidade geracional, mas justamente pela diferença. Afinal, o trabalho da memória não é hereditário, natural ou mesmo compulsório.
Os Dias com Ele marca de maneira decisiva essa postura, ao colocar em cena uma constante disputa pelos caminhos do filme, as formas de encenação e o desentendimento sobre a memória privada e pública. Duas cenas, colocadas lado a lado, exemplificam bem como isso se dá. A primeira é a cena em que o pai de Maria Clara, o dramaturgo e militante Carlos Henrique Escobar, está sentado em sua escrivaninha, em frente à sua estante de livros, e declama para a câmera um discurso que teria feito em 1968, condenando traições políticas de Ferreira Gullar e convocando os companheiros à histórica Passeata dos Cem Mil. A frontalidade da câmera permite que ele forje uma plateia imaginária no antecampo, com quem dialoga e fantasia perguntas a si mesmo. Maria Clara é solicitada a perguntar sobre a possibilidade do assassinato de Euclides da Cunha pelos militares, e a duração dos planos na montagem se alonga para além dessa mise-en-scène, deixando à mostra as direções de Carlos Henrique, sua teatralização da memória e sua percepção do filme de Maria Clara, interessado em criar um “efeito” para sair da “monotonia”, como ele sugere a ela.
Um pouco adiante, Maria Clara pede ao pai que leia o documento de mandado de sua prisão. Ele se recusa a ler a “burocracia deles”, a “coisa morta”. A cadeira preparada para a cena permanece vazia, e os ouvimos fora de quadro discutindo se o filme é sobre ele ou ela, sobre “papai” ou sua história, que ele acha que ela não conhece bem. Ao fim da discussão, Maria Clara senta na cadeira com o gravador de som e lê o documento, contrariando o entendimento que ele forçara logo antes, e encenando esse desacordo. São duas cenas em que o uso da entrevista se dá pela instabilidade do pacto entre entrevistador e entrevistado, no desentendimento entre a encenação e a teatralização da memória. Em que a montagem deixa as pontas daquilo que estaria fora do roteiro de perguntas e do espaço da cena, dando ao filme essa forma entremeada e disputada, em que a autoconsciência do retratado sobre si mesmo vaza para dentro da imagem e do som, deixando entrever as camadas entre “pais e país” para além da adesão pura e simples do relato filmado.

Vale dizer que essa tarefa de memória não se fez apenas através da mediação familiar, e Retratos de Identificação, da diretora e professora da UFRJ Anita Leandro, faz propostas metodológicas para o cinema interessado no testemunho histórico. A partir da descoberta de um arquivo dos chamados retratos de identificação da prisão e tortura de militantes políticos no Rio de Janeiro, se remontam os atos da repressão e tortura sobre Maria Auxiliadora Lara Barcellos e dois outros militantes da VAR-Palmares, confrontando pelo arquivo os laudos oficiais da ditatura militar. Ela opta por não fazer perguntas, e sim colocar os entrevistados em relação com os arquivos que traz em mãos. Ela bem teoriza sua metodologia no texto “Testemunho filmado e montagem direta dos documentos”: “A partir do momento em que a testemunha tem como principal interlocutor o material de arquivo, a fala passa a circular de outra maneira. Contemporâneos um do outro, vestígios de uma mesma história e cúmplices de uma experiência comum, testemunha e documentos se complementam mutuamente no fortalecimento de suas falas respectivas. A fala dos documentos é muda e necessita de uma fala viva que a torne audível.”
Os dois entrevistados foram companheiros militantes e amorosos de Maria Auxiliadora, e não conheciam aquelas fotos. O arquivo “ressurge como um vestígio ainda vivo de um passado aberto à significação e não como uma ilustração de um fato histórico acabado”. Torna-se um objeto em relação que a um só tempo dá a oportunidade de o entrevistado descrever o dispositivo policial que o produziu e também de desconcertar a elaboração que repetiu para si mesmo e para outras tantas entrevistas que já deu sobre os ocorridos, ao compartilhar, no momento presente junto ao documento, os rastros da história.

Sutis Interferências (Paula Gaitán, 2016) e um “rosto quase seu”
Sutis Interferências faz parte dos retratos filmados que Paula Gaitán produziu nos últimos anos, em uma inflexão nos seus modos de produção, na qual passou ela própria a operar a captação de imagem e som, montar e fazer o desenho sonoro de alguns de seus filmes. Como Ostinato (2021), com Arrigo Barnabé e É Rocha e Rio (2020) com Negro Léo, Paula Gaitán faz o filme junto aos músicos, trança conversas sobre essa “vontade de mexer com o ar” e experimenta com estruturas musicais e traduções entre linguagens.
No escuro da imagem de Sutis Interferências, ouvimos Arto Lindsay dizer que não quis trazer a guitarra, e então Gaitán lhe lança palavras, ao invés de perguntas. Ela diz que fala demais, Lindsay diz que está começando a notar isso, se desafinam cada um com sua ironia. Vemos algumas não tão sutis interferências de montagem: o som de fala sem imagem, o rosto que fala sem som, citações, refilmagens e alterações de velocidade.
A palavra é trabalhada também como ruído. Paula e Arto são duas figuras estrangeiras, o português não é sua língua materna. Eles se comunicam aos trancos, ele com um senso de humor felino, ela com vários giros em sua fala. Paula fala mais do que o senso comum do entrevistador documentarista indica e não suprime sua prolixidade na montagem, incluindo o trecho em que ri de si própria por falar demais. Fala sobre silêncio, enquanto fala sem parar. Na medida em que se expõe dentro do filme, deixa o entrevistado em silêncio, em estado de escuta, em alerta ou dispersão, ansioso ou entediado.
Depois de trinta minutos de performance e ruidagem de Lindsay, voltamos à entrevista. A mão da montagem de Gaitán então sobrepõe duas vozes do músico respondendo à pergunta “por que música?”. A dobra da voz desencontra, preenche as pausas, cruza os assuntos, confunde a atenção. Tira da palavra seus sentidos e a torna som. A boca e a voz de Arto se encontram em sincronia finalmente, a quase uma hora de filme, quando Paula lhe lança a palavra “ruído”. A polifonia cessa, uma nota longa preenche o silêncio. “O ruído é parte do som que ainda estamos aprendendo a organizar”.

Sutis Interferências faz experimentos com a voz e o ruído, na sua violência e no seu prazer. “Atravessar o furacão” diz Paula, e chegar no olho dele, no prazer em meio a violência, do volume alto que junta a música de vanguarda com trio elétrico. O desalinho entre a pista de imagem e a de som funciona como procedimento musical, dispondo os elementos em composição, como contrapontos, simultaneidades e repetições. Ela filma a tela e fraciona a imagem em movimento, cria as “imagens mentais” que tenta explicar a Arto mas que ele “não entende muito bem”; faz a sinfonia submersa, subliminar, de imagens e sons, de onde brotam as pontinhas e ilhotas visíveis e audíveis.
A montagem repete o plano da entrevista que ouvimos aos pedaços e fora de ordem anteriormente, em um tipo de estrutura que também lembra procedimentos musicais. Ela primeiro pontua fragmentos desunidos como vozes dispersas, experimenta com a ordem das peças, para depois introduzir o plano na integralidade, no encontro entre elementos. Como se desmembrasse seu material em vários pedacinhos e fizesse uma colagem, para retomá-los em sincronia, como temas de uma sinfonia. A partir dessa percepção de todo, reelabora algo sobre toda a estrutura, e reorienta o encadeamento do que é dito. Paula Gaitán experimenta em seus retratos uma troca falada, ao colocar a si em conversa e o entrevistado em escuta. Mas também, se lança a traduções formais através de seu diálogo de montagem com a obra do retratado. Há aí um deslocamento da lógica do relato biográfico que não supõe a extração integral, transparente, “definitiva” do retratado e de sua obra, mas de uma lógica do fragmento mediada pelo manuseio de Paula, da mão que “mexe com o ar” como no plano final, do encontro não apenas do “aqui e agora” da filmagem, mas como um trabalho de segunda mão sobre o trabalho do outro, e – como lembrou Juliano Gomes com a música Alviverde – lhe presenteando com “um rosto quase seu“.
Autofabulação e performance da memória no cinema de Gustavo Vinagre
Alternando curtas e longas e modos de produção mínimos e rápidos, o trabalho de Gustavo Vinagre usa da entrevista nos seus filmes para fazer retratos de amizades e conhecidos, que compartilham da sua vida pessoal e de uma experiência gay e queer em São Paulo, conjugados a variados dispositivos de encenação e performance. Em Nova Dubai (2014), o próprio Gustavo com um amigo buscam por transas em uma cidade do interior de São Paulo em processo de metropolização. Esses encontros dão espaço para vários personagens contarem de si e formarem uma paisagem de experiências e sexualidades, ao mesmo tempo em que encenam o sexo de maneira frontal e também violenta. Nesse jogo com o formato da entrevista, se misturam conteúdos e registros, em que os personagens compartilham desde tentativas de suicídio a inúmeras sinopses de filmes de terror; relatos de transas casuais e outros desejos.
Lembro Mais dos Corvos (2018) é feito em diálogo com a atriz e diretora Julia Katharine, que também assina o roteiro com Vinagre. A estrutura do filme é mínima: Katharine conta episódios de sua vida para seu amigo Gustavo ao longo de uma noite em seu apartamento. A câmera se mantém quase que sempre de um mesmo ponto, variando ângulos e proximidades, só saltando ao fim para o nascer do sol, quando a atriz encerra as filmagens. De modo geral, é um filme mais estável no registro do relato, ainda que a autoconsciência de Julia nos lembre em vários momentos dos gestos da fabricação de sua memória. O vinho ao longo da madrugada e o atravessamento da amizade pelo momento da filmagem produzem instabilidades na conversa que aparecem na montagem. Uma configuração de filmagem que lembra muito Portrait of Jason (1967, Shirley Clarke), em que Jason é um contador de histórias ininterrupto, e somado ao álcool no decorrer das horas, levanta intrigas sobre o que conta.
Em A Rosa Azul de Novalis (2019), essa passagem entre o relato e a teatralização da experiência se dá dentro de um mesmo plano. Marcelo, um tipo dândi com peculiaridades intelectuais e fetiches vários, conta da morte de seu irmão. Quando lhe perguntam como ele morreu, a câmera desliza de seu rosto para a esquerda e enquadra a cena de um funeral, com um caixão envolto de mulheres enlutadas, emolduradas por um vitral iluminado. Ato contínuo, ele entra na cena e prossegue com o relato. Além das namoradas, Marcelo conta ter sido a primeira transa do irmão, e que transaram por meses. Ele então beija o morto em um close, enquanto conta que sua mãe teria pela primeira vez se preocupado com ele ao invés do irmão. Do corte, ele volta ao relato, jogando com a convenção do corte que se confunde com um despertar para consciência, como uma moldura do devaneio. E ainda faz piada: “Você acha bom entrar na minha cabeça? Eu sou bem complicadinho, hein?”

O contraplano da entrevista ou o que é diálogo?, em Sete Anos em Maio (Affonso Uchôa, 2019) e no cinema de Lincoln Péricles
Desde A Vizinhança do Tigre (2014), Affonso Uchôa trabalha dispositivos híbridos de reencenação e jogos de cena que experimentam com o relato e a performance, junto a seus atores-personagens na região de Contagem (MG). Em Sete anos em Maio, Uchôa e Rafael dos Santos Rocha experimentam três registros de encenação em torno de um mesmo acontecimento: a prisão arbitrária do personagem após a polícia forjar um flagrante com drogas. Primeiro, nos contornos da ficção, se reencena o momento da emboscada, em uma decupagem paralela com o ponto de vista dos policiais até encontrá-lo. No segundo momento, o mesmo acontecimento é contado através do relato, e no terceiro em um jogo físico de “morto vivo”, completando um trio que elabora sobre a representação e narração da violência.
Na segunda parte, o Rafael fala por mais de quinze minutos sem corte, e descreve como a polícia forjou sua prisão, o torturou, aterrorizou sua família, e as consequências desse acontecimento na sua vida. A essa altura, está estabilizado, enquanto recepção, o registro do relato contado para um antecampo indefinido. E então, do corte, se revela um interlocutor no contraplano, que o escuta e o responde. Em outro registro de fala mais marcadamente literário, comenta a situação ao mesmo tempo que a coletiviza, fazendo do reconhecimento do relato que ouviu o reconhecimento de si e de muitos outros, enquanto jovens negros nas periferias brasileiras perseguidos sistematicamente pela polícia. Esse corte divide a experiência e nos joga do regime de recepção da entrevista para a forma dialógica como convenção, reconfigurando o pacto de crença estabelecido até então, que assumia a verdade do relato e não supunha as possibilidades da ficção.
O que faz da entrevista reconhecível como tal e discernível de outras formas conversacionais e dialógicas? Esse “registro da entrevista” convencionado supõe uma pessoa que fala para um interlocutor fora de quadro, olhando à direita ou esquerda de quadro. Em geral, esse setup cria para o espectador um antecampo neutralizado, um interlocutor indeterminado, que inclui o espectador como confidente e legitima o relato como uma verdade. Com esse corte depois de tantos minutos de fala, a montagem trai esse pacto, ao precisar um interlocutor e excluir o espectador do canal de confidência. Ao mesmo tempo lembra que a entrevista é conversação, uma forma dialógica. É um campo que presume um contracampo.

No Capão Redondo, em São Paulo, Lincoln Péricles compartilha desse olhar sobre a juventude das periferias das grandes cidades, elaborando ainda outros entrelaçamentos entre modos de fazer e uma política do retrato. Trabalhando a dessincronia de som e imagem como método, ouvimos relatos de personagens do Capão e de Itaquera, muitas vezes falando de trabalhos precarizados e perspectivas de melhora abortadas. Na imagem, a câmera transita pelo bairro e cartografa as ruelas, interiores de casas, vistas das janelas, escolas, ônibus, conjuntos habitacionais. Falo, em linhas gerais, de Enquadro (2015), Filme de Aborto (2016), Ruim é Ter que Trabalhar (2014) e Aluguel: o Filme (2015). Como nos sugeriu Maria Bogado, há aí uma escuta ativa de Lincoln, que, ao portar apenas um gravador de som para a conversa, possibilita que seu interlocutor possa falar fora da mira da câmera. Nesse gesto, o relato é descorporificado, nos propondo, através dessa pedagogia da dessincronia e da montagem vertical, formas de retrato que não descrevem a situação de pobreza através da identificação e individualização, e sim através de vozes que se misturam com o espaço, de uma percepção coletiva e compartilhada da coisificação da exploração do trabalho e como ela incide naquele território, no seu desenho arquitetônico, na materialidade da cidade e nas perspectivas de vida dos que ali vivem. Bogado lembra também do título de Entrevista com as Coisas (2015) como uma formulação do método de Lincoln, desconcertando ainda mais as noções de retrato e de paisagem.

***
Os gestos são vários e merecem ainda esforços mais amplos que tracem linhagens estéticas e historiográficas. Dá ainda para lembrar de Dildu de A Cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2013) em sua campanha de um homem só, conversando com as pessoas na Ceilândia. E daí pensar em uma linhagem de personagens ficcionais interventores no mundo documental, e como esse percurso se relaciona às estratégias de Antonio Pitanga em Câncer (Glauber Rocha, 1968-72), interpelando passantes na rua; ou às de Paulo César Peréio entrevistando figuras à beira da Transamazônica em Iracema (Orlando Senna e Jorge Bodanzky, 1974).
Esse ensaio é uma tentativa de mapear o procedimento da entrevista como prática inventiva no cinema brasileiro da última década, que encontra muitos outros exemplos e variações para além dos aqui citados. E também, como as propostas dessa década adicionaram ideias e práticas após o legado de Coutinho e outros experimentadores da entrevista. Com o desejo de inscrever esse texto em uma discussão maior sobre as práticas documentais e o hibridismo com a ficção, vale aqui reportar essa discussão ao trabalho continuado de Consuelo Lins, Anita Leandro, Ilana Feldman, Ivana Bentes, Jean-Claude Bernardet e muitas outras pesquisadoras e pesquisadores das universidades públicas brasileiras. Também, vale saudar que muitas das observações aqui anotadas sumarizam discussões vivas com colegas dessa revista.
O estudo dos usos inventivos da entrevista passa aqui por um enfoque no momento da realização e nas estratégias de direção e equipe que constituem a relação daqueles que filmam com aqueles que são filmados, em que a transmissão verbal ganha um potencial situacional. Também, considera figuras de mediação e artifícios de decupagem e montagem, observando como essas estratégias sobrepõem diferentes lógicas narrativas e deslizam – ou se chocam – entre diferentes registros de linguagem e recepção. São articulações entre os modos de fazer e as experiências de recepção que ainda tornam a entrevista uma estratégia simples, de encontros imprevisíveis.
Leia também:
- Uma aprendizagem: prosa sobre Sete Anos em Maio e Vaga Carne, por Calac Nogueira, Francisco Miguez, Ingá, Júlia Noá, Juliano Gomes, Victor Guimarães
- A astúcia da impropriedade nos filmes de Lincoln Péricles, por Maria Bogado
- Os Dias com Ele, de Maria Clara Escobar (Brasil, 2013), por Raul Arthuso
- Doméstica, de Gabriel Mascaro (Brasil, 2012), por Fábio Andrade
- Ostinato, de Paula Gaitán, por Ana Júlia Silvino
- Retratos de Identificação, de Anita Leandro, por Luiz Soares Júnior