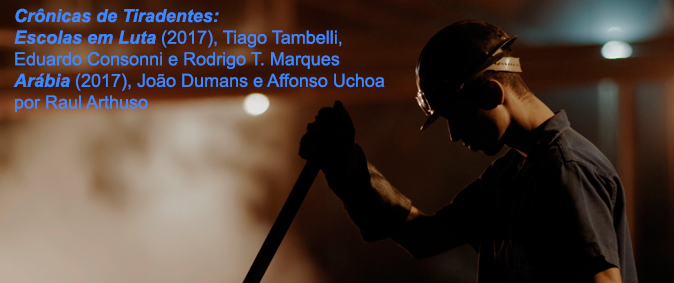Chego a Tiradentes este ano depois de dois anos e meio realizando um estudo panorâmico sobre o cinema brasileiro independente, comumente conhecido como novíssimo cinema brasileiro, o que cria para mim uma situação curiosa. Volto a um contexto que me é muito próximo, com novos filmes de cineastas os quais mergulhei sistematicamente nos últimos trinta meses, como Adirley Queirós, Affonso Uchoa, Rodrigo de Oliveira, Luiz Pretti; ao mesmo tempo em que as diversas mostras do festival este ano trazem cineastas e obras sobre os quais sequer ouvi falar. Meu desejo é incorporar essa dinâmica entre singularidade – do novo e do desconhecido, do olhar pela primeira vez a novas propostas – e permanência de certas tendências do cinema brasileiro contemporâneo, a dificuldade própria do discurso crítico, que busca o tempo todo impregnar uma ideia, enquanto os filmes circulam nas pequenas diferenças e semelhanças, numa forma escrita que libera certas pulsões e minhas reações imediatas com os diversos olhares do festival.
É assim que aproximar-se de Escolas em Luta e Arábia me parece um frutífero começo para lidar com a ambivalência, que está, em ambos, nos próprios filmes. Escolas em Luta, de Eduardo Consonni, Rodrigo T. Marques e Tiago Tambelli, traz algumas características próprias de um conjunto de obras de intervenção que pulularam nos últimos anos de efervescência política no Brasil – penso nos casos de Ressurgentes: Um Filme de Ação Direta (2014), Rio em Chamas (2014) e Acabou a Paz: Isso Aqui Vai Virar o Chile (2015): o desejo de retratar um movimento de luta popular no calor da hora, o gesto de mirar a câmera para o lado que os discursos oficiais (a grande imprensa) não mostram, a apropriação de materiais diversos criando um caleidoscópio de visões internas ao processo. Captar a efervescência enquanto a chama ainda queima é um modo de mostrar a ação política no Brasil contemporâneo que tem ganhado força.
Assim, Escolas em Luta apresenta o mesmo cacoete, por vezes problemático, desse modo de apresentar a política. Sua inconstância de ritmo, muitas vezes flutuante nas intenções discursivas, um fascínio romântico pela imagem de celulares e câmeras portáteis que respeitam ou demarcam diferentes janelas e qualidades de definição sem trabalhar com ela como elemento formal e dramático; e intervenções mais demarcadas dos realizadores, como os travellings por corredores, salas de aula vazias e fachadas das escolas ocupadas pelos estudantes secundaristas na cidade de São Paulo ou a trilha musical pesada, instalando um clima pesado de insegurança e guerra, apontam um filme a um passo de descarrilhar para a política inconsequente ou o registro otimista desorganizado, como se a força do protesto bastasse por si só.
Mas em sua generalidade, o filme retrata um evento singular. Em dado momento, um garoto negro, pré-adolescente, com voz ainda infantil, desafia um policial que tenta ilegalmente encerrar a ocupação de sua escola. Com um discurso articulado, o garoto se impõe ao policial “Você tem mandado para invadir?”, ao que o policial responde negativamente para que o garoto complete “Então, dá licença”, apontando a saída da escola. Enquanto o Brasil vive uma deprê política, derrotado cotidianamente pelas forças regressistas enraigadas em sua constituição histórica, Escolas em Luta mostra um movimento de jovens estudantes engajados na construção de outro futuro para si mesmos. A percepção desse pequeno detalhe faz toda a diferença para o filme, de onde vem sua vivacidade.
Ao invés de apressar-se num retrato que se contenta com o registro de potências, Escolas em Luta descreve um modo de ser político. Aponta para a articulação e a inteligência dos jovens personagens que se enfileiram ao longo da obra, mostrando as fraquezas juvenis na mesma proporção que a inteligência de suas falas. Mais ainda, percebe a capacidade desses jovens, ao contrário dos movimentos progressistas que se engajaram após 2013, de organizar estratégias de resistência que passam do combate de ideias à luta efetiva nas ruas por sua causa, com resultados efetivos na realidade. O filme, então, se dedica a reverberar essa inteligência que vem de dentro das imagens, potencializando o que há de único nesses jovens. Assim, o filme se posiciona menos com o pé atrás e configura suas imagens em torno de uma construção descritiva do movimento, como quem presencia e relata algo importante (e diversas falas das personagens apontam para o momento histórico que eles constroem com sua intervenção). Ao invés de tentar captar uma energia, Escolas em Luta se entrega para o fato, acompanha o passo-a-passo do movimento dessa história em construção e narra essa singularidade que se aponta a cada imagem.
O celular, nesse sentido, ganha outra potência. As imagens apropriadas pelo filme, registrada pelos próprios estudantes secundaristas, vão se descamando aos poucos e perdem seu caráter puramente imediato. Entrevistas, encenações e jogos com a câmera ao longo das ocupações dão a dimensão de articulação progressiva do discurso e controle de sua própria imagem que tem o celular, aplicativos e redes sociais como ferramentas principais. Uma selfie tirada com um celular que mostra as câmeras fotográfica e a cinematográfica do momento – ambas dispositivos móveis – revela o domínio dos jovens em propagar ideias e definir estratégias. Outra cena mostra um tutorial filmado por estudantes ensinando outros secundaristas como filmar com celulares a invasão policial caso aconteça. Os dispositivos portáteis, geralmente fonte de registro de protestos no calor da hora, é arma de construção de imagens e discursos para a história.
Esse domínio das ações, misturado a um profundo desejo de desbravar novas frentes na política, com novas ideias sobre igualdade, sexualidade e afetos, cria um panorama de profunda esperança na política brasileira. Um tom de felicidade que se contamina pelo toque e o carinho que as personagens trocam em suas interações e conversas. Um sentido de coletividade que aponta esse fato singular, com assembleias, encontros de discussão sobre a realidade, rodas musicais e artísticas; uma divisão comunitária das ações, do trabalho, dos direitos e deveres que vai além do pessimismo derrotista. Escolas em Luta exala felicidade e exalta a possibilidade de vitória da luta se praticada com inteligência e ousadia ao dar esse passo atrás do olhar e deixar que as demandas orgânicas dos artífices do movimento político ditem a forma de ser contada. Em sua voz coletiva, repleta de uma multiplicidade de personagens e personalidades, Escolas em Luta expõe um ser político vivo, de pura efervescência e aberto para descaminhos do futuro.
Não seria isso o reverso do ponto de partida de Arábia? O filme se inicia sob o signo da morte, seja na doença, aparentemente grave, que ameaça o irmão mais novo de André (Murilo Caliari), seja na que abate Cristiano (Aristides de Sousa), operário de uma fábrica de alumínio em Ouro Preto, cujo relato escrito num caderno encontrado pelo mesmo André é a base da narrativa. O operário em coma, precarizado até o limite da mera-vida, instala um clima fúnebre nas baixas luzes, o compasso mais alargado e silencioso nas primeiras sequências em que se acompanha o jovem André à deriva. É a história de Cristiano, essa alegoria do operariado esfacelado pelo neoliberalismo global reinante, aclimatado ao contexto local, que será contada a partir do encontro do jovem com as palavras do trabalhador.
O uso da voz passiva aqui não é casual, pois a vida de Cristiano vira narrativa em tripla camada: a articulação literária feita pelo próprio operário no texto confessional em seu caderno, contada por sua voz a partir da leitura do relato por André, cujo imaginário ganha superfície visível pela câmera. Nesse sentido, a trajetória de Cristiano ganha em Arábia uma natureza de sobreposição, pois é produto tanto da rememoração do personagem narrado quanto da imaginação do leitor, estabelecendo a situação ideal de troca de experiências da narrativa. Ainda assim, é como narração cinematográfica, como apropriação essencial da palavra escrita direta transformada em imagem, que Cristiano ganha vida (imaginária, artificial, manipulada, já que a biológica, orgânica, está por um fio). Por um lado, vê-se a vida de um homem contada por si mesmo, um balanço de dez anos de andanças pelo interior de Minas Gerais. Por outro, mostra-se a história de um homem à beira da morte que contou a trajetória de dez anos de vida.
A sobreposição de naturezas narrativas é o dispositivo para o mergulho no imaginário popular de João Dumans e Affonso Uchoa. Mostrar um operário que durante anos vagou de trabalho em trabalho, tendo a beira de estrada como guia, sem um rumo determinado. Entrar nos espaços, nas conversas, nas pequenas rodas de amigos, nas piadas e gozações, descrever as escolhas de percurso e entender emoções que perpassam a jornada. No interim, Arábia traz elementos já presentes em A Vizinhança do Tigre (2014), como a forma epistolar conduzindo os compassos da narrativa com a voz do autor da palavra escrita; a interação de um mundo masculino em que agressividade e afeto se confundem e se reconfiguram; a dureza do destino na vida do homem comum fugindo de seu passado – o tigre pronto a dar o bote. Mas o fundamental está no que se agrega de novo aos motivos e faz a singularidade desse mergulho ao popular de Arábia – jogar essas histórias no mundo. Dez anos condensados no tempo de um filme: a aleatoriedade da existência organizada em discurso estético ficcional.
Em Arábia, Cristiano é, antes de tudo, um operário, que no limite da vida, viveu uma jornada de dez anos. Sua singularidade se faz do que há de comum a toda trajetória vagante. De uma Odisseia sem Ítaca, cuja Penélope passa por um aborto e separa-se de seu Ulisses no meio do caminho, a uma rememoração da rotina do trabalho de caráter textual, com especulações mais filosóficas sobre o sentimento de mundo envolvido nisso, a la Como Era Verde Meu Vale, a vida de Cristiano agrega índices de uma vida que não é apenas dele. As mexericas fazem parte de uma tradição cujo doce advém da sabedoria que devolve à terra um húmus cultural comum. Ainda que guarde brilhos intensos aqui e ali, especialmente nos buracos que arma (o desgaste da relação de Cristiano com Ana, alguns momentos de lazer entre os trabalhadores, o atropelamento da estrada à noite), Arábia é um filme de um operário que é um Odisseu, um camponês fordiano, um mito straub-huilletiano, um exilado costiano, enfim, um operário que na sua odisseia de dez anos está destinado, como todo operariado mitológico, a ter sua vida sugada até o limite. Uma trajetória árdua e também ligeira; bruta mas também doce. Um homem que em todos momentos dessa jornada está no limite da vida.
É esse processo de sublimar o singular no destino que o dispositivo de camadas narrativas organiza. Se ele parte de um mergulho na vida de Cristiano, seu fim é a via contrária, a extração dela de seu solo originário para a participação no universo das formas, tirar essa figura popular de seu rincão – precário, espontâneo e documental, segundo o senso comum – e colocá-la a par dos grandes mitos da ficção. Arábia quer marcar sua singularidade pelo que constrói de generalidade. Isso não significa que Cristiano é transformado num herói genérico ou mesmo que o filme seja apenas um catado de referências ou cópia de segunda mão. Pelo contrário, há em Arábia um senso de realização narrativa aguçado, uma beleza plástica de rara eficiência no cinema de sua geração, e uma aposta na ficção puro sangue que consegue manejar criativamente a vida da personagem de modo que o cinemão brasileiro mais comercial deseja, mas não consegue fazer. Não se trata de um filme qualquer, mas toda a potência de singularidade que Arábia propõe se desvanece no gesto incisivo de domesticação ao mito que pratica. No fundo, a vida do operário é o preço que se paga para o acesso aos bens universais da cultura, uma sublimação de toda potência artística que sujar as mãos com as possibilidades desse choque de camadas narrativa requer. Neste mergulho, portanto, somos sempre jogados de volta a André, mesmo que ele volte com uma observação carinhosa – e condescendente conosco – de Cristiano. Arábia é extrativista com a força da voz de seu protagonista e a dureza de sua história, restando um filme que abre mão da radicalidade da terra (a origem), da estrada (o desconhecido) ou mesmo do signo da morte (o destino). Onde A Vizinhança do Tigre apontava, Arábia desvia, no afã de fazer universal uma forma de estar no mundo singular.
Recentemente, a Cinética publicou dois textos sobre filmes brasileiros lançados comercialmente no final de 2017 e que tiveram bastante repercussão no meio crítico e festivais (por razões diversas): Gabriel e a Montanha, de Fellipe Barbosa, e No Intenso Agora, de João Moreira Salles. Em ambos os textos, seus autores (Victor Guimarães e Pablo Gonçalo, respectivamente) identificam elementos que denotam o retorno de certa ideologia cinematográfica atrelada ao comumente chamado Cinema da Retomada. O diagnóstico é de “um cinema brasileiro que reaprendeu a falar muito bem a língua dos novos poderes do cinema mundial; que treinou sua própria domesticação até o ponto em que se tornou perfeitamente palatável para as audiências europeias; um cinema que renunciou a qualquer opacidade, a qualquer intransigência, e caminha a passos largos para uma reencarnação dos pressupostos de sucesso da Retomada em chave atenta às demandas de correção atuais” ou que apresentam “um ponto de vista privado, pessoal, psicológico e conturbado por dramas intimistas”. Guardadas as diferenças de contextos históricos-sociais, produtivos e estéticos – e não se pode esquecer que o compasso das formas cinematográficas segue o ritmo da interação desses fatores – no âmbito geral o diagnóstico é instigante, ainda que precise ser repensado à luz da adequação a um momento da história do Brasil que mesmo parecendo retroceder ao início da Nova República, se reconfigura em algo inédito ainda a ser entendido. Contudo, acho autossuficiente em excesso enxergar esse retorno na obra de um diretor cujo projeto de cinema sempre esteve arraigado na fronteira entre a produção de grande estrutura e a apropriação de retóricas deslocadas desse modelo e um documentarista surgido no âmago da Retomada sem, contudo, ter aderido a seu modelo produtivo e estético integralmente.
Ambas as definições poderiam se adequar a Arábia, causando um curto-circuito que requer da crítica mais força e uma dose de sacrifício com jovens cineastas militantes de outra ordem das coisas. Pois Arábia é um filme difícil de não ser gostado, hábil em não deixar pontas soltas sem parecer convencional e politicamente posicionado do lado certo da história. Um filme que recusa ser uma continuidade de formas e intenções de A Vizinhança do Tigre, buscando caminhos outros com os quais a autoria, como discurso crítico, tem dificuldade em lidar. Mas Arábia é também uma obra que domestica as particularidades do operariado brasileiro até o limite do palatável, dispersando as possibilidades de intransigência estilística e confronto político em favor do drama intimista privado alçado a uma lógica de universal. Essa correção de Arábia o faz um filme agradável. Uma prisão de agradabilidade, colocando o filme na cultura globalizada da fruição sedutora das problemáticas nacionais como Central do Brasil, de Walter Salles, duas décadas antes também fazia em seu mergulho no Brasil profundo, revisitado também por uma visão universal do país. Porém, entre lá e cá muitas odisseias correram na estrada e fazer de Arábia um exemplo de retomada da Retomada seria ignorar todos os conflitos e transformações do cinema brasileiro entre o fim dos anos 1990 e agora. O filme de Affonso Uchoa e João Dumans não parte da culpa de classe deslocada para as mazelas brasileiras, mas sim de uma identificação espiritual com o personagem do mundo do trabalho que inspira afetos e desejos de ficção, próprio do novíssimo; também não ignora a singularidade dessa personagem em favor do drama convencional internacionalizado na forma do roteiro estabelecida pelos laboratórios de festivais internacionais, buscando soluções de modos de narrar que apontam para um filme fora da normatividade. Mesmo assim, do ponto de vista do ser político que compõe, Arábia faz do ocaso de um operário específico, concreto, uma desculpa singular para criar uma amostra abstrata de operariado em vias de desaparecer, quase sem vida, sem corpo, mas cheio de emoção e histórias acessíveis a todo tipo de gente (com ou sem culpa de classe) que encontre essa odisseia afetiva. Um diagnóstico melancólico, sedutor para os olhos progressistas que rejeitam a precarização neoliberal do trabalho, e seduzido de si mesmo pela carga de verdade que o processo produtivo, em tudo diferente dessa lógica industrial contemporânea, cria de lastro de autenticidade. Sob outra retórica, Arábia é o primeiro passo bem sucedido do cinema independente surgido na segunda metade da década passada em se adequar ao jogo ambíguo da sedução do espectador universal pelos códigos de uma arte mundializada dos afetos políticos.
Leia também:
- O cinema canvas e o último respiro, por Fabian Cantieri
- Ecoando no vazio, por Fábio Andrade
- Aprendendo a jogar, por Luiz Soares Júnior
- Juventude em marcha, por Victor Guimarães
- Cavalo Dinheiro e a arte do retrato, por Luiz Carlos Oliveira Júnior
- O ardor, a invenção e o prazer, por Victor Guimarães
- Tentando encontrar um cinema vândalo, por Filipe Furtado
- O instante do filme, por João Dumans
- Miragem na montanha, por Victor Guimarães
- Os fantasmas da história tocados por luvas de pelica, por Pablo Gonçalo