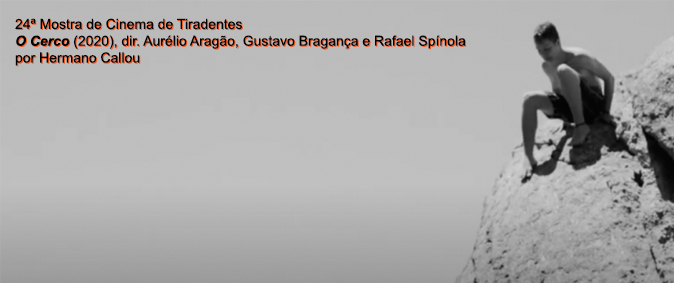Os créditos finais de O Cerco (Aurélio Aragão, Gustavo Bragança, Rafael Spínola, 2020) terminam com uma legenda informando o local e o período de realização do filme: “Rio de Janeiro, 2013 – 2020”. A escolha pouco usual dos três diretores de declarar o período completo de quase uma década entre a concepção e a finalização expressa um certo desejo de vincular a obra e o tempo. Adotando um método de escrita de roteiro e encenação procedural, que era conduzido em grande medida pelo trabalho de improvisação dos atores e pela recusa sistemática de repetir as tomadas no processo de filmagem, o filme parece ter desejado tornar-se poroso às transformações da atmosfera social e política que marcaram o intervalo, iniciado pelo ano das jornadas de junho e concluído com as mortes em massa no governo Bolsonaro. A montagem, que ata as frações da realidade ficcional de maneira titubeante e dispersa, sem suturar suas lacunas, parece se esforçar por encontrar liames narrativos no material sem sacrificar suas contingências, o que resulta em certo frescor descuidado. Seguindo uma tendência do cinema brasileiro da última década, o desejo de representar o momento histórico do presente conduz a uma certa perda de orientação no tempo: O Cerco se revela, progressivamente, um filme de fantasmas, assombrando pela memória do passado ditatorial do país.
Em uma das primeiras cenas, a protagonista Ana (Liliane Rovaris) – que, com certa dificuldade, descobrimos que é filha de um desaparecido político da ditadura militar brasileira, crescida no exílio – encontra-se no palco, improvisando um discurso na companhia de teatro em que atua. Em sua fala, o teatro surge como um “pequeno mundo”, e a realidade como o “grande mundo”, a dura realidade da qual o teatro é ao mesmo tempo “reflexo” e “refúgio”. O filme, também ele, é movido por uma tensão crescente entre um pequeno e um grande mundo particulares: a pequena realidade da personagem de classe média, a quem encontramos na maior parte das vezes dentro de casa, onde mora sozinha com a filha e o cachorro, e o espaço e o tempo ao redor, cuja presença latente ameaça continuamente a consistência de sua realidade. A casa de Ana é, na verdade, o casarão herdado da família, aparentado a um pequeno castelo, que o filme faz questão de nos mostrar no seu primeiro plano e sobre o qual alguns personagens às vezes conversam com certo assombro. O Cerco segue em um primeiro momento o drama da claustrofilia contrariada, que nos recorda certos filmes brasileiros recentes, em que personagens de classe média temem a desintegração paulatina do seu espaço privado: a ambiência sonora de helicópteros no fora de campo anunciam uma guerra em curso, cachorros ameaçam se atracar na vizinhança, imagens no celular mostram manifestantes destruindo caixas eletrônicos, mensagens anônimas ameaçadoras anunciam uma invasão domiciliar. Tudo parece apresentar-se como num thriller paranoico.
O Cerco não se agarra, contudo, nesse caminho talvez um pouco conhecido demais. A relação da protagonista com sua casa é movida menos por uma paranoia de perpetuação insular da identidade de classe que por um sentimento de dívida histórica familiar. O filme segue em direção a uma outra estratégia, que também tem se tornado central no cinema de invenção brasileiro: a solicitação de convenções de gênero como meio de dar inteligibilidade a uma certa realidade histórica que parece exigir a extrapolação da gramática realista. O Cerco torna-se, discretamente, um filme de castelo mal-assombrado, tensionando os limites do seu vocabulário naturalista sem desejar, contudo, sua ruptura. A construção do espaço fílmico é ela própria fantasmagórica: o filme evita oferecer indicadores espaciais claros pelos quais poderíamos compreender com facilidade o espaço físico e social em que a personagem se encontra, o que é inusitado para um filme que deseja ser também sobre um certo lugar. O espaço fílmico apresenta-se em grande medida como uma porção de retalhos, cujas distâncias e conexões incertas nos demandam um esforço de compreensão ativo: uma fachada de prédio, uma piscina em ruínas, escadarias, uma área de serviço, um pátio exterior, que percorremos com uma câmera flutuante e de foco incerto e uma decupagem arejada, mas ruidosa.
Em sua casa, a protagonista precisa se confrontar progressivamente com uma série de personagens fantasmáticos, invasores do seu domicílio que parecem vir do passado e do futuro, com quem ela tem contas a acertar. A escolha do motivo do fantasma parece exprimir a experiência de uma classe social para qual o horizonte da luta política encontra-se imaginariamente presente, mas ainda materialmente pouco palpável, aparecendo na forma de seres ambíguos, que não sabemos dizer com clareza de onde vêm e o que querem. Os primeiros invasores são apresentados desde o começo do filme e atuam em uma linha narrativa paralela, que se cruza com a história de Ana em momentos importantes: três adolescentes da vizinhança, que o filme nos faz duvidar da existência real, invadem a sua casa e exploram seus arquivos familiares, trazendo à tona a experiência do exílio, do desaparecimento e da derrota política da geração de seus pais. Na medida em que os invasores se multiplicam, a personagem revela-se mais acolhedora que temerosa de seus novos companheiros, em um processo que reativa a memória da luta política: em um determinado momento, vemos a protagonista esconder da polícia dois jovens em sua varanda, em uma cena reminiscente das nossas ficções sobre a vida na clandestinidade política. Em O Cerco, o drama da claustrofilia se transforma em uma cerimônia enigmática de hospitalidade aos fantasmas.
A cena final do filme parece ser particularmente significativa: os três adolescentes, liderados pela única garota entre os três, começam a disparar pequenos fogos de artifício na beira da piscina abandonada. Enquanto nossa personagem era desenhada como uma mulher apegada ao espaço da sua casa herdada, com todo o peso da memória familiar que ele carrega, os adolescentes são mostrados deambulando sem direção pelos mais variados espaços, sem respeitar seus limites e separações, como se para eles ainda não houvesse nenhuma lei e tudo ainda restasse por ser inventado. A atriz de teatro de classe média, dividida entre o medo, a melancolia e o apego aos fantasmas, contrasta com os três garotos para os quais os perigos do mundo são uma distração gratuita: todos os seus jogos guardam uma violência latente, que eles não se cansam de trazer à tona, com uma leveza cativante. Em certo momento, a garota escreve na parede: “nós não temos medo de você”. As explosões dos fogos de artifício, como sua destrutividade alegre, guardam um pouco da graça dos que não têm ainda tanto passado para já ter medo, selando um filme, tão melancólico como é esse, com uma imagem do que nos espera além do luto.
Leia também: