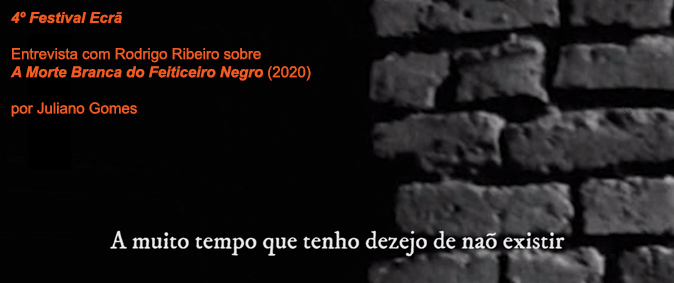No atual ambiente de ações remotas dos festivais no Brasil, algo tem se repetido: amigos e amigas me falando pra ver A Morte Branca do Feiticeiro Negro, curta de Rodrigo Ribeiro. No segundo ou terceiro evento onde ele estava programado, consegui. A impressão é de que estamos diante de um grande filme que não barateia um dos nossos temas mais fundamentais e difíceis de abordar: “o rastro escravista brasileiro”, segundo Ribeiro. Um incomum filme de arquivo, como uma flecha de perturbação lenta, com uma ensaística radicalmente preta, nada logofílica, interessada no banzo como matéria e especialmente imbuída de pensar em “como compartilhar incômodos” a partir de uma poética bastante singular. Ainda no susto com o curta e depois de uma conversa sobre o filme aqui na redação da Cinética, me surgiram questões, que enviei por e-mail e Rodrigo teve a generosidade de respondê-las.
*
Como se deu o movimento inicial que gerou o filme? Ele antecede a descoberta da carta de Timóteo? Pode descrever como se iniciou o processo de formulação do filme e o início de sua feitura?
A existência desse filme parte de um lugar de mal-estar, onde havia o interesse em fazer um retrato poético da dor, pautado numa certa fantasmagoria negra que representasse um sentimento de total deslocamento e invisibilização do ser-negro em diáspora. Na concepção inicial do projeto, a história era sobre o espectro de um homem negro que vagava por isoladas paisagens e trilhos de trem pelo sul do Brasil. À época, os sentimentos não eram nada bons. E curiosamente isso antecede a descoberta (ou aparição) da carta de Timóteo. Desde o começo estava apoiado em dois pilares, duas intenções: abordar a temática racial, que é inevitavelmente presente na minha vida; e a experimentação de linguagem a partir do registro documental mais ensaístico. Em tal experimentação, muito influenciado pelo cinema de montagem, procurava elementos para explorar de forma pungente as camadas imagéticas, sonoras e textuais – sendo que esta última ainda não se sabia o quê e como exatamente seria apresentada. Pensava que essas três camadas deveriam ter uma força descomunal, absurdamente potente, que fossem únicas e independentes entre si, mas que ao final, se complementassem e houvesse uma simbiose, se tornando uma só coisa. Um só corpo. E esse corpo foi ganhando forma quando comecei a pesquisar sobre o banzo. Como não tinha orçamento algum, abandonei a ideia do espectro-negro e minha inexplicável obsessão por trilhos de trem e parti para a investigação de material de arquivo. A partir daí surgiu a intenção (ou a presunção) de fazer um tratado sobre o rastro escravista brasileiro, querendo tratar esse funesto legado de maneira perturbadora, de forma urgente e visceral, mais do que um retrato expositivo ou didático, saca? Queria compartilhar incômodos. Queria um cinema negro experimental.
De que maneira vocês pensaram no papel do som no filme? Uma possível redundância entre a gravidade da narrativa e também das sensações sonoras foi uma questão para vocês?
Com certeza. Em tudo que faço e escrevo o som tem um papel fundamental. Ele transborda ao longo do processo criativo, mobiliza o entorno da própria concepção. A faixa sonora às vezes surge antes mesmo do filme em si e eventualmente até se torna um personagem. No Ensaio sobre o Tempo e o Nada (2017), por exemplo, curta desenvolvido para uma disciplina da universidade, propus montar todo o filme a partir do áudio bruto dos 10 minutos iniciais de um filme do Miguel Gomes. Assim, pescadores viraram reis, homens se tornaram crocodilos. Em conversa com amigos, há muito tempo expressava o desejo de fazer um filme que fosse um soco no estômago desde os segundos iniciais, um filme que tivesse a força e o impacto que Capítulo 4, Versículo 3 dos Racionais MCs teve em mim da primeira vez que ouvi na adolescência – e perdura até hoje a cada nova audição, diga-se –, uma espécie de rolo compressor que passasse por cima de tudo e de todos, até o fim, sem dó. Para A Morte Branca… o som tinha o papel fundamental de trazer a percepção sinestésica, oferecendo o estimulo sensorial que procurávamos. A questão primordial era evitar que fosse assimilado como, citando um termo etnomusicológico, um som “humanamente organizado”. E o trabalho de Juçara e Tenório apresentava isso. A aposta era que a tensão devia ser expressa e atingida desde os créditos iniciais e, não despropositadamente, está presente do primeiro ao último segundo do filme, ininterrupto e ruidosamente. Transitando entre o etéreo e o gritado, deveria exprimir na medida certa perturbação e desconforto, estando em ressonância com o assombro e a violência do tema.

É incomum a maneira como o texto é usado. É como se ouvíssemos uma voz muda. A forma da língua, os arcaísmos e traços de oralidade anacrônica contribuem para uma expressividade muito rara no uso da palavra. Você pode comentar como foram se dando essas escolhas? Vocês chegaram a gravar uma voz dizendo a carta?
Jamais cogitamos fazer uso de voice over. Tendo a ciência de que não era nada comum negros escravizados saberem ler ou ter domínio da escrita, bem cedo ficou muito certo pra mim que a presença de Timóteo se daria com o texto cravado na tela. Era imperativo que fosse apresentado em sua integralidade, mantida a grafia original, ponto-a-ponto, vírgula-a-vírgula, sem manipulação alguma. A carta de Timóteo é um registro histórico de imensa relevância, é a expressão de um homem, de sua história, é o suporte onde inscreveu o derradeiro apelo pela liberdade – uma liberdade que ele só poderia conquistar naquelas circunstâncias, diga-se. Era necessário que o texto tivesse um protagonismo, que traduzisse a gravidade e o impacto disso. A ausência de uma narração procurava refletir a cruel dinâmica de silenciamento, fazendo “ouvir” uma voz muda através das suas palavras entre ruídos, produzindo uma atmosfera atordoante, sufocante. Manter a carta na sua integralidade e optar pelo recurso da caixa de texto no lugar de uma narração parecia privilegiar uma expressão genuína. O silêncio das suas palavras é suficientemente forte para traduzir os sentidos implicados ali. O filme tenta entrar em ressonância com a história de Timóteo(s) e a sua voz não poderia ser projetada por um narrador – a voz de Timóteo é coletiva, sua história é compartilhada. Então era questão de honra que a carta fosse fixada na imagem e assumir seu protagonismo. Não raramente preciso argumentar com festivais sobre o uso da “legenda”, explicando que é um personagem, que faz parte da linguagem, etc. E cabe dizer que tal uso do texto no filme é incomum sim, mas não original: o que me inspirou e pude vislumbrar usar esse tipo de recurso é uma obra-pérola chamada As Águas (2014), de Larissa Figueiredo. Lembro muito bem de ter ficado extremamente fascinado pela delicadeza desse filme e pelo inteligente uso narrativo do texto em tela. Nunca esqueci dele, curta belíssimo, mesmo.
O nome do filme é também o nome de um livro de Renato Ortiz sobre Umbanda. Ao mesmo tempo, não é um filme que se parece, em superfície, a uma tese. O quanto vocês desejavam que se estabelecesse essa relação direta?
Tenho dito que se trata de uma relação “de alma”. Tive conhecimento do livro do professor Renato Ortiz já há uns bons anos atrás, através de Julia Faraco, que assina comigo a pesquisa de imagens e montagem. É um clássico dos estudos sociológicos sobre religiosidade afro-brasileira, mas confesso que antes mesmo de ler a obra fiquei muito impressionado com o título. A morte branca do feiticeiro negro trazia nessas palavras um sentido muito potente e vislumbrei nelas uma possibilidade de expressão artística. Então pode-se dizer que este filme começou pelo título, generosamente cedido pelo professor Ortiz, que em nossa comunicação se despediu amigavelmente com os dizeres “faça bom uso da Morte Branca.” É interessante que, apesar de não se tratar de uma adaptação ou referência direta à tese de Renato Ortiz, não deixa de nutrir algumas afinidades. Afinal, são reflexões sobre um processo que tem raízes comuns e que inevitavelmente produzem diversas “mortes brancas”, assim como destacam histórias de tantos “feiticeiros negros” que ainda precisam ser contadas. Se a tese registra um processo de embranquecimento de uma religião de matriz africana, eu diria que no filme o foco está no brutal processo interior de morte, se encontrando numa encruzilhada entre a materialidade e o desencarnado, entre a pátria e o exílio, a vida e a morte, o silêncio e o ruído.

A escolha do trabalho de Juçara Marçal e Cadu Tenório, com uma faixa do álbum Anganga, para a trilha sonora, aponta para uma certa afinidade entre o gesto do filme de vocês e deste disco. Observo uma certa posição de trabalhar o legado da escravidão, e de uma expressividade que podemos chamar de “negra”, sem privilegiar acordos de visibilidade ou de tratamento muito reverente dos materiais de origem. Tem uma lida com os arquivos inventiva, sem medo do excesso e das alterações intensas. Gostaria que comentasse sobre essa postura, digamos, “desobediente”, a partir de materiais que lidam com traumas tão densos. Não é algo que se vê comumente.
Eká foi uma dádiva. Acompanho e admiro o trabalho de ambos há tempos e durante a elaboração do filme estava à procura não de uma trilha, mas de uma paisagem sonora que fosse tão robusta quanto incômoda, que servisse de “cama” para o que estava por vir. Procurava texturas, potências. Achei Eká. E ela dialogava perfeitamente com o filme desde o segundo inicial da faixa, era um arrojo-sonoro-gutural. Um legítimo grito ancestral. Fora que o Anganga em si já parte de um magistral resgate do clássico Canto dos Escravos de Clementina de Jesus, Tia Doca e Geraldo Filme, diga-se. Sobre a “desobediência”, tendo a pensar que vem de um lugar, ou melhor, de um não-lugar que é o de alguém nascido e criado na periferia que ousou fazer cinema e compreende que ocupa um lugar que, supostamente, não era para ser seu. Durante a pesquisa, sinceramente, ao lidar com esses registros, fossem fílmicos ou fotográficos, tomei pra mim que cada rosto preto que via pela frente era um parente meu, eram meus ancestrais. Sendo da família, nada mais natural que pudesse utilizar esses rostos de um modo que os ressignificasse ou, no caso da imagem Colheita de Café, de Marc Ferrez, por exemplo, lhes desse um tratamento menos generalizante, mais digno e aproximado, literalmente.
Como se deu a pesquisa de arquivos de imagens? Porque, vendo a cartela que descreve os materiais, você tem uma interessante história transversal do cinema brasileiro através de imagens da escravidão, com Arthur Omar, Silvino Santos, e muitos outros.
Mais do que realizadores específicos, nos intrigou os registros da presença negra nos primórdios da produção cinematográfica brasileira e do que chamamos de “materialidade da escravidão”. Na etapa de pré-produção fizemos uma consulta de mais de 40 filmes em domínio público… na sequência chegamos a um corte de 28 obras. Ao final selecionamos 9 obras, já atendendo a critérios mais rígidos como suas condições de restauro, adequação ao projeto, possibilidades narrativas, condições de manipulação e de uso. Nesta etapa partimos para o que na época chamei de “testes de linguagem”, que foram avaliações prévias feitas para testar quais sequências realmente funcionariam, como usaríamos e, principalmente, quão efetivo se traduziria a ideia de utilizar as tais três camadas eleitas para conduzir o filme (som + imagem + texto) do modo que gostaríamos, principalmente sem voz over e com utilização de caixa de texto. Acho importante falar sobre a motivação em buscar uma certa “materialidade da escravidão” como forma de tratar isso com o devido peso e horror. A memória sobre esse período me parece cinicamente atenuada, normalizada, uma institucionalização que não foi rompida com a abolição. A Casa Grande ainda está de pé – se tornaram infames lugares de luxo & lazer, hotéis, pousadas, ofensivamente cultivadas pelo seu valor arquitetônico – mas as senzalas desaparecem ou se integram à paisagem sem que possam comunicar o que de fato representam. Como se sabe, a materialidade é algo importante para que se possa refletir sobre um legado histórico tão brutal. Porque o esquecimento opera a favor da perpetuação das violências, que continuam derivando e reincidindo sobre nós. Sempre cabe lembrar que o fim da escravidão é um evento recente – não muito mais do que cem anos – e isso deveria nos chocar. Três séculos de escravidão deveriam nos chocar mais ainda. Os registros desse período são vistos em pinturas e ilustrações (como as de Debret, por exemplo), e isso acaba criando um certo tipo de imaginário sobre a escravidão. Mas o que acontece quando nos deparamos com imagem em movimento? Quando corpos negros se tornam uma presença real obrigando o espectador a confrontá-la, a sustentar um olhar? Nesse filme, a materialidade é acionada através das imagens de arquivo. E é interessante que elas são retratos de um período pós-abolição, mas é fácil associar essa paisagem ao período de escravidão. Isso revela algo muito significativo, essas imagens acabam trazendo em si um discurso sobre a permanência. De fato, ao trabalhar com esses registros, a pesquisa revela um traço da cinematografia brasileira no que se refere às presenças negras em tela. Quando expomos isso em A Morte Branca… podemos seguir esse caminho, observando aspectos da história do nosso cinema, assim como podemos pensar sobre o processo de ressignificação dessas imagens. E que na verdade eu penso ser duplo: por um lado uma chocante “imprecisão” cronológica, por outro a visibilização dessas presenças negras que se tornam protagonistas para contar uma outra história.

É interesse como o uso do arquivo está ligado ao tema da propriedade. Nada ali é próprio: vocês usam vários filmes, sem dizer qual é qual, e nós vamos atravessando essa vertigem – ela é o próprio filme. A escravidão é sinônimo da questão da propriedade, do próprio. O método do filme trabalha também este problema. De que maneira você acha que esse uso se relaciona com o tema do filme?
Bom, sejamos diretos: um cineasta negro que ousa querer experimentar e fazer um “filme de montagem” dificilmente terá a disposição um acervo pessoal familiar para contar a sua história, a história de seus antepassados. Adoraria e vislumbrava ter uma empoeirada caixa, guardada lá num canto qualquer, repleta de rolos Super-8 com lindas imagens e lembranças dos meus pais, avós, bisavós. Mas não, infelizmente não temos esse privilégio. O que temos são registros de corpos negros de 1948 em situações que remetem a séculos atrás. Se as pessoas assistem A Morte Branca… e ingenuamente acham que estão vendo “imagens raras da escravidão”, o equívoco logicamente não está apenas no desconhecimento histórico, mas nessa assustadora perpetuação das condições, registros e representações negras. São imagens da permanência. Esse é o verdadeiro horror.
O texto de Timóteo parece descrever o suicídio como um direito que ele também não tem. O filme recusa uma certa visão moralista de Timóteo e pega a violência com as unhas e de certa forma a modula, criando um tom perturbador. Entretanto, o tema da escravidão como violência histórica traz dilemas morais à realização, como por exemplo a ideia de “repetir a violência perpetrada”. Mais do que um automatismo crítico, a questão é como organizar em filme materiais historicamente traumáticos sem adular o público nem ornar a dor. Como vocês trabalharam este problema na confecção do filme? Que riscos se interessaram em correr?
Dentro daquele terrível contexto, o suicídio negro pode ser compreendido como o ato mais desesperador da resistência individual, onde os escravizados se colocavam enquanto indivíduos capazes de decidir, de forma absoluta e definitiva, o destino de sua própria vida. Estamos falando de um ambiente altamente violento e desumanizador e é possível imaginar que Timóteo temia e sofria mais por sua condição em vida do que pelo incerto destino após a morte. Isso porque a morte lhe proporcionaria dias mais dignos que os vividos em cativeiro, seguindo seus próprios termos. E infelizmente existiram inúmeros Timóteos. O tema da escravidão é violento, evidentemente. Esse foi um filme que dói na própria carne e havia a preocupação com os irmãos e irmãs que compartilhariam comigo esses sentimentos. Se a concepção do fazer desse filme foi muito dolorosa, ao mesmo tempo sentia que havia necessidade de contar essa história e ela deveria ser apresentada de forma contundente, mas com o cuidado de não ser apelativa. Esse é um filme que não apresenta violência gráfica/explícita, ele apresenta uma violência e um sofrimento implícito, enquadrado pela angústia que ganha forma via dispositivos. O que as imagens mostram são corpos negros em situação de trabalho. O sofrimento “implícito” se apresenta em toda sua força porque a violência está posta, até hoje. Instaurada e impregnada a ponto de fazer com que essas imagens se convertam imediatamente em algo que podemos tangenciar, sentir, presentificar. São signos de uma ferida ainda exposta.
Leia também:
- A Morte Branca do Feiticeiro Negro, por Julia Noá
- Textos de cobertura do 4º Festival Ecrã
- Stan Brakhage: fantasmagoria da expressão, por Luiz Soares Júnior
- Observações sobre uma arqueologia da violência, por Juliano Gomes
- Antiestética da voracidade, por Bernardo Oliveira
- Sobre ruínas, fronteiras e fantasmas, por André Keiji Kunigami
- A fartura da fratura, por Juliano Gomes
- Fantasmas do celulóide, por Luiz Soares Júnior
- A captura da imagem, por Lila Foster