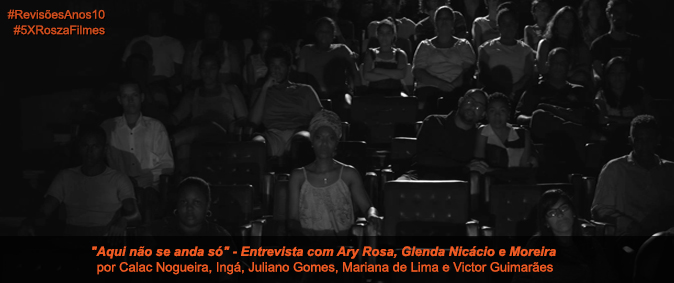O aparecimento no cenário público da Rosza Filmes, produtora sediada no Recôncavo Baiano e responsável pelos longas-metragens Café com Canela (Ary Rosa e Glenda Nicácio, 2017), Ilha (Ary Rosa e Glenda Nicácio, 2018), Até o Fim (Ary Rosa e Glenda Nicácio, 2020) e Voltei ((Ary Rosa e Glenda Nicácio, 2021), é um dos eventos históricos mais importantes da última década do cinema brasileiro. Seu método de trabalho – que associa uma intensa coletividade no processo, uma relação forte com iniciativas de educação, uma ancoragem em um território singular, uma abertura à errância e à experimentação dos modos de fazer filmes e um diálogo denso com as tradições do cinema brasileiro – é indissociável da multiplicidade formal e do aspecto aventuresco materializado nas obras. Nesta entrevista, composta através de uma troca escrita ao longo das últimas semanas, a realizadora, diretora de arte e produtora Glenda Nicácio, o roteirista, realizador e produtor Ary Rosa e o compositor Moreira nos contam sobre seus processos criativos, suas escolhas formais, suas concepções sobre o cinema brasileiro de ontem e de hoje. As perguntas foram elaboradas por Juliano Gomes, Ingá, Mariana de Lima, Calac Nogueira e Victor Guimarães, integrantes da redação da Cinética.
Juliano Gomes: Procurando linhas comuns nos quatro longas que vocês fizeram nos últimos anos, sinto que há um traço ligado à questão da coletividade, do como viver junto. Isso é, de certa forma, um problema clássico da ficção no cinema, quando vemos uma comunidade cujo valor, cuja vida, precisa ser restaurada, diante de algum tipo de ameaça. Cada um dos quatro filmes faz isso diferentemente, claro, em termos de tom também. Mas sinto que nos filmes os problemas nunca são individuais. Há uma espécie de atmosfera de hiper empatia que faz com que os problemas sejam de “todo mundo”. Nunca o drama é muito individualizado. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais individualiza os imaginários. Então, isso é de fato uma distinção. A coisa sai assim, vocês pensam sobre isso, essa questão toca a vocês de alguma maneira?
Glenda Nicácio: Difícil é pensar o que não nos toca. O cinema que fazemos já nasce nesse sistema de comunidade, que vai da equipe até a própria cidade. Os acontecimentos do país, do tempo, da natureza, das nossas mesmas vidas – tudo isso está moldando o filme, muitas vezes antes mesmo do projeto existir. Eu gosto de ver, principalmente no roteiro, como acontecimentos diários, dos mais nobres aos menos, são incorporados na trajetória de outras personagens, que passam a não apenas carregar, mas a transformar o fato, o tal acontecimento. Nesses dez anos de parceria, dividimos muitas histórias, algumas que eram vividas por todos, outras que eram acolhidas por todos – os nossos processos de produção são assim. Pensando nos filmes especificamente, as questões de uma comunidade são evocadas a partir de lugares de intimidade – essa é a palavra, ou melhor, esse é o viés -, então, ainda que o drama não seja especificamente individualizado, ele não é “de” ou “pra geral”. Ele é daquela comunidade, seja uma família, seja uma cidade, e eu acredito que isso desloca também o lugar do “outro” porque o outro é aquele que está do lado de fora, mas não está distante.
Juliano: Seguindo essa linha, dentre as pessoas ou grupos que fizeram um trabalho destacado em cinema nessa década, sinto que, em comparação, vocês têm um projeto de cinema que tem uma consistência muito própria e que se espalha para dentro e para fora dos filmes. Além de Café com Canela, Ilha, Até o Fim e Voltei, há um trabalho das equipes, na relação com a formação e com o território, que colocam o trabalho de vocês numa posição muito singular dentro do panorama do cinema brasileiro hoje. Inclusive, sinto que até uma certa discrição pessoal de vocês tem a ver com isso, porque o preço de figurar nesse mundo de autoimagens públicas é uma espécie de autoinvestimento individualista, “se vender” como um produto. Mas queria saber mais sobre o projeto de cinema de vocês, de uma maneira ampla, como isso atravessa a prática de vocês, como isso é trabalhado. Essa questão do coletivo, como vocês desenvolvem isso, como isso atua na produção dos projetos, nas redes e parcerias que vocês tecem. Enfim, gostaria de saber do trabalho de vocês, num sentido amplo, em relação a essa questão, porque me parece mesmo uma marca ética do que vocês fazem como grupo.
Ary Rosa: Desde o início, entendemos que estávamos diante de um projeto a longo prazo. Não seria simples, nem fácil fazer um cinema fora do eixo das capitais, um audiovisual reflexivo e popular, uma estrutura coletiva e sem aparentes referências. Desde que fechamos questão de que ficaríamos no Recôncavo, construímos nossa produtora nesse território, daríamos destaque às narrativas desse lugar, sabíamos que não seria possível reproduzir numa lógica de mercado, de economia, de linguagem baseada no que estava sendo feito nas capitais, em especial Rio de Janeiro e São Paulo. Não seria o caso de fazer algo novo (até porque não se trata de uma novidade – cinema no interior do país sempre houve na história do audiovisual brasileiro), se tratava de fazer algo diferente. Num 2011 com vastos investimentos públicos vindo dos governos Federais e Estaduais, centenas de produtoras começaram a surgir país afora (e adentro). Deveríamos entender o que estávamos construindo para entender para onde queríamos ir. Escolher ficar no Recôncavo foi algo definitivo e desafiador, mas, quem sabe, a escolha mais correta que fizemos ao fundar a Rosza Filmes. O segundo ponto, que julgo acertado, foi ancorar nossa trajetória no PROCESSO. Quando o protagonista é o processo, sobra pouco espaço para arroubos individuais; o processo é desgastante, não tem glamour, nem se parece com cinema. Mas, qual seria nosso processo? O que envolveria esse processo? (nos perguntávamos). Chegamos a alguns elementos nada novos, mas, que somados, produzem algo diferente: a) trabalho coletivo: entender que somos uma equipe diversa e que colocamos nossas subjetividades e talentos em função de um projeto; b) entendimento do território: compreender o Recôncavo, suas culturas, tradições e potências e aproximá-lo da produção audiovisual em sua linguagem, corpos, falas, paisagens e construções; c) economia criativa: inventar uma nova forma de interagir e, por muitas vezes, integrar a comunidade não só no processo fílmico, mas nos desdobramentos econômicos também; d) entendimento histórico-político: saber que, no Brasil, o audiovisual sempre teve altos e baixos atrelados a políticas públicas: um bom momento, como o de 2011, antecedia um mau momento, como vimos a partir de 2016; com isso, nos prepararmos para o que estava por vir (não esquecer que um péssimo momento, como 2021, antecede um bom momento que está por vir); e) autoinvestimento: entender que é importante investirmos nos filmes, nas estruturas e, principalmente, na equipe (se a gente não investir em nós mesmos, quem vai?); nesse ponto, a formação se coloca como imperativa, seja pela formação profissional (capacitando pessoas da comunidade a trabalhar com audiovisual), seja a formação de olhar (através dos três projetos de cinema e educação que desenvolvemos em escolas públicas em mais de dez cidades do Recôncavo ao longo dos últimos dez anos). Esses pontos já eram discutidos em 2011, mas, como escrevi no início, era um projeto a longo prazo, e aqui estamos (ainda refletindo, vivendo, agindo: processo).
Juliano: Falando agora de maneira mais concreta sobre o espaço nos filmes de vocês. Não só os filmes têm uma premissa espacial forte (vizinhança em Café, a ilha como espaço fechado em Ilha, o espaço único em Até o Fim e Voltei), como os espaços têm uma espécie de vida própria. Não sei se isso tem relação com o trabalho de Glenda com a arte, mas sinto que nos filmes os espaços são como que personagens. Eles oferecem muitos elementos aos filmes, são dinâmicos. Como isso é produzido? Varia filme a filme? Quando e como essa vida dos espaços se forma?
Glenda: Os espaços não são pensados para serem espaços, são pensados para serem sensações, e às vezes sim, personagens. Uma tentativa de contar a história com a perspectiva das coisas, alinhar a imagem visual com o coração do filme. Logo no início do projeto, depois que se fecha o roteiro, pensar: sobre o que estamos falando nesse filme mesmo? E cada filme quer falar de uma coisa, de uma forma. E nesse sentido me agrada “torcer” esse lugar do naturalismo, subverter o que a princípio não caberia na realidade daquelas personagens, se aproximar do intraduzível, tal qual a sensação, tal qual a memória. A direção de arte eu acredito que seja uma tentativa de contar a memória das coisas. Claro que tem um pacto muito forte com os personagens, especificamente, visto que os espaços são também construídos para esses corpos. Mas talvez os espaços se comuniquem mais com a atmosfera e com o sentimento que cada personagem carrega, do que com a história cotidiana que apresentam. Acho que os sentimentos transformam as coisas, os espaços. Pensa na nossa casa, quantas vezes ela se monta e desmonta em cada ciclo, em cada dia?
Ingá: A possibilidade de existência da Rosza Filmes no Recôncavo da Bahia também se conecta à história de um projeto de interiorização do ensino superior público, do qual a UFRB faz parte, instaurando em um ambiente como Cachoeira um circuito acadêmico que bebe da fonte da cidade, assim como os filmes também bebem, para se forjar crítica e esteticamente no mundo. De que maneira a relação com a educação, na pedagogia das obras e suas conexões com o território, é um valor considerado para a práxis política da Rosza? E como esse valor se atualiza nos processos de exibição e formação também tocados pela produtora?
Glenda: É muito bom poder falar em cinema e educação também falando em “cinema”. Parece que as vezes essa caixinha fica apartada do jogo, como se fosse algo muito específico, e pra nós ela tem se transbordado cada vez mais, principalmente enquanto entendimento. Nós realizamos oficinas de cinema e educação nas escolas do Recôncavo e do Baixo-Sul desde 2011, sendo produtores, oficineiros, cineclubistas itinerantes. Muitas experiências, nunca parecidas, esse lugar de ser atravessado pelo imprevisto o tempo todo diante de um plano, um quase controle. Mas refletindo sobre nossa trajetória, eu vejo todas essas experiências nos filmes, na produção e na estética, especificamente. Nossas propostas de produção buscam articular processos de aprendizagem, como a oficina de cenografia no Café com Canela, que fizemos para a equipe e parte da população; como a oficina do filme Ilha, que aparece enquanto registro do passado: não acreditamos num cinema pronto, mas em crescimento, em expansão, e acredito que isso se relaciona diretamente com a prática da educação. Esteticamente, gostamos dos planos que foram produzidos dentro da escola, e eles inspiram grande referência dessas imagens nunca vistas, que não existiam antes, que nascem livres, comprometidas com a vida, antes de com o próprio cinema.
Calac Nogueira: A produtora de vocês está situada na região do Recôncavo, Bahia, e os filmes de vocês transmitem uma relação muito forte com a região. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa relação de pertencimento (ou de não pertencimento) a esse lugar. Em que medida esse espaço é algo que inspira vocês e que vocês incorporam nos filmes? Pensam em fazer filmes em outros lugares?
Ary: O Recôncavo é o que move, o que dá força, o que inspira a gente. Somos muito felizes por fazermos filmes no Recôncavo, com o Recôncavo, para o Recôncavo. Podermos mergulhar narrativamente nesse território tão rico na cultura popular, na geografia, na história, é o que possibilita seguirmos produzindo de forma contínua e inspiradora.
Nosso grupo é formado por pessoas de diversas partes do Brasil que se encontraram aqui no Recôncavo pela UFRB. Aprendemos a fazer filme juntos, assistir filme juntos, discutir filme juntos, não em outro lugar, mas, no Recôncavo.
Nossos planos atuais estão totalmente alinhados com o Cachoeira, São Félix e Muritiba e com esse modelo de produção que amamos fazer e seguir fazendo.
Calac: Em um sentido mais amplo, gostaria também que comentassem como veem as relações entre centro e periferia no cinema brasileiro. Quais são as vantagens e desvantagens de se estar na periferia? Como é a relação de vocês dois especificamente com Salvador, se é que existe uma?
Ary: Nos últimos anos, o Brasil vem mostrando forte capacidade de criação audiovisual fora do eixo, e quando eu digo “o eixo”, não é me referindo as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas, sim, de um eixo econômico, criativo e linguístico representado por uma elite do audiovisual. Obviamente, a gente, geograficamente, acaba estando num lugar diferenciado, porque para além de tudo, vivemos e produzimos em cidades pequenas do interior, como Cachoeira, São Felix e Muritiba. Estar nesse lugar nos possibilita um outro ponto de vista sobre questões amplas. Acredito que conseguimos pensar uma série de questões narrativas, de linguagem, políticas que, com certeza, não é de um lugar privilegiado do audiovisual, mas que, de alguma forma, buscamos encontrar caminhos que tragam soluções, respiros e criatividades através de nossos olhares em nossos filmes. Temos pouca aproximação com o “eixo” de Salvador, mas temos feito movimentos para nos aproximarmos de uma Salvador “fora do eixo”.
Victor Guimarães: Durante muito tempo, a ficção brasileira recente investiu em regimes de atuação minimalistas, contidos. Quando aparece o Café com Canela e depois o Ilha, uma das coisas que mais me chama a atenção é que as atuações não têm receio do extravasamento de emoções em diálogos ou gestos expansivos. Me parece ser um traço notável do cinema de vocês. Como vocês lidam com a dramaturgia e, mais especificamente, com a direção de atores?
Ary: Glenda e eu não temos qualquer receio em apostar em estruturas dramáticas que flertam com o melodrama, ou uma comédia rasgada, ou mesmo usar da música ou da performance para expressar o sentimento de um personagem (se a narrativa pede, por que não?). Na contramão de muitos manuais de roteiro, acreditamos no diálogo, na fala como forma de expressão genuína do povo do Recôncavo; a contação de história é parte da tradição das personagens que escolhemos trazer para o cinema. O uso do diálogo, principalmente em Até o Fim e Voltei, é uma escolha econômica também; se eu tenho limitações financeiras de contar uma história com muitos espaços e tempos, pela fala buscamos trazer a imaginação do espectador, através da palavra o espectador poderá construir espaços e tempos (que nunca serão definitivos como uma imagem projetada). A imaginação e criação do espectador é o que complementa as lacunas estéticas de filmes que se passam em uma mesa de bar ou de casa. A contação de história, a oralidade, a criação de imagens através da palavra não são escolhas aleatórias, elas fazem parte das tradições e do modo de estar no mundo da gente do Recôncavo. Se a falta de dinheiro trava a produção; a palavra, enquanto linguagem, é uma possibilitadora de recursos e múltiplas criações. Não por acaso, trabalhamos com elencos que, antes de tudo, são exímios contadores de histórias.
A preparação de elenco não segue uma regra, mas se adapta a cada projeto e suas necessidades. Se em Café com Canela foi desenvolvida uma série de dinâmicas dos atores com o território e com a subjetividade de seus personagens; em Até o Fim a preparação se deu pela leitura coletiva em uma mesa e a presença da câmera próxima às atrizes.
Victor: Uma coisa que é muito marcante no Ilha é um diálogo assumido com a herança do que ficou conhecido no Brasil como “cinema marginal”. O que é que nesse repertório interessa a vocês? Ou, de uma maneira mais geral, como é a relação de vocês com as tradições do cinema brasileiro?
Glenda: A disciplina de cinema brasileiro foi uma das que mais nos tocou durante a graduação no curso de Cinema e Audiovisual da UFRB. Conhecer a trajetória do cinema brasileiro nos trouxe algumas transformações – fôlego, falando em cinema marginal. Lendo a história, pareceu muito antiga essa vontade clichê de ser o outro europeu, do forjar-se estrangeiro dentro do seu próprio país. E por isso, as imagens do lixo eram mais próximas, por trazer a liberdade de inventar, numa câmera que está disposta a olhar para tudo. E esculhambar. E avacalhar, isso sempre me agradou. Acho que nunca havia visto imagens tão brasileiras, que reverberam polifonia, na contramão de coerir o discurso. Vozes destoantes que nos jogam de cara para o absurdo. O absurdo que é o Brasil. O absurdo que é tentar contá-lo com pretensão. Nesse sentido, a performance nos cabe melhor, dança in poesia concreta em imagens alucinadas que não sabemos de onde vêm, mas que ainda somos nós.
Mariana de Lima: Entre tantos traços permanentes, tem essa coisa que marca nos filmes de vocês: o elenco canta. Em Café, Antônio Fábio entoa “João Valentão”, em Ilha Aldri canta “Clube da esquina nº2”, em Até o Fim, Arlete e Wall constroem longas sequências musicais, e depois Voltei!, que é inteiro canção. Pensando na entrada desses momentos cantados nas histórias, como é modelar a própria forma do filme no abraço dessas canções? E antes disso – pensando na presença da voz e no seu experimento enquanto corpo vivo no cinema de vocês – como é o sabor de convidar alguém a cantar?
Ary: A música atravessa nosso dia a dia e nossos processos de criação. Glenda e eu nos comunicamos muitas vezes pela música. E acreditamos que canções inseridas no audiovisual têm um poder fantástico de emocionar, de ser respiro, de sintetizar um sentimento, de possibilitar entrelinhas.
Nossos filmes têm ficado cada vez mais musicais, e isso se dá também pela parceria com Moreira, que vem compondo canções inéditas para os roteiros. Uma parceria que desemboca em nosso primeiro filme declaradamente ‘musical’, Mugunzá, gravado em janeiro de 2021.
Além disso, a gente tem essa felicidade de trabalhar sempre com um elenco muito musical, um elenco que, para além da formalidade, tem um carinho e um cuidado com as canções nas suas interpretações e na construção dos seus personagens.
Moreira: O Recôncavo – enquanto espaço geográfico e metafísico – é extremamente sonoro e musical. O ruído estéreo do rádio poste, publicitário ou cancioneiro, percorre todos os cantos da cidade, invade seus casarões de onde emanam também, em bom volume, músicas de todo gênero e gosto. Nos finais de tarde: igrejas, terreiros, filarmônicas e até a baiana do acarajé desafiam a “parafernália” sonora executando, numa esquina do centro da cidade, melodias em um sax. Viver aqui é um exercício continuo da musicalização. Sendo assim, como desassociar das personagens, famílias encarnadas no cinema a impressão sonora das suas “fictícias” existências? Antes de tudo, o Recôncavo é quem modela o “áudio” e o “visual”. De resto, a ação de dar molde, forma é conduzida pela arte do encontro. A música é um lugar de encontro, convidar alguém a cantar é humanizar o ficcional, e ficcionalizar o humano. Os personagens que atravessam essas histórias transitam no real destas cidades e a música, o texto, a fotografia, a arte e o som, alertam e se direcionam para um lugar comum: “gente é pra brilhar, não pra morrer de fome”, seja lá qual for a sua fome.
Juliano: Queria que vocês comentassem sobre a questão de uma certa brutalidade presente em Ilha. O que chamo de “brutalidade” é a presença de cenas onde ações violentas (seja graficamente ou psicologicamente) são encenadas. Essa força desmedida me parece ser uma marca importante de Ilha. Porém, há hoje um debate bem presente sobre os limites éticos do que se encena – em especial com personagens negras. Queria que vocês comentassem da importância da presença da violência, em múltiplas camadas, em Ilha. E também de como vocês pensam essa questão em geral, da encenação de uma intensidade mais agressiva. Como se pode trabalhar essa energia por dentro, sem desviar dela?
Glenda: A bruteza existe, sem dúvidas, ela é o chão do filme. E quando digo isso, vale ressaltar que, ainda assim, Ilha é um filme que também tem céu, que articula sutilezas e cuidado, coexistindo numa mesma mise en scène. É assim que enredamos a bruteza que o filme traz, porque ela por si só, ela só por doer, não nos interessa. Nesse sentido, não é nem de brutalidade que eu tô falando, é de bruteza – porque é isso que eu enxergo nos planos e no regime que fomos criando –, e a vejo presente principalmente na forma. Acho que a violência está no modo que escolhemos filmar; no grão da imagem, no movimento abrupto, no desconforto do imprevisível. De todo modo, sim, existem cenas em onde a encenação fica ali no jogo com a bruteza, e acho que é um limite bem fino, é um risco mesmo entre a bruteza e a brutalidade, mas é uma carga que é dividida entre a criação de linguagem e a encenação. E tudo muito conversado, com processos muito compartilhados, para a construção dos personagens e para a construção da imagem e do som. Essas questões nos são muito caras, e nos (per)seguem até a sala da montagem. Temos grande preocupação com as imagens que evocam a violência. A tentativa é não ignorar, posto que ela também é linha da trama da ficção e do real, e ela nos afeta cotidianamente. É dela que queremos, ou precisamos, também, falar. Todos os nossos filmes passam por esse lugar, de alguma forma. E o limite só encontramos olhando para cada filme. São jogos e construções muito específicas, e a nossa dosagem depende do limite de cada filme, o que cada personagem aguenta.
Juliano: Durante o período histórico da existência da Rosza é notável a intensificação de um debate histórico sobre racialidade e cinema, principalmente em torno da ideia de “Cinema Negro” e suas acepções. Vocês trabalham numa região que é sem dúvida um dos polos da cultura negra no Brasil. Minha pergunta seria: como é isso na prática de vocês, como essa informação é importante na escolha de elenco, na escrita do roteiro, nos métodos e modos de se trabalhar? Imagino que Ary seja lido como branco por aí – me desculpe se estou errado. Mas isso gera uma situação super interessante. Porque nos créditos vejo que, em geral, Ary escreve os roteiros. E aí me parece haver uma situação rica no sentido de compreendermos como uma parceria interracial pode trabalhar em relação a essa questão. Dentro do que se chama Cinema Negro no Brasil hoje, a contribuição de vocês está sem dúvida entre o que há de mais relevante. Portanto, me interessa saber, de vocês dois, como isso funciona, na cabeça e na prática de vocês.
Ary e Glenda: Aprender cinema aqui em Cachoeira mudou tudo. A cidade nos ensinou o cinema negro, e quando moldamos a produção do primeiro filme (Café com Canela), percebemos que a nossa dinâmica toda se comunicava com a cidade, tanto com a sua história quanto com a sua população e as dinâmicas que são estabelecidas numa das cidades mais negras do país. E isso está sempre em movimento, né? O fato de termos chegado aqui, aprendido o fazer junto aqui e não ter saído pra outras megalomaníacas produções, fez com que naturalizássemos esse esquema. Mas, cada vez mais, nesse exercício de olhar para fora e para dentro, eu tenho sentido e reconhecido essa trança. Essa questão interracial sempre foi muito debatida entre nós, e obviamente não tem como dimensioná-la. O fato é que apresentamos repertórios diferentes de vivência diante da negrura, e ainda assim há conversa. E, nesse sentido, o filme negro nunca se completa por essa ordem roteiro-direção. Me parece que são muitas memórias estancadas até aqui, e o filme negro precisa de muitos outros olhares negros, de outras memórias negras, de outras infâncias negras, para se moldar. O filme negro exige compartilhar, exige se existir pela costura, pelo alimento, pela casa aberta. Das nossas experiências, o filme negro existe – e nós conseguimos dimensioná-lo (também na narrativa, também no desenho de produção, também com equipe e elenco) – quando ele chega ao espectador negro. Quando falamos das memórias e do compartir é um pouco isso: precisa da memória da espectadora negra, precisa das imagens que ela conecta. Um filme negro tem por essência e vocação alcançar, evocar, provocar, abraçar as memórias de um público negro, (re)produzir imagens que se comunicam intimamente com ele.
Principalmente porque nós não chegamos querendo partir, nós chegamos querendo ficar, fizemos casa aqui, temos pouquíssima referência do fazer cinema fora dessas margens. Quando penso em fazer cinema a primeira coisa que me vêm na cabeça são os nossos processos, processos próximos, e eles são processos muito estruturados diante de uma perspectiva negra. Nada está pronto ou em definitivo; a cada filme, a cada ano que passa, a cada novo olhar os debates, conversas e cuidados continuam se aprimorando, avançando, sendo construídos coletivamente.
Juliano: Glenda, provavelmente, na história do cinema brasileiro, você é a primeira diretora negra a dirigir e lançar – até agora – quatro longas de ficção. Inclusive, num espaço de tempo relativamente curto. Mas o que mais me interessa disso é que tenho a impressão de que você faz sua trajetória com uma certa leveza em relação a isso. É muito subjetivo o que vou dizer, mas sinto não haver uma preocupação da tua parte em publicizar isso ou agir segundo as expectativas do que se espera desse feito importante. Na verdade, percebo uma certa discrição em vocês dois em relação a manifestações públicas e autopublicidade compulsória. Hoje, isso se tornou uma moeda incontornável, o “fazer propaganda de si mesmo” 24/7. O que de fato eu gostaria de perguntar é sobre isso, sobre como vocês mediam isso. Nos últimos anos, o trabalho em arte me parece ter sofrido uma mutação, tornando-se o complemento de uma performance pública permanente. É quase como se um filme fosse um complemento da atuação no Instagram, entende? E sinto que a “performance pública” de vocês – até onde consigo perceber – é desproporcional à importância histórica que o trabalho de vocês já tem. Imagino que isso seja de alguma maneira natural. Me digam se esse tipo de questão passa por vocês, se é algo que lhes ocupa como questão. É algo que penso muito, porque quem opta por certa presença mais discreta se “desvaloriza como produto”, segundo a lógica mais corrente. Digam lá.
Glenda: É, tem essa lógica aí. Mas eu, ainda depois de onze anos de Bahia – que me salva todo dia – ainda carrego as mineirices do comer quieto, e com os meus, e com as minhas. Carregamos, eu e Ary. O segredo sempre é uma companhia que nós nunca desprezamos. Isso é muito nosso. Afinal, não ser vista é também não ser vigiada. Não sei o que esperam, intuo, mas não me interessa saber ao certo. Acho perigoso e previsível esse jogo… “Eles” sabem exatamente o que precisam, do que precisam, quando precisam de mim, da minha performance. E tudo tem um ar de “bondade”, de “admiração extrema”, que eu desconfio. E não gosto, não me conforta ouvir o quão maravilhosas somos (nós cineastas negras). Porque é isso, ninguém lá fora sabe de nada e agem como se soubesse de tudo. Como se soubessem mais dos processos do que eu mesma. E aí me impõem esse fardo de ter que dar a resposta certa (a resposta que eles querem ouvir), de ter que ser deusa. Uma vez numa entrevista me perguntaram como era ser essa deusa no cinema. Oi? Parece legal, mas é extremamente perverso. É uma lógica muito cruel essa de que você precisa ser vista, você precisa estar em tudo, você precisa falar: já me expus em muitos lugares agressores seguindo essa roda. Me cansa, quero não, passo. E não acredito que a História aceite se escrever assim. A História que eu acredito não se escreve assim. No mais, faço parte de uma equipe que eu amo, já atravessamos uma década juntos e ainda queremos mais. Me sinto bem servida de alimento, bebida e amor, poucas coisas me interessam, e o que me interessa me tem, nos chega. Aqui não se anda só.
Leia também: