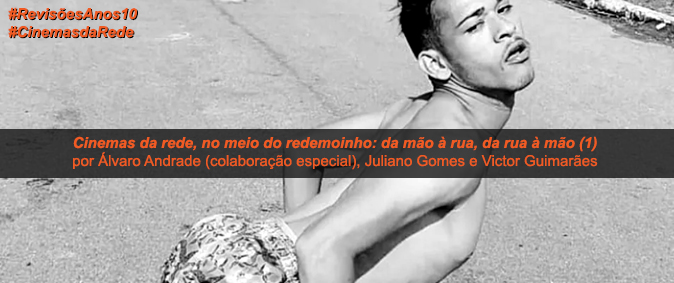Ao olhar em retrospecto para a última década de imagens fílmicas no Brasil, percebemos que se tornou insustentável para a crítica brasileira uma postura de negligência em relação a uma multidão de filmes realizados em todos os cantos do país, por realizadoras e realizadores diversos, que circulam diretamente por meio de plataformas online, sem a chancela dos festivais ou dos circuitos tradicionais de exibição. São filmes curtos, sem edital, sem crédito, sem certificado da Ancine, sem logo da Netflix, muitas vezes anônimos e sem título, compostos a partir de filmagens caseiras ou de remontagens de materiais pré-existentes. Os filmes existem, estão aí, e são milhares. O interesse em relação a eles é difuso, porém real e intenso. Por outro lado, não encontramos, até o momento, nenhum esforço de fôlego para pensar esses materiais do ponto de vista de uma história das formas fílmicas. A definição mesma desse campo é equívoca e desafiadora. As perguntas se multiplicam. É cinema amador? É cinema popular? É cinema? Na tentativa de cartografar o campo e ensaiar algumas apostas, a conversa a seguir foi realizada entre Álvaro Andrade, pesquisador há muito interessado nesse universo, autor da dissertação de mestrado A liberdade de Vingativa: performance, performatividade e gesto (2019), sobre o trabalho de Leona Vingativa, e os redatores da Cinética Juliano Gomes e Victor Guimarães. Os encontros de escrita aconteceram remotamente ao longo de duas semanas, no último mês de novembro. A conversa será publicada em duas partes e será seguida por um conjunto de mais de dez textos em torno de filmes, a serem publicados até o fim deste ano.
***
Em busca de um mapa

Álvaro Andrade: Sempre que penso no atual momento das imagens, que acontece a partir da popularização do gesto de filmar, da rapidez com a qual os registros costumam ser disponibilizados no espaço público da Internet e das interações que provocam, me vem à cabeça uma comparação com o gesto da escrita. Se concordamos que, para que se escreva, materialmente, basta que se tenha papel e caneta (ou, no limite, um dedo e um terreno arenoso), é correto afirmar que até bem pouco tempo escrever era um gesto muito mais possível do que filmar. Para escrever, no entanto, a pessoa precisa ser alfabetizada. Ou seja, as condições materiais são acessíveis, mas, infelizmente, a formação para que se escreva é ainda escassa. Com o vídeo, por sua vez, parece acontecer o oposto. Apesar de só agora sua produção e veiculação terem começado a se tornar acessíveis massivamente, sua técnica básica, de um modo geral, é infinitamente mais simples e intuitiva, assim como sua gramática. O importante, no caso, não é o que isso tem a dizer do cinema ou da literatura, mas sim o fato de que, por esse motivo, a popularização da escrita audiovisual é provavelmente a maior abertura do campo de produção simbólica midiática já ocorrida na história da humanidade.
Juliano: A profecia se refez: yes, nós temos caméra-stylo – talvez de forma ainda mais intensa do que o texto do Astruc desenhava no final dos anos 1940. E sim, muitos brasileiros têm uma câmera. E agora? O que aconteceu é que o desdém continua, da nossa parte. Portanto, há essa enorme defasagem entre o que foi feito e o que foi pensado e desdobrado. E acho que isso importa muito mais pra gente “aqui” do que para quem faz. A questão é fazer um trabalho que nosso campo deve a ele mesmo. O efeito que isso teria em quem faz é algo secundário, ínfimo. Quem tem a aprender e tá papando mosca são os pesquisadores de ofício. Essa negligência não é tão diferente da não tão distante divisão “filme versus vídeo”, ou do desdém em relação aos trabalhos feitos em TV, inclusive os feitos por artistas de destaque no cinema.
Victor: Depois de tudo o que vimos na última década, não dá mais pra ignorar esse mundo, como temos feito há tanto tempo. Quando li o texto de Caetano Veloso em sua coluna n’O Globo de janeiro de 2013, em que ele comenta sobre “O redemoinho” – filme conhecido pelo bordão “É Deus, mamãe!” -, senti que havia ali o indício de um caminho que, infelizmente, não foi trilhado por nós. Ele dizia: “É um dos mais belos filmes brasileiros recentes. Tem o que há de forte em ‘Avenida Brasil’ e em ‘O som ao redor’. É apenas um vídeo amador familiar que, sendo ele mesmo um milagre, versa sobre uma situação milagrosa”. E depois: “numa obra de ficção teria sido um grande conseguimento armar um quadro tão representativo e manter tão alto nível de naturalismo e encanto visual”. Nesses pequenos fragmentos, já identifico três tarefas fundamentais para o nosso campo. Em primeiro lugar, uma atenção à história das formas: esses filmes não surgem dissociados de traços que os antecederam e que lhes são contemporâneos; eles fazem parte de uma história, a constituem no mesmo movimento em que a deslocam. Em segundo, uma abertura para a novidade que eles instituem: os filmes-milagre, como o da criança que rouba o celular da moça que dançava funk e sai correndo com ele, ou todos esses em que o acaso é criador, são quase um subgênero dessa produção (e que não existia antes de forma tão constante). Finalmente, uma percepção aguçada para o que esses filmes criam, para o que está em jogo na materialidade e nas escolhas. Ainda nos falta olhar para esses filmes com os olhos e os ouvidos abertos, aceitando seu jogo próprio e ao mesmo tempo procurando desdobrá-lo na escrita.
Álvaro: Essa faceta milagrosa da multiplicação das câmeras de vídeo e, logo, das imagens realizadas por amadores e dos acasos gravados, me faz lembrar da compreensão leminskiana (1984) de Jesus como um superpoeta: “A multiplicação dos peixes, um dos milagres mais célebres de Jesus, é, no fundo, a multiplicação infinita dos significados”. Jesus não escreveu uma palavra sequer, se valeu do letramento do grupo de apóstolos que reuniu para mandar seu recado. Poderíamos extrapolar, para efeito de linguagem, ser ele uma criação desses apóstolos, um milagre possibilitado pelo domínio de uma linguagem – a escrita, no caso.
Victor: O cineasta cubano Julio García Espinosa, em seu manifesto “Por um cinema imperfeito”, de 1969, em que ele vislumbrava utopicamente essa paisagem cinematográfica em que nos encontramos, dizia algo parecido: “Não se trata mais de substituir uma escola por outra, um ismo por outro, uma poesia por uma anti-poesia, senão de que, efetivamente, cheguem a surgir mil flores distintas. A arte não vai desaparecer no nada. Vai desaparecer no tudo”.
Álvaro: Enquanto ainda existem em todo o planeta 750 milhões de jovens e adultos que não sabem ler nem escrever (e o primeiro alfabeto teria surgido cerca de 2000 a.C.) podemos dizer que, grosso modo, todos sabemos ver, escutar e apertar um botão de “rec”. Somos, portanto, sem muito acréscimo de esforço, pré-letrados em filmar e ver filmes e, assim, nos basta um celular nas mãos e seremos potenciais artistas e/ou profissionais, pulverizados apóstolos de futuros messias, a escrevermos numa linguagem cuja primeira consolidação gramatical se deu há pouco menos de 100 anos. Estamos falando de poder. Nesse sentido, outra comparação me parece ainda mais curiosa, e fala diretamente da treta a que nos propomos. Me refiro ao fato de que, embora a literatura tenha estado desde sempre à frente do cinema em termos de procedimentos, se experimentou relativamente pouco o deslocamento do uso corrente, cotidiano, de fragmentos ou peças escritas para o campo da literatura por se ver nelas, a despeito de suas intenções, alguma beleza ou valor artístico. No entanto, me parece ser essa, de algum modo, a primeira busca de olhares que partem do cinema, da academia e da realização profissional para a produção amadora. Mas seria limitador parar por aí. Então, para que a gente possa ir além, me pergunto e pergunto a vocês o que buscamos ao encarar, de modo tão intrinsecamente limitado, esse material infinito acumulado na última década. Como recortar?
Victor: Acho que o mais produtivo é multiplicar os recortes. Não olhar pra esse material como quem busca sistematizar uma produção que é gigantesca numa leitura única, mas fazer apostas em relação ao que a gente vê. É importante desconfiar da ideia de cânone, ao mesmo tempo em que é fundamental arriscar leituras – no atacado e no varejo -, porque, do contrário, quem perde é a comunidade. É evidente que essa produção já é relevante o bastante – as apropriações desse mundo já estão nas artes visuais, na televisão, no cinema -, mas todo mundo parece ter medo de arriscar dizer algo. Antes de a gente começar esse exercício aqui, fui tentar procurar alguma leitura desse universo e não achei praticamente nada. Até encontrar as palavras-chave para uma pesquisa é difícil. E a resistência é enorme. Numa segunda coluna à época, depois da primeira em que analisa “O redemoinho”, Caetano contava: “Nunca recebi tantos comentários de leitores desta coluna. De um desembargador que eu não conheço a um diretor de filmes experimentais de quem sou amigo, recebi várias observações (quase todas desaprovando meu entusiasmo)”. E segue enumerando as “tantas demonstrações de desconfiança e desconforto relativos a meu ardor por esse acidental curta goiano”, para concluir: “Por que estou discutindo de público até mensagens que me chegaram por caminhos privados? Porque continuo crendo que o vídeo do redemoinho é belo, didático e relevante. E acho igualmente significativo que tantos tenham querido se dirigir a mim desqualificando-o. Regina Casé, que foi quem me alertou para sua existência, contou-me que também com ela se dá algo assim: as pessoas a quem ela o mostra acham que ela vê nele mais do que de fato há”. Que esse texto de Caetano de 2013 seja o que mais motivou respostas negativas à coluna, a ponto de ele ter que escrever outra para reafirmar o que parecia um disparate à época, me parece um ótimo sintoma do vespeiro.
Juliano: É uma produção que obriga a redesenhar o campo, ao falar dela. Porque não está dado. Portanto, é necessário um certo exercício de cânone, de escolha de um conjunto. Mas antes disso, me deu vontade de perguntar sobre o que é que estamos falando. Qual o contorno do conjunto? Sinto que fomos direto para a página 2.
Victor: Acho que estamos falando de um capítulo novo da história das artes fílmicas, que surgiu com a popularização massiva das câmeras portáteis acopladas a celulares e dos dispositivos de edição ali em meados dos anos 2000. Com a chegada do Super 8 e das primeiras câmeras de vídeo ao Brasil, entre o fim dos anos 1960 e o começo da década seguinte, houve uma apropriação dessas tecnologias por parte de artistas que já faziam cinema, poesia, performance ou artes visuais – que já foi bem mapeada (basta ler os textos de Arlindo Machado, Rubens Machado Jr., Guiomar Ramos, Lucas Murari, entre muitos outros) -, e também toda uma imensa produção amadora – muito menos conhecida, mas que também tem vindo à tona, em pesquisas como as da Lila Foster. Mas quase sempre a realização – e sobretudo a difusão – permaneceram restritas à pequena burguesia. Hoje, estamos falando desse imenso campo que se abriu, no qual a feitura dos filmes pode fazer parte da vida cotidiana, sem intermediários a não ser as plataformas de difusão corporativas – que conservam, a contrapelo, certa margem de anarquia -, sem que os realizadores desses materiais se considerem necessariamente artistas (isso pouco importa, na verdade: como disse Juliano citando Negão da BL outro dia, “o bagulho é a prática”). Estamos falando dessa produção multitudinária que surge de qualquer lugar e pode ser vista por qualquer um a qualquer hora.
Álvaro: Uma coisa curiosa é notar como a reconfiguração do ecossistema de imagens provocada por essas mudanças tem começado a eliminar atravessadores entre produtores e público. Assim, as formas em que chegam às pessoas nesses inúmeros filmes não são mais apenas as refinadas pela peneira do capital e do “bom gosto” dos burocratas, sempre pautados pela média, e nem mesmo por certos pudores (não necessariamente no mau sentido) da arte, mas um conjunto impossível de conformar por conta de sua enorme quantidade e variedade. É uma produção ainda contaminada por tudo isso, mas que frequentemente escapa por uns caminhos meio loucos. Até agora, parece ser muito mais imprevisível, constantemente mutante, mesmo que haja também os algoritmos operando nas redes sociais, tentando fazer seus cercadinhos e canalizando essa produção de modos que ainda não sabemos direito.
Victor: Lembro novamente da utopia do García Espinosa de 69: “o que acontece se o desenvolvimento econômico e social reduz as horas de trabalho, se a evolução da técnica cinematográfica (como já apresenta sinais evidentes) torna possível que esta deixe de ser privilégio de uns poucos? Ocorre então não só um ato de justiça social: a possibilidade de que todos possam fazer cinema; senão um feito de extrema importância para a cultura artística”. Esse imenso descentramento e essa notável deselitização do processo não são só importantes do ponto de vista da justiça, mas do ponto de vista estético. García Espinosa retomava a história da arte popular pra dizer que, nela, nunca houve uma separação estrita entre quem faz e quem vê, ao mesmo tempo em que buscava as estratégias recentes da arte moderna (combate da arte para museus, deslimite entre criador e público) para buscar um “desenlace lógico” que conduziria ao futuro do cinema imperfeito: “Se se implanta a possibilidade da participação de todos, não se está aceitando a possibilidade de criação individual que temos todos?”
Armadilhas da norma

Álvaro: Por outro lado, esse desvio da instituição não vai ter necessariamente resultados mais livres ou saudáveis. É importante se ligar nisso. Outro dia vi um negócio que me espantou um bocado. Acho que quase todo mundo já ouviu falar em merchan, algo muito comum em filmes e telenovelas, que são essas propagandas embutidas nas cenas, seja na boca de personagens ou apenas como objeto visível. Pois bem, o merchan sempre teve que passar, como que obedecendo a um acordo tácito, pelo crivo do bom gosto artístico – o que quer dizer, de um modo geral, não ficar muito explícito. Sendo dono, diretor e personagem de seu próprio canal, Luccas Neto (segundo maior YouTuber brasileiro voltado ao público infantil, com 32,8 milhões de inscritos, atrás apenas de seu irmão, Felipe Neto), decidiu inovar e vender seus produtos à meninada com um pouco menos de pudor: descrito como um lugar onde “[a criança] pode viver o seu sonho [e usar] a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia!”, no mundo mágico que Luccas Neto constrói, quase tudo – cenário, figurinos, objetos de cena – são produtos originais da própria série que se está a assistir, estampados com rosto e nome do personagem. – I see Luccas Netos… – Where? – Everywhere. O sonho, na verdade, é uma monotemática distopia fofo-capitalista instalada em um mundo de fantasia onde uma menina vive hipnotizada por um culto à personalidade de seu egocêntrico irmão mais velho. Um meta-merchan que ficaria ótimo numa sátira, desperdiçado pela realidade. Brincadeiras à parte, acredito que esse exemplo é um alerta para a necessidade de regulação da publicidade em conteúdo infantil produzido na internet, mas também mais uma evidência da urgente necessidade de que nós, como sociedade, sejam os órgãos reguladores, a crítica ou o público em geral, olhemos para esses filmes de orelhas mais em pé.
Victor: Fiquei pensando naquele ensaio da artista e pesquisadora Hito Steyerl, “Em defesa da imagem ruim”, de 2009, que é um dos únicos esforços que conheço mais atentos a esse campo (ainda que o texto só toque no assunto tangencialmente). A certa altura do texto, ela diz que essas imagens “apresentam um instantâneo da condição afetiva da multidão, sua neurose, sua paranoia, seu medo, assim como seu anseio por intensidade, diversão e distração”. É preciso não ter nenhum romantismo. Essas imagens são o nosso mundo. Então acho que é preciso dois gestos simultâneos: encontrar, incansavelmente, os restos de caos, de beleza, de inquietação em meio à norma; e prestar atenção nos movimentos da norma, rastrear suas transformações. Do ano em que ela escreveu pra cá, o capital entrou pesado nesse jogo. Passamos de um momento mais incipiente – em que tudo parecia ser invenção – para um outro muito mais complexo, onde tem de tudo. É preciso afiar os olhos pra navegar nesse mar.
Álvaro: Sim, olhos afiados e cabeça aberta. Essa imensa popularização dos meios, inclusive, me parece uma oportunidade única, que pode desencadear um amplo processo de formação (ou afiamento) do olhar, que aconteça não apenas dentro das instâncias formalizadas de pensamento audiovisual, mas também para fora, que seja comum. Seria algo como tornar popular, no sentido de corriqueiro e cotidiano, a exposição do pensamento que já existe por trás dessas imagens que nos chegam a todo instante. Os caminhos para esse essencial processo pedagógico parecem estar sendo desenhados de forma espontânea dentro dessa produção, a cada novidade que surge e é replicada e modificada e remixada. Além do mais, acredito que esse processo esteja em curso porque o caminho comum a partir da popularização de um gesto é que seja exposta, em um primeiro momento, a ingenuidade de quem recém se inicia, mas em seguida o que vem é a compreensão de sua malícia. É quando a perda da ingenuidade começa a dar lugar à malandragem do olhar experimentado. Talvez seja esse o momento pelo qual estejamos passando como comunidade, nesse fim de década. Então ajudar a desencadear o processo ao qual me refiro seria apenas sublinhá-lo, trazer insistentemente à tona seus fios invisíveis. E é importante, também, que esse aprendizado não tenha como objetivo chegar à Netflix, ou seja, não se trata apenas de aprender a cartilha clássica, mas de ir além, de entendê-la pra se libertar, se manter eternamente mutante. Como diz Luc Moullet: “Os cineastas, na medida em que não forem constrangidos pelas necessidades materiais, deverão se recusar a fazer cinema-linguagem. (…) Cada um de nós deve poder gritar bem alto: ‘Abaixo a linguagem cinematográfica para que viva o cinema!’.”
Onde está a invenção?

Juliano: Quais seriam então os limites dessa produção, pensada como campo, em relação a funcionar como reprodução da norma, do normal? Onde ela reafirma valores já estabelecidos e diminui seu potencial de inventar formas de discurso, de inventar novas línguas? A gente consegue desenhar um mainstream e um campo independente, dentro dessa produção? Há outra forma de delimitar algo dessa natureza? Não sei mesmo como começar a desenhar uma linha muito definida em relação a isso. O que vocês acham?
Álvaro: Primeiro, talvez seja o caso de pensar que esse tipo de delimitação parte já de algumas impossibilidades que, embora não invalidem sua tentativa, precisam ser sempre lembradas. Ou seja, delimitar a partir de onde? Qual o “todo”? Se pensarmos que alcance e interatividade são valores conectados e muito importantes nesse momento (afinal de contas, essa produção chama nossa atenção não porque a descobrimos escondida, mas porque, na maioria dos casos, salta a nossos olhos), pensar essas relações poderia partir, num primeiro momento, de onde o poder está concentrado. Então nossa delimitação seria quem consegue colocar a cabeça pra fora nesse “informar” de imagens. Quem consegue acumular poder, se manter visível, nesses termos, para pensar os motivos pelos quais consegue, até porque estes nem sempre serão justos. Feito isso, a crítica e a curadoria têm outra importante missão: a busca ativa, escavando a internet, para tentar furar e tensionar algoritmos e modas.
Juliano: Talvez perguntaria então: onde está a invenção?
Victor: Eu acho que tem que ir caso a caso. Essas imagens são o nosso mundo, onde norma e invenção podem estar em todos os lugares. Estava vendo agora os últimos filmes do canal Rony Oliveira. Ele tem dois milhões de seguidores, ou seja, não está escondido nem é marginal em termos de visibilidade. Tem uma coisa ali que é das mais interessantes: os filmes sempre parecem ter um enredo, com atos rumo a um desenlace. O último que vi era um churrasco em que, a cada novo cria que chegava no rolê, a expectativa de alguém trazer a carne era desfeita. Parecia que ia girar em torno disso, desse churrasco sem carne. Nada mais “norma” que enredo funcional. Só que aí num dado momento um traz a carne, e a gente percebe que essa linha de enredo era o de menos. Eles fazem a egípcia pra construção narrativa, expectativa, viradas de roteiro. O que importa é o jeito de corpo, essa maneira de falar que é uma metralhadora de palavras saindo aos borbotões, onde quase ninguém entende tudo o que se diz – porque o que interessa é o que a fala produz como acontecimento sonoro na cena e na comunidade. Bom gosto uma over.
Álvaro: Talvez seja interessante tentar pensar a relação invenção versus poder dentro desse novo mundo. Mas, em todo caso, acho que nosso papel aqui será o de levantar bolas que não poderemos mesmo cortar. Digo isso porque cada nova ideia que surge por uma provocação do diálogo parece abrir portas para caminhos tão vastos que só mesmo um mergulho profundo em tal canal ou personagem poderia esclarecer uma coisa ou outra, e olhe lá. É bom lembrar que às vezes pinçamos um vídeo de um canal com uma década de produção quase que diária, em alguns casos. Isso me faz pensar nesse propósito, retomando algo que Juliano falou lá no começo, quase como uma autoanálise do campo. Ou seja, ao admitir a impossibilidade de lidar com um oceano tão infinito, vamos olhar para o próprio barco e ver como ele pode pelo menos melhorar. O barco e as demais ferramentas.
Juliano: Sim. vejo distinções possíveis. Tem os trabalhos continuados e aqueles que são acontecimentos isolados. Por exemplo, O Negão da BL, que seria uma espécie de performance provocativa, documentário de provocação como performance em plano único. Seus vídeos com sua mãe Gisele são sempre uma espécie de remake e sempre “funcionam”. Isso é um gênero: essa coisa de apostar num dispositivo para que a realidade responda. O Rony Oliveira é um cômico nos moldes da nossa tradição, em todos os sentidos, só que exibe em outro lugar – e, claro, há diferença nos modos de produzir e nas formas das séries. A Faela Maya também. Então, uma distinção entre os flagras e os encenados já não daria conta, mas é alguma coisa. Vocês acham que tanto os flagras quanto os encenados fazem parte do universo que estamos falando? A gente vai precisar de categorias, não tem jeito… Digam aí.
Álvaro: Acho que essa pode ser, sim, uma primeira divisão, algo entre a espontaneidade e a encenação, e a mistura, porque isso também já foi muito bem incorporado por quem tá produzindo. Muitos supostos flagras são encenados e já está bem difícil conseguir distinguir, a depender do caso. Além disso, toda a problemática das fake news passa por aí também. Os aplicativos de emulação de rosto e voz, como aquele que o jornalista Bruno Sartori usa pra fazer suas sátiras no Instagram, estão avançando assustadoramente. Em todo caso, a encenação tem um lugar de destaque. Acredito que a noção de cena, ou alguma noção, possivelmente, seja a mais compartilhada entre amadores e profissionais, mais do que plano, inclusive. Um bom caminho é partir desse conceito, pensar quais percursos essas cenas (sejam pré-concebidas ou totalmente espontâneas) seguem em seus desdobramentos.
Criar parentescos, fabricar relações

Victor: Pensando em método, eu tendo a achar que criar parentesco, fabricar relações, é mais importante do que delimitar. Um pouco na linha do que Donna Haraway propõe em Staying with the trouble, livro de 2016. Criar categorias mais locais, a partir dos filmes, e menos globais. Perguntar, por exemplo: Negão da BL rima com quê? Rony Oliveira rima com quê? Essas relações apontam pros outros peixes desse mar, formam cardumes, e ao mesmo tempo podem mobilizar tradições passadas, como Juliano disse acima em relação aos cômicos. Há muitas genealogias possíveis. Onde é possível, hoje, vislumbrar o maravilhamento das vistas Lumière? Onde foi parar a tradição inventiva da chanchada brasileira? O que tem acontecido de mais significativo em termos de montagem no cinema atual? Respostas sinceras a essas três perguntas não vão dar no cinema institucional, e sim nesse campo que nós estamos tentando mapear aqui. O universo é amplo mesmo, nesse mar tem de tudo. E, sempre que possível, acho importante ficar de olho não só nos peixes singulares, mas nos movimentos das ondas. Álvaro falou do Luccas Neto. Existe uma onda enorme de canais voltados pra crianças que parecem se apropriar de categorias como “espontaneidade” ou “encenação” pra torcê-las em favor da norma. Um dos vídeos mais vistos do canal Planeta das Gêmeas, com quase 50 milhões de visualizações, se chama “Rotina da manhã de uma sereia”. O mar é uma piscina, é cheio de trucagens “toscas” que fizeram a glória de tanta coisa inventiva, as atrizes são crianças (não tem nada mais antinorma que criança, sempre tem algo que escapa do roteiro). E, no entanto, os signos da norma capturam tudo: não é mais do que um disfarce pra vender fantasia infantil. A norma não tem uma cara única. Ela pode ser bem difícil de distinguir do gesto inventivo em termos muito gerais. Mas aí é criar parentesco aí também, fabricar relações.
Juliano: Isso me faz pensar numa coisa: essa produção desfez certas verdades estáveis sobre a relação entre técnica e popularidade. A coisa do “bem feito” que, antes dessa onda, seria uma certa verdade pétrea do que “atrai público” (“filme brasileiro é mal feito”, por exemplo), se dilui. Inclusive, o “mal feito”, isto é, o artesanal, o farsesco, a técnica como invenção, é parte da força dessa produção. E essa inversão não é uma coisa pequena. É mesmo uma mudança radical de paradigma, porque uma certa performance técnica é o que garante, por exemplo, o imaginário de coisas da Netflix, como essa coisa do “parecer profissional”, que em SP dá muito também. Isso é um tiro certeiro no coração da Retomada, porque essa é sua premissa de base: se afastar por completo da ideia de artesanal em direção ao look profissional-publicitário-humanista. Inclusive, essa inteligência artesanal produz, curiosamente, identificação. Isso é um xeque-mate em muita coisa, é uma identificação estética. Acho uma inversão extremamente relevante e de consequências avassaladoras.
Álvaro: Vou ter a cara de pau de citar um trecho da dissertação que escrevi sobre o trabalho de Leona Vingativa, porque há um parágrafo que fala justamente disso: “Dentre outras coisas, imagino que isso [a identificação entre “bem feito” e público pressuposta e imposta, de certo modo, pela indústria] ocorra porque, por uma série de associações automáticas, relacionamos os ruídos a certa ideia de acabamento, de modo que denotariam uma precariedade que seria a dos instrumentos ou da técnica. Logo, relacionada com uma pressuposição da evolução instrumental e técnica a ter como fim um ideal de perfeição na construção de imagens que, no fundo, tem a representação como guia, sendo o objetivo principal chegar mais perto o possível do que vemos a olho nu. Talvez seja para contestar essa ilusão que o cinema de Jean-Luc Godard, em um momento em que os aparatos cinematográficos permitem fazer imagens cada vez mais fidedignas ao que vemos, venha se aproximando cada vez mais do ruído. Para denunciar justamente esse engano, essa confusão material promovida pelo capital no campo da arte. Afinal de contas, quando dizemos que uma câmera é boa ou ruim, quais valores essa pergunta esconde? Vale lembrar: a quantidade de megapixels, diretamente implicada na resolução, é justamente o argumento mais utilizado pela publicidade para vender câmeras.”
Victor: A invenção a partir da precariedade é talvez a contribuição teórica mais importante do cinema latino-americano na década de 1960 – a ideia mais recorrente e mais fecunda nos manifestos mais relevantes da década. Tá no “Cinema e subdesenvolvimento” (1962) do argentino Fernando Birri, ganha corpo na “Estética da Fome” (1965) do Glauber, faz uma curva militante no “Rumo ao Terceiro Cinema” (1969) dos argentinos Fernando Solanas e Octavio Getino, deságua no “cinema imperfeito” (1969) proposto pelo cubano García Espinosa e explode no “A questão da cultura” (1970) do Sganzerla. Naquele momento, foi uma intervenção tática no sentido de inverter valores coloniais. Hoje parece que o jogo virou, não é mesmo? Os inimigos mudaram de cara. A ideia colonial do “bem-feito”, do “bom gosto”, já não é mais hegemônica. Não há uma relação indissociável entre “qualidade” técnica, visibilidade e dominação. Ao mesmo tempo em que algumas das invenções mais fortes desse campo continuaram essa tradição – Leona, entre muitas outras. -, ela já foi subvertida pelo campo oposto, que vai dar no modo como a estética bolsonarista tem se apropriado formalmente desses valores.
Políticas da imagem ruim

Juliano: Falando nisso, ontem, o Messias postou um vídeo desconcertante. Ele diz “Bom vídeo” e posta isso. Ele é de fato o primeiro cara a perceber e investir na quebra dentro da comunicação política numa escala maior. Ele percebeu uma política da invenção no artesanal, essa espécie de identificação pela técnica do amador. E nós estamos vendo os efeitos disso. Na verdade, a comunicação pública dele é toda essa. E agora, num momento de crise, de baixa do governo, ele posta isso. Que é também um vídeo “sem conteúdo”. O paradigma da representação não consegue “ler” esse vídeo. Ele não diz nada. Sequer representa alguma coisa. Pelos comentários no Twitter, dá pra ver que os interpretadores estão pistola. Porque a conta não fecha. Essa revolução é, queira-se ou não, formalista. No sentido de que é performática, no âmbito da cena, mas também da técnica. O vídeo não é só o que ele mostra, mas o gesto de postar, o tom do texto que acompanha, a relação do material com a posição que ele ocupa no país. É uma espécie de arte total, mas “pobre”, “ruim”, no sentido da Steyerl. É realmente muito sofisticado, tenho que admitir. O que vocês acham?
Álvaro: A postagem-vídeo-performance (no caso, a do homem-espectador-comum, embora presidente), curiosamente me faz lembrar do final de Guerra ao Terror (Kathryn Bigelow, 2008), quando o soldado atormentado volta para o front, caminhando ao som de um rock triunfal. Quando vi o filme, esse final me pareceu um erro tremendo, uma recuperação do mito do herói que até então parecia estar sendo criticado (mas teria que rever pra confirmar essa impressão). O que quero dizer é que, após sua simbólica derrota de goleada nas urnas nessas eleições municipais, esse vídeo postado pelo presidente parece buscar um efeito que se faz por operação semelhante: apesar do fracasso, Bolsonaro caminha “vitorioso” e tranquilo, ao som empolgante da música instrumental. Só que tem esse viés da “imagem ruim” que faz a identificação ser também a que Juliano descreve acima. É muito doido, mas parece ser uma espécie de dobra na figura do anti-herói, uma nova dobra, cuja ironia se dá, nesse momento de tecnologia popularizada, pela técnica. O anti-herói de agora, portanto, assume também o papel autoirônico do filmador-espectador comum, do zueiro da internet, protegido pelo virtual para ser um boçal completo. Me parece que até mesmo a baixa estatura, uma metáfora bastante utilizada para criticá-lo moralmente, como um “homenzinho baixo”, é ironizada no achatamento de sua figura no vídeo.
Juliano: Perfeito, Álvaro. Acho que é justo por aí. No vídeo do Bozo, ele é forte e pequeno ao mesmo tempo. Lendo literalmente, a imagem dele o faz grandioso e nanico, é realmente preciso como imagem sobre o tipo de força que ele performa. Essa falsa grandeza, que é tanto grandeza como falsa, mas é grandeza afinal, produz grandeza, sem fingir ser pura. Não é mimético. A distorção da imagem produz o sentido gráfico de que pra ser fortão, ele precisa ser baixote, pequeno. É uma ótima síntese, acho. Ele é um paranoico que não faz somente comunicação mimética ou narrativa. Isso é impressionante, esse é o pulo do gato. Ele entende o limite do realismo representativo como modelo. Ele realmente não é um comunicador da representação, mudou o modelo de fato. Ele encarou o risco, dobrando a aposta. Tem uma inteligência libidinal, né? É alegre, cínico, ele atinge o coração do tom do nosso tempo nas redes, essa convivência irônica, alegre, niilista. É uma pan-performatização permanente. Tô maluco?
Álvaro: Total, velho. Ainda bem que essa sofisticação no trato da imagem e do vídeo não garantem por completo sua popularidade, pois comunica principalmente (ou talvez apenas) com sua turma, como se exigisse uma identificação a priori, alguém que acredite e jogue com ele essa performance. Neste momento em que não tem lastro na “realidade pura”, digamos, dos resultados pragmáticos do governo, em que ele perde popularidade, essa performance não me parece ter mais tanto apelo para conquistar corações e mentes.
Victor: Álvaro tocou no assunto Hollywood. Ainda no tema da precariedade, mas deslocando um pouco, é curioso pensar que, no exato momento em que as salas de cinema foram colonizadas por um imaginário do aparato robusto – filmes de super-herói, produção milionária, efeitos tecnicamente acachapantes, montagem velocíssima e “transparente”, agigantamento da tela e mobilização total das caixas de som -, parte significativa desse campo que nós estamos tateando responde na moeda diametralmente oposta: minimalismo da cena, produção barata, efeitos “toscos” que não fazem questão de esconder a “tosqueira”, recusa da montagem – tantos trabalhos de plano único, como os do Fundo de Quintal ou do Sucrilho Boladão – ou maximização da montagem não no sentido da transparência, mas da opacidade – um filme como “O verdadeiro motivo do programa do Jô ter acabado”, de Rarirama, ou as colagens nonsense de roge. E, ainda, a ideia de que os trabalhos podem ser vistos em qualquer tela – e portanto não dependem nem de Imax nem de 5.1. Ao mesmo tempo em que esses campos parecem não se tocar – parecem ser mundos estranhos um ao outro -, acho que tem uma relação possível aí.
Leia também:
- Leona Assassina Vingativa, por Ingá
- Textos da série #visõesdatreta, por Ingá, Francisco Miguez, Juliano Gomes e Victor Guimarães
- Jean-Claude Bernardet e as comédias, por Raul Arthuso
- Histórias que o nosso cinema (não) contava, por Andrea Ormond
- Pós-escrito (ou por um cinema preto que não caiba), por Juliano Gomes
- Do trono de Tarcísio Meira à poltrona de Mario Frias, por Victor Guimarães