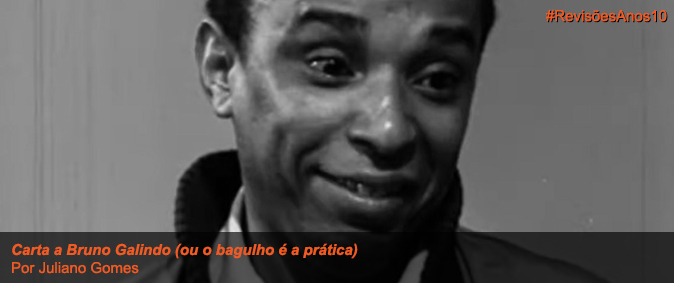Fala, Bruno.
(Só pra relembrar a quem esteja entrando na conversa agora, que este texto continua uma troca que se inicia com o texto de Heitor Augusto , que teve uma resposta que escrevi aqui em 2018, e Bruno entrou na roda no mesmo ano.)
Apesar dos dois anos de atraso, fiquei entusiasmado com o fato de tu responder ao que escrevi lá atrás.
Então: sinto que nessa década que termina se constituiu uma rede razoavelmente densa junto às ideias que pairam sob as palavras “cinema negro”. Para além do pioneiro Encontro Zózimo Bulbul, temos hoje uma série de eventos pelo país, um conjunto em escala histórica de pessoas negras produzindo filmes, um aumento razoável na quantidade de pesquisas e pesquisadoras nessa constelação, além da crítica. É pouco prum país negro, mas é maior do que era antes. Este é sem dúvida um dos fatos marcantes pra discussão sobre cinema brasileiro em geral, onde os debates sobre racialidade foram presentes nesses últimos dez anos num volume inédito e ainda crescente.
A hipótese das notas a seguir é que estamos, como comunidade, em um momento chave de escolhas e caminhos. A maldição do looping da novidade (“a primeira”, “o primeiro”) não faz mais tanto sucesso nos releases. E outras questões se colocam. Necessariamente, um amadurecimento do campo produz – querendo ou não – uma variedade de posições dentro dele. O momento é de tomar posições, defender ideias e buscar constituir os materiais que desejam ser as fontes de 2030, 2050 e 2171. A tentativa deste texto meio solto é produzir alguma evidência do que se conversava entre 2014 e 2020 em torno da instável ideia de Cinema Negro (confesso que só de botar as iniciais em maiúscula fiquei grilado com a ameaça de branding).
Como diz o Manifesto do Futuro, este texto aqui também “existe em dissonância e consonância” com os anteriores. A numeração diz respeito à numeração dos itens do texto do Galindo, que tomei como referência. Melhor jeito seria abrir duas abas e ficar entre um e outro. Pra quem não tá nesse pique, é só topar a opacidade e fluir.
1. O trabalho é mais fazer do que ser. “O bagulho é a prática”, afirmou precisamente o cineasta Negão da BL outro dia. Não se trata exatamente da produtividade compulsiva do Vale do Silício, mas ficar na atividade, habitá-la. O momento é de transição, de disputa no moldar da mudança.
Chamaria de “siliciamento” este processo onde a discursividade política online tende à tautologia, a girar sobre si mesma infinitamente, do tipo “eu sou a política, a política está aqui, meu gesto é ela, ela começa e termina quando eu a enuncio”. “Siliciar” seria então este processo de incorporação individual e autoenunciada do gesto político.
Engraçado que um filme interessante da última safra se chama justamente Looping (Maick Hannder, 2019). James Snead escreveu um artigo instigante sobre a repetição como figura formal de base da culturas negras. Hipótese braba. Na música é evidente. E em filmes? Quê que pega, Zé?, Noir Blue (Ana Pi, 2018), Ilha (Ary Rosa e Glenda Nicácio, 2018), Negão da BL, todos têm na repetição uma ferramenta fundamental de expressão. A repetição ativa é justamente transformar o ciclo fechado em si mesmo numa espiral que parece que vai fechar, mas não fecha, driblando o Mesmo.
A perspectiva da reparação histórica resvala num novo velho desafio: o essencialismo messiânico. Isto é: “nós somos especiais, somos diferentes deles”. Ou: “tudo que sai de nós é, automaticamente, diferente”. Mas qual é o problema afinal? O problema é uma ética do automatismo: quando “ser” significa automaticamente um “fazer”, um efeito de fazer. Se há automatismo, não há outro, e não há sensibilidade que não a própria. O trabalho do pensamento, o ofício da arte, está necessariamente ligado a um fazer, a algo que se realiza para fora, a partir de certas ideias, produzindo ideias, contingencialmente. O trabalho só aparece trabalhando, em contato com esse fora: a prática. O trabalho é a realização desse fora, que é, em si, a afirmação de uma esfera comum, não individual, não proprietária, que é onde a prática acontece: um ambiente de hiper sensibilidade coletiva não unificada. Não existe cozinha sem ingrediente. Da receita pra comida, são mundos de diferença. O essencialismo “tático” vicia igual, porque a página 2 nunca chega. É politicamente importante aprender a nadar sem.

2. Centro, centrado, centramento, sinto que isso é fixação brancocidental, de quem curte concentração, acumulação, quem curte um. Sou mais dois, mil vezes. Sem miséria.
O próprio campo aqui em questão terá que encarar o desafio de não ser um só. Já é nítida a tendência de entrar no capitalismo, na sua gramática, pra tentar angariar corações e mentes por uma esperança no poder da identificação. Bezos no coração, como disse o Bernardo. Da minha parte, sinto que o cultivo do campo de um cinema negro anticapitalista, radical, desregulado, disforme, singular e não domesticado por segmentos de mercado é dever ético da comunidade – nunca como monocultura, obviamente, apesar dessa não ser uma hipótese realizável, um “monopólio do risco”. A fertilização de uma comunidade voltada para fora, afinal, para o que ainda não foi feito, para o que ainda não tem sentido, para o que possa parecer “não ter finalidade” e, principalmente, para quem não faz parte da comunidade. Em relação a isso, penso nos cineastas de gênero, em especial nos cômicos. Entre Cajado Filho e Rony Oliveira há uma linha e uma linhagem. Descartá-la em nome de uma ideia de política de visibilidade performática militante me parece um erro político e historiográfico. Esse é um dos problemas, por exemplo, do que chamo de zozimocentrismo obsessivo – que é importante dizer: não foi criado pelo próprio Bulbul, mas é um fenômeno que ocorre com seu legado e, de certa forma, “contra” seus filmes, contra o que eles mostram, contra sua face rizomática. Pois é só pegar, por exemplo, Abolição (1988), que você vê que se tem alguma coisa que não existe ali é um centro. Abolição é um modelo teórico e prático.
3. Dá pra imaginar sem Pai, sem Ídolo, sem Master, sem Senhor, sem domínios ou dominação? Projetar sem escassez, sem querer figurar na Casa Grande, ou mais (ou menos) do que isso: sem falar como lá, lá, land.
Jota Mombaça escreveu: a plantação é cognitiva. Se fosse só a cerca da fazenda, tava moleza. Mas é a cerca das ideias. Transplantation de cérebro. E polícia não é uniforme.
4. Cornel West becketteou outro dia no jornal: Try again, fail again, fail better. Tenta de novo, feio de novo, feio better.
6. Gabi Ngcobo, a e a turma da bienal de Berlim meteram a Tina: WE DON’T NEED ANOTHER HERO

8. Escrever sobre um filme é ousar apostar, projetar uma ideia e produzir um rastro. Aí é a glória da comunidade. A festa esquenta quando alguém bota uma peça pra esquentar. Afirmar algo é arar a terra do que vai brotar. Medo de afirmar é a anti-seiva da escassez. O que acontece com os filmes negros do passado é que se escreveu muito pouco sobre eles, pensou-se pouco sobre eles, e as vias comunitárias ressecaram – assim como os artistas.
Sem que a seiva da mediação crítica corra, não tem floresta que se erga forte. Pra ela correr, é preciso coragem de falar verdadeiramente, de constituir um debate de ideias e posições. Isso, naturalmente, produz incômodo, mas acho que que muitas de nós sobreviveremos e virará hábito. Quem tem salário, conta paga, ferramentas e infra de estudo gasta seu crédito em nome do grupo. Ter é gastar. Ter pra acumular, pra criar círculo fechado em volta de si e estimular outros círculos fechados, é pilhagem. Nada do que importa e vibra é possuível.
Portanto, me parece injustificada a fobia de definir a ideia de Cinema Negro. Afirmar é continuar a dança, é construir o solo pro passo da outra. O trabalho não é individual. Passo pra vocês, me passaram antes. É com um solo que se constrói outro, é sobre um risco que se chega a outro. Sem esse processo, fica tudo parecendo milagroso e instantâneo. O fantasma do não lidar é bem maior do que a lida em si. Nenhuma definição em cinema é inerte, todas foram disputadas e ainda são, o processo é esse, nenhuma estética é estática. Só se joga jogando. Nem a ideia de cinema brasileiro é estável.
As tendências são nítidas. Há uma posição atrelada ao que se convém chamar de “autoria negra”, e, na outra margem, um outro modo de organizar pelo que chamaríamos de “cultura negra” como marco fundante do trabalho, sem depender tanto do “quem é a autora”. As duas têm limites e vantagens, como os exemplos históricos mostrarão, pois são deles que emanam as ideias. O problema é utilizá-las somente pra propósitos individuais, pra círculos fechados. É importante tomar posições.
Da minha parte, num país como Brasil, penso que a restrição da ferramenta “autoria negra” não dá conta dos filmes. Fica coisa importante de fora, matéria de futuro – penso no Grande Otelo no teu texto, Bruno. Entretanto, o gargalo de quem tem infra pra fazer filme exclui mesmo quem não é branco. Portanto, é preciso fazer os dois trabalhos, ao mesmo tempo. Na crítica e história, perceber as situações onde a impossuível negrura, negridade, pretitude, blackness, trabalha e se manifesta, diferentemente. Na discussão sobre acesso e possibilidade de trabalho, é manter em ação a ampliação das possibilidades de pessoas negras não só fazerem, como continuarem fazendo. Mas uma coisa não é a outra. E elogiar ocamente é sopro-ego. Pessoa preta fazendo filme não é garantia de nada, e tá certo de não ser – é só o que é, é já é bastante. São dois processos que se tocam, mas não são baseados no mesmo princípio, pois um objeto cultural tem maneiras variadas e surpreendentes de guardar marcas e produzir sentido, o que certamente não depende dos desejos do Master das Intenções. Por isso, o ofício de olhar e mediar os materiais é tão vital.
O próprio debate sobre ser ou não ser Cinema Negro corre o risco de funcionar tautologicamente – como nos estudos de horror, por exemplo, onde parece que o principal tema é justamente o pertencimento ou não de cada trabalho à categoria, gerando a entusiasmada categoria dos fiscais de gênero: “Ah, mas o autor disse que não é”, “esse é puro”, “esse é misturado”, “estão subvertendo a essência…”, dizem os profetas. O binarismo é um entrave pro que se vê. Não haver Master é poder falar do que aparece, abrindo a porta para a surpresa. Uma comunidade de cinema sem Sinhô é uma comunidade da invenção, do risco, voltada pra fora de si mesma, interessada no que vem, sem heróis ou monarquias.
Um exemplo: Cidade de Deus (Fernando Meirelles, 2002) seria o filme brasileiro de mais impacto no imaginário mundial por conta de sua força branca, sua branquitude projetada? Uma rápida vasculhada no contorno das principais marcas que o filme deixou dificilmente não mostrará a força da narrativa de Paulo Lins e a evidente e transformadora performance de um elenco notável? Um modo de falar, um vocabulário, os modos de corpo, a relação com os espaços, tudo isso me soa evidentemente negro. Elidir isso é saquear novamente estes profissionais que já não tiveram possibilidades de receber o tanto que eles deram para o mundo através do filme – como mostra o filme que Cavi Borges e Luciano Vidigal fizeram, Cidade de Deus – 10 Anos Depois (2015). A teoria corre atrás do que o trabalho mostra, tentando ser chão pro que vem. Porque a turma do Nós do Morro não é autora negra? Não entendo como não contar isso numa história do cinema brasileiro contemporâneo. Casos análogos são muitos: de Madame Satã (Karim Ainouz, 2002) a Branco Sai Preto Fica (Adirley Queirós, 2014), de A Vizinhança do Tigre (Affonso Uchôa, 2014) a Os Suburbanos (Luciano Sabino, 2018).

10. ”Ser genial” serviria pra quê, afinal? O imaginário messiânico/narcísico/paranoico – “somos fodões e estamos sendo sabotados” – é o chão da expansão contagiosa do empobrecimento. Morreu-se muito disso. Porém, dá voto e like. Coisa de Messias. Atrás do mouse, há sempre um dedo de uma gênia não reconhecida. A genialidade é um delírio da escassez. O trabalho é sempre com alguma coisa, algo, ou alguém. A mão sabe.
12. Entendimento é superestimado. Edouard Glissant mandou: “Posso então conceber a opacidade do outro para mim, sem que eu cobre minha opacidade a ele. Não necessito “compreendê-lo” para sentir-me solidário a ele, para construir com ele, para amar o que ele faz. Não necessito tentar tornar-me o outro (tornar-me outro) nem “fazê-lo” à minha imagem”. Falando nisso, tem um alerta bom pro narcisismo aí. A minha imagem, à minha imagem, a minha… A propriedade privada é irmã gêmea da escravidão. Imaginar a abolição com figuras da propriedade é furada. Mas está super on.
14. Sugiro: sobre a autoria, estudarmos as histórias da coisa, os contornos da intervenção. Não foi Deus quem criou essa ideia. Lá atrás, foi uma jogada tática, contextual, de ação política organizada. A questão é, novamente, ler o contexto pra intervir na sua dinâmica de forças.
Tô desconfiadaço da inflação da ideia de curadoria como uma ideia messiânica, de efeitos milagrosos, instantâneos e místicos. Legitimação vem de lei, de instituir leis. A questão é institucionalizar o fora, o fora-da-lei, sem fazê-lo lei outra norma. É criar as condições para umectar a ação fora-da-lei, para a parte dos sem parte não ser aniquilada. Abolir a polícia significa não agirmos como ela.
Nas artes visuais, curadoria tem a ver com acervo, com acumulação, cultivar certo acúmulo. Em cinema, “programar” me parece mais inclinado pra frente, dissociado de acumulação. Quando penso em “curador”, já viso tipo um trono, jantares, grana de foundations com nome gringo e tal. “Programadora” é mais a palavra de um trabalho e não de uma entidade. Soa como alguém que pode conversar, ou faz conversar – talvez seja essa umas das funções do trampo.
Já que a saída etimológica tá em alta: “cura” significa padre. Mas só a doença salvará. Alma no Olho (Zózimo Bulbul, 1973), por exemplo, é um filme doente, indefinido, ambíguo, disposto a mergulhar na maldade, nas onda ruim, pra fazer seu trabalho. Amor Maldito (Adélia Sampaio, 1984) também: lindo e errado. A primeira metade de Um é Pouco, Dois é Bom (1970), do Odillon Lopez – que veio antes do Alma – é abertamente “doente”. Vida Nova por Acaso – essa metade que tá online – é uma chanchada antirracista, onde o Odillon faz a dobra da dobra do problema. É teatro de revista + Get Out + abolicionismo penal. Em arte, é sempre dia de maldade. Maldade como método e não como moral. Boto fé nessa tradição.

16. Por que filmes seriam maletas de primeiros socorros? Olho os grandes filmes, é maioria de faca na ferida: Matador de Ovelhas (Charles Burnett, 1973), As Aventuras Amorosas de um Padeiro (Waldir Onofre, 1976), Coffea Arábiga (Nicolás Guillén Landrián, 1968).
O gênero do Black Comfort Film é o sonho de quem precisa de um carimbo público de antirracista e não quer arranjar problema. “Está claro que este filme é contra”, diz a inflamada tropa da interpretação. Nada pessoal contra os ansiolíticos, mas se filme virar sinônimo de fábulas de amortecimento domesticado, perderemos um espaço na vida social para treinarmos o corpo em frequências mais variadas e vitais. Em geral, no campo do cinema, boa parte dos gestos de programação recente “antirracista” tem seguido esta ideia. É de fato o caminho que supostamente “reduz danos” mesmo. Tá tudo na sinopse, antes, brifadinho. O resto pega da fala de quem é autor: “Eu fiz esse filme para as pessoas negras com o objetivo de…”. É só pegar as palavras do Master dos Sentidos e substituir o perigo incontrolável e caótico que é deixar-se encontrar com um filme. Looping brifadonho.
17. O desafio radical é, afinal, confiar. Em si e nas outras, entregar mesmo. Nós somos mais fortes em vulnerabilidade. Ser forte é ser sensível. Estar esponjoso é estar de guarda aberta. Ver um filme é poder oferecer-se em vulnerabilidade para um pacote desconhecido de lombras, preso na cadeira, no breu, cheio de gente que tu não vê, mas sente. É impossível haver movimento, moção, emoção, sem práticas de abertura de si.
Um cinema “medicina heroica” – como se falava nas antiga – tem limites sufocantes. Não boto fé mesmo. E da Faria Lima ao Vale do Silício não se fala em outra coisa. Tão super incumbidos nessa “cura” aí. Apaixonaram-se pela ideia. É o jeito mais em conta de parecer do bem. Toda produtora envidraçada de SP já tem um departamento disso. Inclusive, é bom nos prepararmos, porque, naturalmente, está se formando um mainstream de profissionais negros, naturalmente. Diante disso, é preciso ter a confiança nas ideias, pra não cair no conto do “carinho no coração”, no pique ©onfort. Por aqui, aposto no time da doença, da dobra da doença: doença Tião Macalé, doença Tyler the Creator, doença Lacraia, Tantão, Leona, doença Elza Soares, doença Josephine Baker e Mc Magalhães. Confio nesta linhagem patológica como antibússola. Feio, feio, feio better. É desnivelar a hiperbeleza em alto astrauma.

18. Reviver os traumas? Não sei se tem jeito de não. É um sinônimo de “realidade”, né? A questão é “como”. Denise Ferreira da Silva pergunta: “how”. Cada case é um caso. Porque, por exemplo: o que fazer com Love is the message and the message is death (2016), do Arthur Jafa? Ali, são todos os sentimentos ao mesmo tempo. Confio que é alimento pro futuro. Porém, é chuva de trauma, né? Entre isso e um climão ursinhos carinhosos, aquele pique crismadão, Bezos no ombro, eu não tenho dúvida da direção a seguir.
Com Xica da Silva (Cacá Diegues, 1976), Beatriz Nascimento fez alguma coisa, com Cidade de Deus (Fernando Meirelles, 2002), fez-se alguma coisa, com Vazante (Daniela Thomas, 2017), tentou-se. O que não quer dizer: “joga mais trauma aí, patrão!”, mas sim que o firmamento de um ambiente não-branco de cinema depende de uma certa habilidade coletiva de redistribuir as energias violentas, e retrabalhá-las, como nossa música faz. Se o pagodão e o hip-hop – atividades intensamente mais criminalizadas que a nossa – nos dizem que uma sirene é um som, nós do cinema podemos aumentar nossa capacidade coletiva de dobrar as coisas.
No caso do Mc Beijinho, o Cinema Negro é o vídeo do Balanço Geral ou clipe oficial? Onde tá o autor?
19. Falando em desconfiança, intuo que a Teologia da Visibilidade já devastou demais o ambiente. Política não é sinônimo de visibilidade, nem o contrário. Fred Moten deu o papo: derrubar estátua é tipo cirurgia plástica da política. Como aquela típica fala inteligente: “o filme não deixou visível se critica este assunto”, “a crítica não deixou visível a lista dos seus pecados”, “a artista não fez sua confissão de modo que fiquemos de boa”. A visibilidade vicia, MPAG (Medo De Perder A Garantia) não tem vacina ainda. E a abstinência, pelo visto, é violentíssima. Revertério puro. Quando fica a dúvida, quando vibra a ambiguidade, o vício parece que sai do controle. Cadê nosso cura? Quem vai salvar? Só aquela pitada de maldade. O gosto da “justiça por dentro” que o Vaga Carne (Grace Passô e Ricardo Alves Jr., 2019) fala, vai ressecar tudo e, por último, a garganta justiceira, afogada de egolombra. A voz – essa invasora danada, que nada simboliza – continua: “eu te amo, justiça. Eu estou apaixonada”.

20. De novo: coragem mesmo é acreditar. Poder errar, cair de bunda. Ó engano, eu estou apaixonado. É achar algo pra amar, algo pra crer.
Só escrevendo este texto me dei conta de que o filme que talvez seja a obra mais significativa da década que passou, Fantasmas (2010), do André Novais, é um filme sobre paranoia negra, né? É sobre um afeto insensível, que cristalizou e criou um circuito fechado em si. E não por acaso o filme não tem evidência nenhuma, porque não chegamos nem ao menos a ver os personagens principais. É justamente sobre a impossibilidade da autoevidência, é um manifesto da especulação e da instabilidade ontológica.
Os filmes do André – talvez o grande cineasta desse período – nunca cessam de perguntar: mas afinal o que é o principal? Ou melhor: será que a ideia de principal, do que é central, se aplica? É um cinema que pende pro acentrado. Agora que falei, tô notando que a força escópica do cinema dele – e sua relação constante com os afetos amorosos “adoecidos” – está muitas vezes relacionada a um traço serenamente paranoico, né? De certa maneira os filmes têm uma fórmula: o afeto amoroso está parado por algum trauma ou por medo de sua reaparição, e os arcos dos filmes são justamente a fábula para que o afeto se mova, se libere de onde ele estava, de certa forma, preso, repetitivo, em looping como no Fantasmas (reolhando o nome do filme, tô achando que a pista é quente).
21. É de fato um enorme obstáculo o fantasma das “suas genialidades”. É um avanço e um retrocesso. Na minha geração funcionava de outro jeito. Tenho que admitir que foi uma dádiva não ter reputação pública pra gerir aos vinte anos. Imagina se tivesse que deletar meus feios? Os filmes de super-herói se infiltram onde menos imaginamos. É medo a dar com pau, travando o pessoal. A não-solidão é uma prática, é o avivamento do espaço entre cada uma, que só existe na lida e não nas ideias enclausuradas. Genialidade é uma imagem de solidão atroz. Bem melhor ser gente ou anti-gente, porque tem bem mais. Imagina “ser gênio”? Ouço eco só de pensar. Essa doidêra emperra o trabalho. Fez um filme, na escola, dia seguinte, tá na gringa, laureada, bajulações, “gênia”, “gênio”, “você é muito especial”, “vamos acabar com tudo que está aí”, “somos a resistência”, enfim. Nunca vai sair outro filme, pode contar. A profecia muda, mas se cumpre igual. Melhor jeito de ser gênio é não trabalhar e só gerir reputação, brilhando no feed, bem do bem ™️. Trabalhar, praticar, se jogar na instabilidade, pra quê? Poder é verbo mesmo. Abaixo o infinitivo. Feed uma égua.
23. Aposto mais em afro-acentramento. Quem inventou essa tara por centralidade que se resolva. Centralidade é apelido pra concentração. É um imaginário da escassez.
25. Isso! Melhor que “doente”: duente. Filmar como se tivesse morrido, escrever como se tivesse morrido. O que diria a confissão de um fantasma? Um morto assume o quê? De que textão um fantasma é capaz?
Bruno, responder teu texto abriu mais umas janelas aqui. Vou fazer um outro, na sequência, tentando esticar a conversa.
Valeu.
Grande Otelo é o futuro mesmo. TMJ.
Abração,
Juliano
Leia também: