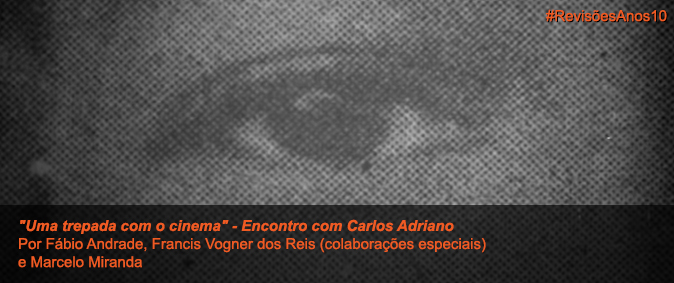O cinema de Carlos Adriano sempre insistiu num caminho inteiramente apartado das correntes principais da história do cinema brasileiro. Em sua insistente poética dos arquivos, Adriano cavou uma estrada solitária, que lhe rendeu homenagens e admiradores ao redor do mundo, mas permanece ainda muito desconhecido em seu país. A série de filmes Sem Título, realizada a partir de 2014 e que já conta com seis trabalhos, é um marco do cinema de invenção brasileiro da última década. Por ocasião da série #RevisõesAnos10, decidimos retornar a um registro em áudio de uma conversa realizada durante a 12ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, em junho de 2017, entre Carlos Adriano e os críticos Fábio Andrade, Marcelo Miranda e Francis Vogner dos Reis. Durante um almoço regado a cachaça, Adriano falou largamente sobre sua formação, seu método de trabalho, sua maneira de enxergar o cinema e a poesia. Ao retomar o material, o processo de edição buscou preservar, na medida do possível, o tom informal desse encontro. As idas e vindas, as repetições e os desvios, como num filme de Carlos Adriano, fazem parte da graça desse encontro.

Marcelo Miranda – Podíamos usar uma frase sua como mote para começar: “meu primeiro interesse artístico foi pela poesia”. Você cita especialmente o Augusto de Campos, o Haroldo. Que poesia é essa? Pra onde ela vai?
Carlos Adriano – Não sei pra onde ela vai e nem sei pra onde ela foi. Eu não tinha pensado em fazer cinema, nem em fazer nada com relação a arte. O meu gosto inicial era por consumir arte, e não necessariamente produzir. O meu interesse primeiro foi poesia. E eu caí nesse entorno da poesia concreta, Mallarmé, Cummings. Tinha tudo a ver. Então isso pra mim foi, eu diria, uma formação. Eu tinha 13 anos, quase. O meu gosto pela vanguarda, pelo experimental, veio daí. E também por isso eu nunca me preocupei com relação à recepção do público. Esses artistas que eu aprendi a amar e a admirar eram o fracasso do sucesso, era vanguarda, era pesquisa. Então eu já pensava: “se um dia eu fizer qualquer coisa, eu não vou ambicionar sucesso, porque o que eu vou fazer não vai interessar a ninguém”. Nunca me esqueci dos versos de Emily Dickinson (traduzidos por Augusto de Campos): “o sucesso é mais doce / a quem nunca sucede / a compreensão do néctar / requer severa sede”. Eu estava tranquilo em relação a isso. O que aconteceu é que essas pessoas, de quem eu era fã, viraram fãs do que eu vim a fazer, dos filmes. E aí eu fiquei muito tranquilo também. “Vamos indo devagarzinho”, sem expectativas de fazer nada. Só tem uma pessoa que eu quis agradar na vida. Já falei, posso repetir depois quem é. Mas essa educação pela pedra dos concretos, da vanguarda, me deixou tranquilo com relação à expectativa de público, sabe? Eu não me conheço, não conheço sequer os meus amigos, então eu não vou conhecer cinquenta milhões pessoas para me comunicar com elas. Não sou tão ambicioso assim. Não posso fazer uma coisa tutelar que alguém queira gostar ou entender. Eu passei por muitas vaias. Eu não queria fazer nada disso. Mas, como eu amava, veio.
Francis Vogner dos Reis – Interessante você falar dessas referências, porque você tem uma formação na ECA-USP, não é?
CA – Esse é outro problema na minha vida. Qual cineasta brasileiro tem dois pós-doutorados?
MM – Você vê como um problema.
CA – Não, eu não vejo isso propriamente como um problema, porque eu fiz porque quis, ninguém me obrigou. Na verdade, eu não sei se eu fiz porque eu quis ou fui levado. Sempre gostei de estudar, de pesquisar, e não é porque são filmes de vanguarda, pesquisas de linguagem… Eu não vou saber. Vocês vão ter que fazer perguntas talvez para me psicanalisar, para eu responder por que é que eu tive uma carreira acadêmica… Foi uma coisa de um desejo de estudar, estudar e conhecer. É engraçado, isso, porque as pessoas ficam me pegando no pé. Eu consigo quase explicar tudo dos meus filmes, mas chega uma hora…
FVR – Sua formação de graduação é na ECA, também.
CA – Graduação, mestrado e doutorado na ECA, com o Ismail Xavier. Meu primeiro pós-doutorado com o Arlindo Machado, na PUC-SP. E aí o meu segundo pós-doutorado, de novo, na ECA, com supervisão do Cristian Borges. O doutorado e o primeiro pós-doutorado tiveram bolsas da FAPESP.
FVR – Sobre a sua formação: eu queria saber como se deu esse gosto e essa inclinação pelo experimental, pela vanguarda. Você tinha na ECA seus interlocutores? Como foi a vida de alguém na universidade que tinha um interesse pela vanguarda?
CA – Olha, quando eu entrei na ECA, todos os filmes, literalmente, que os professores exibiram nas aulas, eu já tinha assistido, porque eu era o que se chamava àquela época de “rato de cinemateca”. Eu entrei na ECA em 1986 – naquela época ainda tinha alguma atividade cineclubista em São Paulo. Eu frequentava todos os cineclubes, o cinema da Cinemateca, uma pequena sala que era no Parque da Conceição (a salinha chamava-se Stúdio Conceição), e outras mostras que a Cinemateca realizava em outras salas de cinema e espaços culturais. Então, quando entrei na ECA, todos os filmes, Bressane, Eisenstein, Carlão Reichenbach, todos eu já tinha assistido porque eu frequentava cineclubes. Os meus colegas não sabiam o que era isso. Eu já vinha dessa coisa porque já era um cinéfilo – não sei se é bem o nome, se vamos usar isso ainda. Pra mim era uma coisa muito espontânea, natural.
FVR – Você se fez, não foi a universidade que te fez.
CA – Eu não sei. Eu acho que se pode dizer isso à sua resposta. Eu não diria isso. O que tem de concreto é que tudo o que eles mostravam, eu já tinha visto. É claro que ouvir o Ismail, a Maria Rita Galvão… A gente aprende a interlocução, a fazer perguntas, a metodologia crítica. Eu ia fazer a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, prestei vestibular para a FAU, mas desisti, porque vi uma coisa chamada O Desprezo (1965), do Godard. Embora seja um filme sobre cinema, não foi a questão do cinema que me ganhou, foi a situação-cinema. Fui assistir no Museu Lasar Segall, e a cópia estava em frangalhos. Eu cheguei lá e na mesinha que funcionava como bilheteria tinha uns pedaços de fotograma do filme e me falaram assim: “A gente não sabe se a projeção vai chegar ao final, porque a cópia está em frangalhos, é a última cópia que existe do filme no Brasil e a gente não sabe como será a projeção; então você compra, mas é teu risco”. Eu não lembro se a projeção chegou ao final, mas o que ficou para mim e o que me fez fazer filmes é: o filme se desintegrou durante a projeção. Na minha memória afetiva e de cinema, isso foi o que me fez decidir. Esse filme, que é sobre cinema, e numa situação cinematográfica em que o filme não ia chegar ao final da projeção porque ele ia se desmaterializar, porque me avisaram que a cópia não ia resistir à projeção. Bom, para quem vai fazer o que eu fiz depois, cinema de arquivo, found footage, tá quase tudo aí. É uma psicanálise selvagem, mas tá quase tudo explicado nessa situação.
FVR – E isso retorna às questões do próprio filme do Godard: o desaparecimento…
CA – Isso não apareceu no curso de cinema da ECA. Não que eu me sentisse solitário, porque eu já tinha conhecido o Bernardo (Vorobow) antes de entrar na ECA. Mas com colegas não tinha interlocução, talvez com uma ou outra exceção. Naquela época, em São Paulo e na ECA, dominava a ideia de ficção. Então, claro, cinema experimental nunca. Nunquinha… E alguns dos nossos professores das áreas práticas eram egressos do chamado novo cinema paulista, aquela coisa do neon-realismo, lembra disso? Todos os cacoetes industriais. Assim, eu achava legal, mas não gostava. Em função da formação da poesia, aquilo pra mim era muito primário. Por causa da poesia eu fui ver Jean Epstein, Abel Gance, e falei: “Isso é muito mais rico do que o que estão me oferecendo”.
Fábio Andrade – A tradição do cinema brasileiro voltado para a manipulação da matéria de arquivos e de um poder de fascinação gerado pelos arquivos é muito difusa, se é que ela existe. São pouquíssimos nomes. Eu estava lendo ontem um artigo sobre o A Voz e o Vazio – A vez de Vassourinha (Carlos Adriano, 1998) e o autor fazia uma comparação com o Arthur Omar que, ao mesmo tempo em que eu entendo, eu acho que não é parecido, tem muitas diferenças, enfim… Desde o princípio essa ideia de cinema te chega com muita clareza? Era sempre esse o tipo de cinema que você queria fazer?
CA – Não, não tinha muita clareza, não. Omar, Bressane, Rogério, faziam parte do repertório. Falando em brasileiros, né? Eu preferia não falar em brasileiros. Embora sejam cineastas que eu aprecio, eu não sei se eu acho que eu dialogo com eles. Talvez eu dialogue enviesado. Se você pegar o Remanescências (Carlos Adriano, 1997) e o Tesouro da Juventude (Arthur Omar, 1977) é um abismo de diferença… Embora seja a mesma história.
MM – Eu não conhecia essa história do O Desprezo, eu ainda tô um pouco impressionado com ela. O que me impressionou nessa história é o quanto ela de fato se relaciona muito intimamente com os seus filmes. E aí eu vou te fazer uma pergunta meio aberta pra ver se puxa aí: você estuda, pesquisa e faz filmes de found footage. Isso é um elemento do seu trabalho. Essa, não falo obsessão, mas esse interesse profundo, seria, já que você falou psicanaliticamente, a busca por essa imagem que sumiu do O Desprezo? Quer dizer, você tá sempre buscando restaurar alguma coisa? Uma imagem perdida? Uma imagem que falta?
CA – Então, agora eu vou tentar responder uma coisa que eu acho que não vou conseguir, mas acho que depois que eu estiver mais bêbado, talvez eu vou conseguir responder direito… Eu nunca pensei nisso, mas eu comecei a trabalhar com found footage a partir do meu terceiro filme, que é o Remanescências (1997), que faz 20 anos agora que foi lançado. E eu não sei porque eu decidi, ou porque eu fui fazer filmes com material de arquivo. Quando o Bernardo Vorobow morreu em 2009… Aí sim vem o lance da psicanálise selvagem. O Bernardo foi um programador de cinema, de cinemateca, de arquivo. Não vou ficar aqui falando dele agora, mas o Bernardo é a pessoa da minha vida. Quando ele morreu, eu fiquei pensando por que isso aconteceu, porque eu podia não ter feito filme de arquivo. E eu cheguei, e aí é uma autoanálise, aí sim psicanálise selvagem, que nem o Nelson Rodrigues seria capaz de fazer… Mas é o seguinte: é só por causa do amado, é o amor da minha vida, então vou fazer por causa dele. Mas isso psicanalizado retroativamente. Porque eu também nunca fiquei preocupado em fazer filme pra me comunicar com ninguém. Humildemente, eu só queria agradar ao Bernardo. E mais alguns poucos amigos e interlocutores. É claro que eu fico feliz se outras pessoas gostam do meu filme. Ótimo. Até porque eu lembro daquela ideia do Oskar Fischinger, né? O artista criativo não deve ficar preocupado se ele é compreendido ou não, ele deve fazer o que for mais íntegro na sua visão e achar que isso é um humilde serviço que ele está prestando pra humanidade. Então isso pra mim era um credo. Curiosamente, algumas pessoas – o que é inesperado – se tornaram admiradoras. Augusto de Campos eu era fã, ele virou fã dos meus filmes; o Caetano Veloso virou fã; o Décio Pignatari virou fã. Mas eu não fiz nada, eu só fiz meus filmes e essas pessoas acabaram assistindo aos filmes. Eu não programei nada disso. Só queria agradar ao Bernardo. Então eu fico muito tranquilo se não bater. Se eu merecer espectadores privilegiados, muito legal, mas eu também não vou ficar ansioso e angustiado porque eu não consegui 100 espectadores. Isso é uma coisa que eu nem penso, não está no meu horizonte.
FA – O processo termina na realização? A satisfação por completo se dá com o filme pronto?
CA – É difícil responder isso, sabe. Então, eu tô aqui com o filme do Paulo Emílio, Festejo Muito Pessoal (2016), mas eu tô terminando o Sem Título #4. Então o do Paulo Emílio já não me interessa muito, sabe? Numas, claro.
FA – Depois de ter feito…
CA – Isso é uma questão, porque o fato de estar aqui, exibindo aqui, é maravilhoso. Hoje, quatro horas da tarde, o filme está sendo exibido no Il Cinema Ritrovato, em Bolonha. O que tem tudo a ver, como tem a ver estar aqui em Ouro Preto. Então é claro que pra mim a exibição… Porque se o filme não se exibe, não passa, não tem conversa, então não é tão simples assim. É aquela história do Borges: o livro numa estante é apenas um objeto; mas quando o leitor o abre, daí dá-se o fato estético. Mas eu não tenho uma angústia. Eu falo muito “não”. A gente não faz filme pra nós, né? Quer dizer, eu faço filme pro Bernardo, mas assim, eu faço filmes para outros, né? Mas eu não quero agradar, assim, eu não vou nunca pensar que eu vou fazer uma coisa mais bonitinha pra agradar alguém, sabe? Isso eu não vou fazer. Mas eu gostaria sempre de ser exibido, porque eu jogo minha vida nessa história. Pode não parecer. É que tem uma história de que eu sou muito formalista. É verdade, eu sou, mas tudo que eu fiz é por paixão. Eu falei isso em algum lugar: eu vejo meus filmes, sempre, como uma puta trepada. Em relação ao cinema de arquivo, sempre, eu tô trepando com aqueles materiais, é um gesto de amor. Eu tento ser generoso porque a história do cinema foi generosa comigo, e se por acaso esses caras cruzaram meu caminho, não é também, então, por acaso? Tem alguma história subterrânea que talvez vocês possam construir, porque é que nem a ideia do Hollis Frampton sobre a consistência ressonante de uma metahistória, de um cinema infinito. Você não consegue muito dar conta, de que aquilo estava formatado pra você. E aí ou o crítico, ou o pesquisador, ele tem que construir um parâmetro. O que ele chama de ressonância. É uma história de ressonâncias.
FA – A gente trocou algumas mensagens sobre essa entrevista, e o Victor Guimarães fez uma pergunta dialogando com duas retrospectivas que você organizou, uma do Peter Kubelka e outra do Ken Jacobs. Se o Kubelka tem um esforço de desnudar uma estrutura e uma forma do material, que a gente poderia pensar numa frieza, por outro lado o Ken Jacobs diz, numa entrevista que você fez com ele, que ele faz filmes porque ele se apaixona por alguém que estava no material original. E seus filmes parecem ter um pouco das duas coisas. Então, como funciona para você essa tensão? Você concorda que ela existe, como um impulso criativo, como uma barreira?
CA – Não, barreira nunca. Então, essa questão, o Eduardo Valente no artigo da Cinética sobre o Santos Dumont: Pré-Cineasta? (Carlos Adriano, 2010) coloca muito bem essa tensão. O Victor fala do depoimento do Ken Jacobs, que é super apaixonado, e também é super radical e experimental, mas assim, esse tipo de polaridade, digamos, eu não consigo ver. Porque para mim é uma trepada tão maravilhosa e tão sem limite… Então eu não consigo pragmaticamente resolver essa questão, sabe? Eu gostaria de dar uma resposta acadêmica. Se eu tivesse talvez numa banca, eu conseguiria. Mas aqui estamos à mesa, com uma cachacinha mineira.
FA – Mas os filmes respondem.
CA – Então, os filmes são uma resposta, mas pra eu explicar… Esses filmes da série Sem Título pra mim são uma dor só, de dar dó. Se eu tivesse vergonha na cara, eu não teria feito mais. Eu deveria ter parado no Santos Dumont. Se eu fosse um cineasta competente, no sentido que a Ancine quer, eu não faço mais, não faz sentido, pra mim acabou. Mas o problema é que eu amo e aí começa a dar problema. Eu não consigo mais viver sem fazer filme, e eu não consigo mais fazer filme se eu não tiver uma referência a alguma coisa que me ilumina e pela qual eu sou iluminado. Mas de todo modo, eu ainda acho que depois do Sem Título #1 eu deveria ter parado. Mas por outro lado eu não acho que deveria ter parado porque teve o filme do Paulo Emílio, e as pessoas dizem: que bom que você fez.
MM – No momento em que você diz que não ia fazer mais, você começa a fazer filmes mesclando o seu trabalho de arquivo com a paixão, a ausência… Acho que isso já estava no Santos Dumont também, né? Há uma mudança no seu trabalho, entre o trabalho de arquivo, de arqueologia, de resgate, de repetição e aí, com a partida do Bernardo, a mistura disso com um aspecto profundamente pessoal, da sua relação íntima, com a sua vida? Você sente diferença?
CA – Pensando no que você falou agora, eu não sinto que é tão simples assim. Porque a partir do terceiro filme que eu fiz já tinha essa tônica. O Remanescências, que eu comecei a montar em 1994 e terminei em 1997, e que é o primeiro filme de material de arquivo. Eu agora ouvindo o que você perguntou, para mim não é tão simples assim, sabe? Tudo que você falou é verdade. Quase tudo, né? Eu queria ter parado… Tanto que o primeiro filme que eu fiz depois da morte do Bernardo foi o La Mer Larme, que virou o Sem Título #2 (2015).
FA – Ficou guardado?
CA – Eu achei que era um filme muito deprê, muito triste, mas era uma coisa… Eu era recém-viúvo, né? Era muito violento. Ah, eu não vou fazer isso comigo mesmo. Era muito cruel. Aí eu guardei o filme sim. E aí o que virou o primeiro filme da série é o “Fado Astaire”, que é como eu chamo o Sem Título #1: Dance of Leitfossil (2014). Porque eu achei que eu precisava dele – mas aí é uma questão absolutamente melodramática minha – para eu continuar vivo, ou para continuar a viver, ou sobreviver. Não tem nada a ver com o cinema. Sou eu. Eu precisava sobreviver através do cinema. Aí eu fui até um pouco instrumental de utilizar o cinema para mim. Aí pronto: lança, exibe. Aí depois disso, respondendo o que você me pergunta, aí escapou um pouco do controle para mim. Aí eu retomo o La Mer. Eu queria realmente que fosse o primeiro filme, mas é um filme cruel. As pessoas falavam para mim: “você não pode fazer um negócio desse. É muito cruel com você. Mas o filme é lindo”. Aí a questão da série dos Sem Título vai criando uma outra dinâmica. E aí aparece a encomenda do Paulo Emílio, que dá uma clivagem – que talvez seja o gancho para a pergunta que você fez e eu tentei mais ou menos esboçar a resposta agora. Porque essa encomenda me pegou no meio da feitura do Sem Título #4. Então também foi outro desvio que eu não preparei, sabe? Eu acho legal uma coisa que as pessoas não entendem muito. Eu já falei assim: eu nunca planejei nada, nada, nada. A única coisa que eu planejei foi o primeiro filme que foi feito na ECA, o Suspens (1989), que foi justamente naquela época que todo mundo fazia ficção, neon-realismo. Aí chega eu lá e diz: “olha, eu não vou fazer isso”. Era um filme experimental radical. Não tinha nada a ver com documentário e ficção. Patinho feio já, lá do começo. Mas é um filme de graduação. Foi a única vez que eu fiz uma coisa programática de querer intervir. Embora retrospectivamente a gente pode entender: “ah, é um cara de arquivo”. Mas não foi deliberado.

FA – Eu fui a uma retrospectiva do Bruce Conner lá no MoMA e, num dos textos da exposição, ele fala que ele fez o A Movie (1958) porque um dia ele pensou no filme e falou: “mas esse filme já deve ter sido feito”. Quando ele descobriu que ninguém tinha feito ainda, ele falou: “bom, agora eu tenho que fazer”. Mas partiu do princípio de que “esse filme já deve existir”. Não tem como não ter sido feito antes.
CA – Eu não vou saber, vocês que vão dizer, né? Críticos, pesquisadores. No cinema brasileiro, com certeza ninguém fez o que eu fiz, isso eu posso dizer porque eu conheço um pouquinho da história do cinema brasileiro, então eu posso falar. Mas, no geral, eu fico pensando na coisa que o Faulkner falou: “se eu não tivesse escrito Enquanto Agonizo, O Som e A Fúria, alguém faria”. Ou como dizia o Schönberg: ninguém quis ser Arnold Schönberg, então eu assumo essa tarefa. Eu sou um cavalo. Eu sou um ateu, né? Mas, enfim, eu acredito um pouco nessa história de que a gente não tem domínio da originalidade e da pretensão romântica de ser um cara original. Partindo disso, a gente trabalha a partir de um contexto histórico. O fato de eu ter estudado na ECA, de ter feito a carreira acadêmica, isso acaba influenciando, mas eu não sei até que ponto isso é muito determinante. Às vezes eu tenho muito claro, mas quando fica muito claro para mim, eu apago, porque se ficou claro, é porque não é uma boa solução. Se eu conseguir responder, aí eu deleto, porque não é tão simples assim. No leito de morte, a Gertrude Stein perguntou: qual a resposta? Como ninguém respondeu, ela reperguntou: então qual a pergunta?
FA – Existe uma forma recorrente de como eles nascem, para você? É uma investigação sobre um documento, sobre um material? Isso varia de um filme para outro? A teoria tem um papel nisso?
CA – A teoria não tem nenhum papel nisso. A teoria pode ter um papel inconsciente. Ninguém faz dois pós-doutorados impunemente. Alguma coisa vai sobrar disso. Mas não que isso vá fazer… Embora o curta do Santos Dumont, Santoscópio = Dumontagem (2010), seja parte do meu doutorado. No meu primeiro pós-doutorado, o filme sobre Mário de Andrade tá integrado ali. Faz parte. Mas eu pessoalmente não conseguiria resolver tão facilmente assim. Minha relação com o arquivo é muito emocional. Embora pareça que não. Eu só faço por coisas que me interessam e atraem. O Dance of Leitfossil, por exemplo. Eu estava fazendo uma caminhada no Parque da Aclimação, com o telefone ligado no rádio, e escutei a música da Ana Moura. Nossa, ela cantou isso pra mim, né? Claro, cantou para qualquer pessoa que sofreu uma perda amorosa. E eu estava naquela época que eu não mais sabia o que mais fazer da vida em relação ao cinema. Então aquilo para mim caiu assim, baixou um raio, mais que um santo ou um demônio. O que que eu posso fazer com esse negócio? Aí eu lembrava da coisa lá com o Bernardo, o negócio de minha aversão a Hollywood, de eu ter que apreciar mais o musical e tal. Aí teve essa coisa misteriosa. Mas em geral eu não consigo determinar uma causa. E é feio dizer isso, porque as pessoas falam que eu sou tão materialista, racional… Mas não é, e não é inspiração, porque o Cocteau também falava assim: inspiração não existe. Existe expiração. Você joga para fora um demônio que tá ali dentro. Talvez precisava de algum cutucão, mas eu não sei. Eu nunca – nunca – desses filmes de material de arquivo, eu nunca decidi fazer de espontânea vontade. Os materiais caíram na minha mão. O Valêncio Xavier falou: “olha, tem as lâminas de lanterna mágica do Militão, Augusto Militão de Azevedo, você tem que fazer”. Fiz o Militância (2002). O Décio Pignatari, que se tornou um interlocutor, um amigo, falou “Olha, tenho uns filmes inacabados. Você é o único que pode fazer o que nós queríamos, que é o cinema concreto brasileiro”. Fiz Das Ruínas a Rexistência (2007). Então, eu não pedi nada. Foi um absurdo, é o acaso. É um encontro feliz. Não é buscado. Não sei. Você encontra ou busca. Eu não sei qual é… O Picasso dizia algo como: eu não procuro, eu encontro. E eu não estou fazendo blefe sobre a coisa romântica. Porque eu posso fazer uma tese para vocês aqui sobre cada fotograma que assinei. Mas eu vendo agora o que eu fiz, não consigo entender. Alguém chega e fala “Olha, tem um filme, os onze fotogramas do Cunha Salles”, e aí isso dá origem ao Remanescências (1997).
MM – Eu queria perguntar sobre a relação entre o filme analógico e o digital.
CA – Como eu trabalhei desde o começo em película, uma das coisas que eu mais fico contente é quando as pessoas dizem: “Nossa, esse filme foi montado em digital? Nem parece. Parece moviola.” Porque, como a minha formação toda é fotoquímica e mecânica, isso norteou tudo. Então o fato de eu ter mudado para essa base digital me faz ter consciência de tudo o que implica. Mas no Final Cut, eu monto fotograma por fotograma, como se estivesse na moviola. Eu não faço de outro jeito. É um instrumento. Então acho que o fato de eu ter sido formado naquela era fotoquímica-mecânica, se eu montar no Final Cut, ou em outro programa digital, eu vou ser um cara que vai estar só instrumentalizando…
MM – A ferramenta, né?
CA – O Paulo Emílio eu montei em o quê, uma semana? Mais ou menos uma semana… Agora, eu fico oito meses para usar um fotograma direitinho. Em geral é assim. No Dance of Leitfossil também, tudo muito rápido, o primeiro estalo… Porque não é só questão de resolução, bitrate. É aquele artigo do Godard, “montar é uma batida do coração”. Então é um ritmo. Você bate. A imagem digital sempre vai ter dois campos. E não é campo e contracampo. É outra coisa. Então é difícil. Eu pessoalmente fico muito conservador na minha história pequenininha, humilde ali… meus filminhos. Aposentei minha moviola há pouco tempo.
FA – Você falou de ritmo e isso leva a uma outra questão, que é o uso da música, e eu diria também o som como música. No Vassourinha tem muito ruído também, ruído do próprio disco, usado de uma maneira musical. E um uso muito frequente de música popular, brasileira ou não, e que traz toda uma temperatura muito específica para os filmes. O Juliano Gomes enviou uma pergunta que me parece interessante. Ele queria que você falasse um pouco dessa relação criativa com a música popular como parte desse processo de criação de ritmo e de forma.
CA – Eu nunca pensei nisso. Em alguns casos, os filmes são montados mudos. Em outros, ao contrário. Mas eu nunca pensaria nessa questão de popular ou erudito. Não consigo. O filme que eu fiz sobre o Augusto Militão de Azevedo, Militância (2002), só usa música erudita contemporânea da mais radical possível.
FA – Você não faz essa diferenciação.
CA: Não. O Décio, o Augusto… A gente não conversou sobre isso, mas isso é antropofagia. Eu escrevi um artigo, não lembro onde publiquei, e nele eu defendi uma tese de que o found footage era um gesto de antropofagia, de apropriação. E aí não tem fronteira. Tanto faz. No filme Sem Título #3: Para que poetas em tempo de pobreza? (2016), eu fiquei um pouco chocado que as pessoas falavam “Nossa, é muito erudito”. Eu não pensei que era erudito. Eu fiz tão apaixonado… É quase um melodrama, né? Carlos Saura poderia ter feito o filme. É super melodramático. Chega uma hora que levanta, na seção do Antonio Machado parece a Joan Baez, então… Eu não consigo pensar nessa separação, então eu acho que a antropofagia foi uma chave de não eleger separação entre culto e popular, sabe? O meu primeiro filme tinha muita marchinha de Carnaval. Sempre misturei registros diferentes. Se eu admitir a ideia de que eu sou um antropófago e um apropriador, eu não vou classificar como erudito ou culto, alta cultura, baixa cultura. Primeiro porque quando entrar em uma eventual obra isso já foi limado. Não vai ter nada mais a ver com o processo de origem, por mais que, e isso é muito importante no filme de found footage, você vai ter uma referência de onde veio aquilo. Porque o gesto é muito marcado. Mas, nesse caso de alta cultura, baixa cultura, eu não vejo.
FA – A sua cinefilia de formação fazia essa distinção?
CA – Antes de eu encontrar o Bernardo, eu era muito xiita, era só vanguarda. Não tinha papo. Aí, ele falou assim: “Carlos Adriano, vamos ver um Fred Astaire?”. Aí, assim, neorrealismo, eu tinha uma paciência… Mas era assim: “Carlos Adriano, para! Vamos ver aquele… tem uma coisa chamada Umberto D. Já que você não quer ver Roma, Cidade Aberta, vem ver Umberto D comigo”. Eu era muito xiita, um xiita no pior sentido do jovem ignorante. “Não quero… Eu só quero o Michael Snow, entendeu? Eu só quero Ernie Gehr… Eu não quero!”. O Bernardo dizia: “o cinema é um pouquinho maior que isso. Isso é lindo. É lindo, mas é um pouquinho maior, você não quer?”. Eu respondia: “Ai, não quero… Só Ken Jacobs. Só Kubelka”. E ele dizia: “Muito bem. Mas vamos abrir essa história?”. Aí, pô, o encontro com ele foi fundamental. Porque se ele não tivesse me feito isso e se eu não tivesse me apaixonado por ele, aí, talvez, eu ainda seria o xiita e seria um cineasta experimental daqueles insuportáveis… Tipo aquele filme da Dore O. contra a parede, sabe? Chega, né? Insuportável!
MM – Ô, Carlos, retomando um pouquinho o que Fábio falou da música e também o que você falou da montagem. A música te serve como ritmo de montagem? Ou a sua montagem tem a música como elemento rítmico importante? Como é que se dão essas duas instâncias? Porque seus filmes são muito musicais. Muito ritmados, sincopados… Como é que se dá isso ali, no trato direto com o material?
CA – Depende de cada filme. Em geral, os filmes são montados mudos.
FA – Sozinho? Você sozinho na montagem?
CA – Ah, é! O único filme que alguém montou, com minha permissão, foi o Vassourinha, pela Cristina Amaral.
MM – Você monta mudo, mas tem uma música na sua cabeça?
CA – Não, não, no caso do Leitfossil tem, é evidente. No caso do La mer, tinha aquela música do Charles Trenet, mas é aquela coisa muito pontual. O Remanescências, que é o primeiro filme de arquivo, é muito curioso. Ele é errado, nesse aspecto. Porque ele foi montado em função da música e, aí, assim, é um filme de 18 minutos que eu fiquei três anos montando. Para ver que eu sou uma pessoa obcecada, né? Depois que eu fiquei muito satisfeito, eu falei assim: não, não vou fazer isso. Aí, eu tirei toda a trilha sonora e remontei o filme sem som. Só que aí se provou que o que eu tinha montado com o som era mais legal. Era uma questão de ritmo, de empatia. Então, eu falei: “ah, então, tudo bem. Eu posso fazer”. Porque eu não queria escravizar a imagem ao som, nunca quis fazer isso. Nesse caso então específico começou meio em função da música e depois voltou. Todos os outros filmes não. Eles não são montados com música. Tirando o caso específico, tipo Leitfossil, que não tem jeito, né? O filme existe por causa da música. Mas, no La mer, que é todo um filme aparentemente sobre música, com as canções, não foi montado com música de jeito nenhum. Quando é fácil para mim, eu já corto. Alguma coisa tá errada porque se ficou fácil não deve ser bom. A equação é essa. É o adágio do Valéry (meu fácil me enfada, meu difícil me guia). Só que aí depois você faz no certo e, poxa, estava bom, né? Eu não sou um gênio, eu sou um operário, entendeu? Porque tem uma história que, assim, a menos que eu estivesse devidamente alcoolizado… Eu posso justificar cada fotograma do meu filme, mas todos eles nasceram de uma vontade que, ao mesmo tempo, é misteriosa. Mas depois eu consigo justificar, sabe? Porque não é uma coisa assim muito impressionista, muito romântica. Então, essa ideia da música, que você me pergunta, também é muito assim. Eu apareci, mas eu não sou nada, né? Então, eu fico assim meio quieto, esperando… A única coisa é um grande amor por tudo o que eu faço. Um amor desesperado, quase doentio e me leva até a fazer coisas que eu não deveria fazer. Eu gostaria que fosse simples, mas não é. Não é. Seria mais fácil para vocês também, né?!
FA – Mas teria menos graça.
CA – Mas eu me apaixonei pelo Bernardo aí, então…

FA – Eu queria te perguntar sobre o ato de rever como um gesto criativo importante para os seus filmes. A repetição, re-olhar a mesma imagem, olhar de maneiras diferentes para essa imagem, reanimar a mesma imagem… É algo que você pensa como um…
FVR – Projeto?
FA – Como um interesse. Eu fico curioso porque é algo que se repete em vários filmes, né?
CA – Tipo?
FA – Bom, o Leitfossil muito claramente, o Santos Dumont: Pré-Cineasta? Uma repetição da mesma imagem, Remanescências é uma repetição. Você tem uma obsessão pelo looping…
CA – O Décio chamava de mesmerizante.
MM – Mesmerizante…
CA – O Décio falava: você é um cineasta mesmerizante. Mas será que não é porque eu não quero que acabe? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Em geral, eu não quero que minhas trepadas acabem. Mas eu não sei se essa minha trepada com o cinema eu quero que acabe. E por outro lado, existe uma ideia. Mas eu acho que tem uma coisa, de você se apoderar do objeto e no Vassourinha tem um outro jeito diferente, mesmo que eu seja um ateu. Ah, eu quero ressurreição, sabe?
FVR – É isso que eu ia perguntar agora. Eu até ia fazer uma pergunta filosófica: você acha que o cinema é uma maneira, no seu caso, de triunfar sobre a morte?
CA – Não.
FVR – Ou, pelo menos, de reestabelecer uma presença? Mesmo sabendo que aquilo vai ter um fim? Porque quando você repete, eu lembro muito disso no Santos Dumont: Pré-Cineasta?, porque a imagem do Bernardo aparece várias vezes.
CA – Mas não é a mesma.
FVR – Não é a mesma, tem uma variação, ainda a tentativa de apreender, que não chega ao fim. E isso é doloroso.
CA – Isso é uma questão que me interessa muito, mas, sinceramente, não. Eu acho que a arte é um glorioso fracasso. A gente não vai conseguir. Eu acho que um dos grandes triunfos da arte são os fragmentos dos poemas da Safo. Poemas de amor. Não é porque é gay também, tá? Mas assim, são poemas de amor, não importa para quem, só sobraram fragmentos. Só. O que sobrou para nós são pedacinhos diversos dela, é o que sobrou. Homero existiu? Quem é? Existe um autor? Para não ficar no exemplo clássico: Shakespeare é um autor ou é um compósito, é um found footage de…? A poesia da época Gregório de Matos. Eu tendo a achar que a arte por definição é fracasso. A gente não vai conseguir. Vencer a grande questão da morte. Mas eu falei isso lá no Santos Dumont: eu não posso fazer nada a não ser uma obra-prima (risos). Minha única vingança da morte. Eu perdi. De antemão, eu perdi, eu não vou conseguir. Eu sou derrotado, mas a única coisa é meu esforço tremendo, tremendo, de fazer uma obra-prima para peitar esse enigma muito grande. Porque é uma forma de você tentar… dar uma John Travolta na história e falar: “ó, bicho, eu consegui”. Mas você não conseguiu, porque você vai perder.
MM – É incontornável.
CA –Mas é o seguinte: se você foi habilitado a fazer beleza… Deixa eu fazer essa vingança contra a morte. Eu não vou resolver. É o que eu posso fazer, sabe? É um gesto muito precário. Isso na série Sem Tìtulo é fatal, porque é sobre a morte. O Scott MacDonald tratou lindamente disso no artigo que escreveu sobre o Sem Título #1: Dance of Leitfossil na Film Quarterly. Porque assim, não tem jeito, vai morrer e acabou. Mas faz bem? Ajuda a viver? Ajuda alguém a viver? Repito, só fiz filme para um cara, mas já tive experiências das mais malucas do mundo. Pessoas chorando ao final da sessão. Com o Remanescências, ouvi: “Gente, eu não sabia que o cinema podia ser assim”. Uma pessoa falou isso para mim em Nova Iorque. Ela chorava. Ali não tem nenhuma pessoa – não é o Leitfossil, que tem o Bernardo, e as pessoas remetem a pessoas queridas, que morreram, aí conseguem fazer essa relação. Mas no Remanescências não tem nada, é só uma onda. A mulher chegou chorando: “Nossa, eu acabei de perder uma pessoa”, ela começou a contar uma história, com uma ondinha do mar. Aí eu fiquei assim: “Puxa. Eu tô num caminho certo, né?” Então, é uma batalha perdida. Mas eu nunca pensei nesses termos. Na verdade pensei em salvar minha vida. Só. Egoisticamente. Mas eu, por conta do que a arte me ajudou a viver, esses caras todos me ajudaram, aí eu fico pensando: “Se eu tive um privilégio de algum espírito, ou musa, me eleger, eu fiz alguma coisa que pode ajudar alguma pessoa a trabalhar um pouquinho melhor essa questão da nossa impermanência da vida através da arte, eu acho, porra, maravilhoso”. Porque dinheiro eu não vou ganhar mesmo, então deixa eu ganhar a alegria das pessoas, pelo menos. A felicidade das pessoas, que não tem preço. Eu fico escutando, agora não tá muito mais, mas as pessoas diziam: “Você só faz filme frio, formalista”. Formalista? Uma trepada.
MM – Frio…
CA – Aí depois que eu fiquei popular com o Leitfossil…
MM – Popular (risos).
CA – Fiquei popular! Que nem o Vassourinha, que é sobre a morte. Ôrra meu, eu não posso chorar, mas aquilo é uma maluquice. Então tá vendo, a arte nos ajuda a viver. Não que ajude como consolo, mas como uma elaboração qualquer. É uma grande digressão, mas respondendo à sua questão. Porque não tem, a gente não vai conseguir. Mas se você lembrar que os fragmentos da Safo ainda existem e nos inspiram e nos dão beleza, eu acho que… Eu fico muito apoiado nessa tradição da poesia. Mais do que na tradição do cinema. Muito mais. Sabe, é uma outra economia. Não sei se é por conta do meu primeiro interesse por poesia…Talvez seja uma referência maior do que o cinema. Pasolini vai aparecer sempre nos meus filmes, independentemente de ser viado, intelectual, militante, polêmico, sempre.
MM – É um escritor também, né?
CA – É um escritor, e é um poeta!
MM – Estou bem contente com a conversa.
FA – Tô super satisfeito, eu quero que você almoce.
CA – É bom almoçar… Mas contanto que essa cachacinha mineira continue à mesa, na companhia da cabeceira…
Leia também: