“O senhor sabe o que o silêncio é? É a gente mesmo, demais.”
Guimarães Rosa, em “Grande sertão: Veredas”
Retomamos o curta Alma no olho para pensar o gesto cíclico materializado na ocupação da própria tela pelo corpo negro que ocupa o enquadramento ao fim e ao começo do filme. Neste filme de 1973, é o preto da tez de Zózimo Bulbul e a posição contraluz do seu corpo, que, vibrando na eloquência do jazz, rompe o limite da imagem vertendo-se em quadro negro. A um só tempo, ele contrapõe-se ao branco infinito do cenário e também da cena cinemática (a tela branca onde o filme é projetado). Do fim para o início: Ouroboros que devora a própria cauda. O gesto se abre em potência de looping e numa convocação – abre-se em chamado àquela que está diante ou adiante da imagem. Nos aproximamos deste curta para comentar seus ecos, avizinhamentos e desdobramentos em alguns filmes recentes, maquinistas de locomotivas que, ao percorrerem seu trilhos, precisam se deparar com a presença abissal de um silêncio, por vezes percebido e exposto numa tela preta, por vezes não.
Já percebemos esse silêncio diante de uma paisagem que, para escutá-la, é necessário demorar-se diante, como em Chuva Serpente (Arjuna Neuman e Denise Ferreira da Silva, 2017), acessamos ele grávido de fogos que queimam, como no fim de Ava Yvy Vera – Terra do povo do raio (Genito Gomes, Valmir Gonçalves Cabreira, Johnaton Gomes, Joilson Brites, Johnn Nara Gomes, Sarah Brites, Dulcídio Gomes, Edna Ximenes, 2017), ou ainda em seu começo, quando a paisagem visível é toda ela incidência da ausência. Ávido na recusa do domínio da visibilidade e praticante de um suicídio vivo em Vaga Carne (Grace Passô e Ricardo Alves Jr, 2018) ou aparecendo aos poucos, lento escurecer enquanto o relato se agrava, o pavio se apaga mas a vela, no entanto, ainda reluz, como em A Gis (Thiago Carvalhaes, 2017): fogo que reluz com um nervo exposto do não-ver e do dever de imaginar apesar de tudo. Tal silêncio pode atravessar o visível como uma interferência cacofônica, pois a conexão é permeada de falhas em INSTITUIÇÃO_INTUIÇÃO (Ana Pi, 2020), mas também é o quadro preto que, ali, guarda e grava as pequenas janelas, ele mesmo sendo plano de conexão. Esse silêncio talvez seja um ato de escuta ativa, como em Fartura (Yasmin Thayná, 2018), onde no coração das presenças (dos arquivos de imagem, dos corpos, da memória, das conversas) um silêncio improvável emerge como possibilidade de expressão imagética. Ora ponto comum, ora interferência radical. Não se trata do quadro negro enquanto mudez, ou censura, sequer da falta de uma coragem que vibra em cada mostrar. Não se trata ainda da recusa absoluta da imagem, nem do som, mas sim um modo de, pelo elementar [a tela preta], expressar-se e inscrever-se com ou pelo silêncio. Silêncio a um só tempo que sublinhamos como traço comum nesses filmes, mas que é plural porque se expressa diferente no interior de cada filme.
Aliado ao gesto narrativo e performático contracorrente, em Alma no Olho, o corpo é transdutor de uma memória em movimento, ele procria: o quadro negro – a rigor, ausência de imagem e princípio pedagógico da aparição -, torna-se ao avesso, vestígio de presença porvir. Libertação é o instante dilatado de um parto, mas também um processo contínuo, poderíamos dizer, de gestação. O prefixo re, aliado ao radical (e radicalidade) do filme, mira tanto o passado quanto o futuro, os embaralha num movimento de presentificação no agora – re-projetá-lo é, em alguma medida, compactuar com a construção da presença ali engendrada – embaralha os tempos porque não faz linha mas rede. Fazer-ver-de-novo. O passado à frente: Sankofa que, com o ovo na boca, olha para o passado para ressignificar o futuro. Em Alma no olho, desvirtua-se a tela preta como representação do inexistente, pois ela acontecerá através de uma presentificação inegociável: movimento de um corpo que aproxima-se demais da câmera a ponto de dilatar as margens do quadro. Se o fim do curta encontra seu início numa repetição sempre diferida, isso se dá também porque corrompeu-se um signo da ausência em presença enunciada e anunciada.
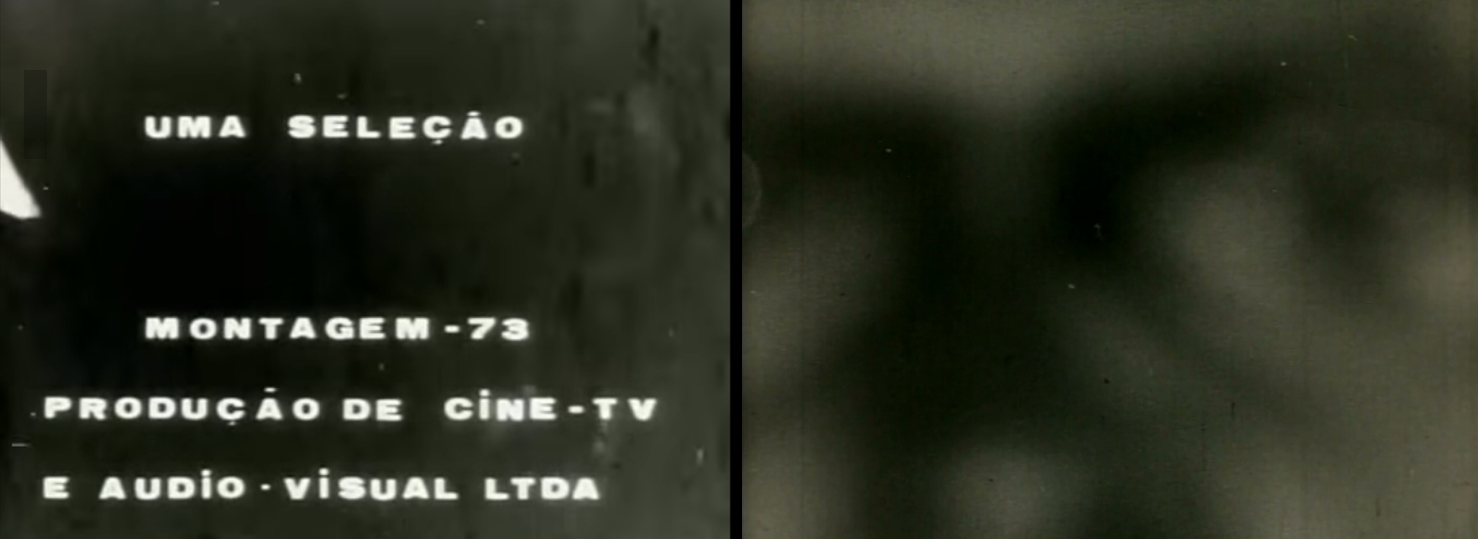
I.
Intervalo no regime da visibilidade é o que ali se expõe, e amplificaremos este silêncio no reconhecimento dele em outras obras. A tela negra reaparece na forma de narrar desses filmes com uma inflexão decisiva, ao que chamamos (não sem ruídos) de silêncio da imagem. Silêncio prenhe, eloquente, que não é tão simplesmente a ausência de imagem, muito menos a falta dela, mas uma certa forma de lidar, enfrentar ou mesmo escolher a escuridão de uma tela negra que consiste.
Por aí, percebe-se de partida que este silêncio da imagem nada dá a ver. Ao contrário, provoca uma tal zona de indistinção que, justamente pela impossibilidade (ética, histórica ou deliberada) de fazer-ver, suspende a visão na presença do quadro preto. Recusa aos regimes de visibilidade dados, a fim de estarmos por um instante – ínfimo ou duradouro – entregues diante de nada, à beira do nunca. Recusa dos limites e das oposições, o silêncio escoa, jorra, joga com as dimensões – expõe, como dito em Vaga Carne, aquilo mesmo de que preenche o interior dos corpos: a escuridão. A rigor, essa modalidade de silêncio dissolve as fronteiras geométricas do quadro e os contornos dos corpos. Embora possamos manter os olhos abertos à espera ou à procura, isso que chamamos silêncio da imagem é todo ele sensível, perturba ou provoca outros sentidos. A voz se libera, a imaginação é atiçada.
Como nos aproximarmos de algo tão elementar, sem ceder à tentação de abafá-lo com qualquer coisa de suplementar que tenhamos à mão? Não se trata aqui do exercício de abrigar uma expressão que nada diz, como ocorre na compreensão do silêncio ligado à supressão da fala. Trata-se de uma interrupção que nada dá a ver, senão a própria interrupção enquanto tal e em si. Expressão irredutível, outro nome para esse modo de assumir a tela preta narrativamente e eticamente pelos filmes.
Eis que em um desses momentos de silêncio da imagem, em Chuva Serpente, enquanto vemos do limite do penhasco as ondas quebrarem nas pedras, em seu ritmo anadiômeno, um preto elementar (tela negra fundamental da experiência do cinema) interrompe de súbito a imagem visível. Também o fazem as musas que cantam, nos seduzem: mergulhamos para dentro de um corte que une vida e canto (periacústico, como se diz no curta). O mar como um corte, e o corte como um desses portais “que ligam todos os filmes”. Por ensejo do silêncio, não seria também a tela preta um corte, um portal? Ela, sempre ela como um corte elementar, um ventre, mas também uma “singularidade corporizada”, uma vez conjugada em cada filme. Não há silêncio igual. Sim, no empuxo deste filme, tomamos a tela negra como portal pelo qual todos os filmes, aqui, se ligam (ligam-se ao se apagar, podemos pensar). Gesto noturno onde um silêncio baixa e nos cobre, pisamos o chão da imagem, ou melhor, somos levadas para debaixo do barro do chão, de onde (potencial ou possivelmente) surgirá uma imagem.
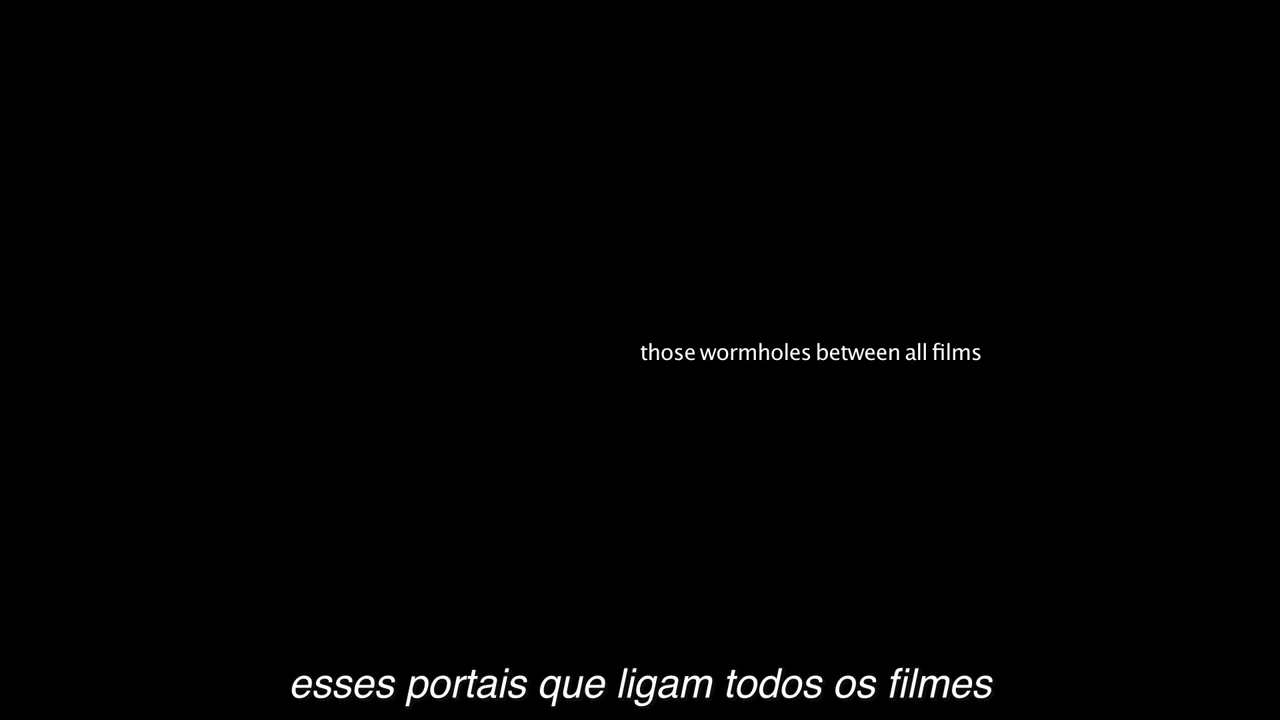
II.
“Como que a gente explode a imagem… ou implode? Como que a gente se reposiciona para saída desses escombros?”, pergunta Ana Pi em INSTITUIÇÃO_INTUIÇÃO (2020). Talvez se trate também disso este tal silêncio evocado: um reposicionamento para uma possível saída dos escombros. Inverso da mudez, o silêncio fala para desafiar a nossa escuta e o visível… E fala também o vazio. Em A Gis, embora ocorram várias telas pretas, é a sequência do doloroso relato do assassinato de Gisberta Salce articulado à persistente imagem de uma pequena chama crepitando, fogo espelhado dentro do escuro do plano, onde talvez mais incisivamente se apresenta este silêncio nesse filme. A frágil fogueira abre-se em duas (ou em várias), por uma superfície espelhada, e acompanha o depoimento até verter-se na tela preta. O plano se expressa pelo silêncio da imagem: a imagem que não existe, porque não foi gravada e porque insuportável em sua humilhação, se faz sentir acusticamente com a narração do brutal assassinato e através do desafio à visão, não reitera a dor nem dela escapa. Quando o fogo parece entregar-se à escuridão, é aí que brota, pelo não-ver, um germe: a canção, cantada por Maria Bethânia, irrompe como uma lágrima. “A distância até o fundo é tão pequena”, diz a letra da música Balada de Gisberta. A um só tempo, a sequência da fogueira vela e revela, cala para escutar e grita do insuportável, com o qual ela interage. Na forma da sequência, o amor tão longe, a dor tão perto, a imagem cala para talvez falar mais alto ao coração, como diria uma outra canção. Silente é a imagem que vemos em seguida.

III.
Coincide que o silêncio ao qual nos referimos também exista como instante derradeiro no qual, o luto se transforma em peça de luta. Lembremos do plano interrompido no qual a cunhada da Gis fecha os olhos para que a lágrima caia – água, talvez, há muito represada. Fecha para conter e, por isso mesmo, mais forte ela cai. O corte do filme nos reenvia de súbito para a tela negra.
Percebemos tratar-se então de um campo de batalha, onde o sofrimento não tem razão em si, mas se efetua como operador da recusa – um silêncio – numa trama que reivindica algo inescapável: justiça e calor à memória dessa mulher brutalmente assassinada nas ruas de Lisboa durante um inverno português. Sugestivo para nós que, apesar da tela negra existir quase como um conectivo gramático do filme, incidindo repetidas vezes durante a exibição, tenhamos atinado para ele em função de uma cena em que justamente ainda podemos enxergar algo: o momento em que vemos o pavio de vela acesa em meio ao quarto escuro, refletida, pequena fogueira estalando suas últimas brasas.
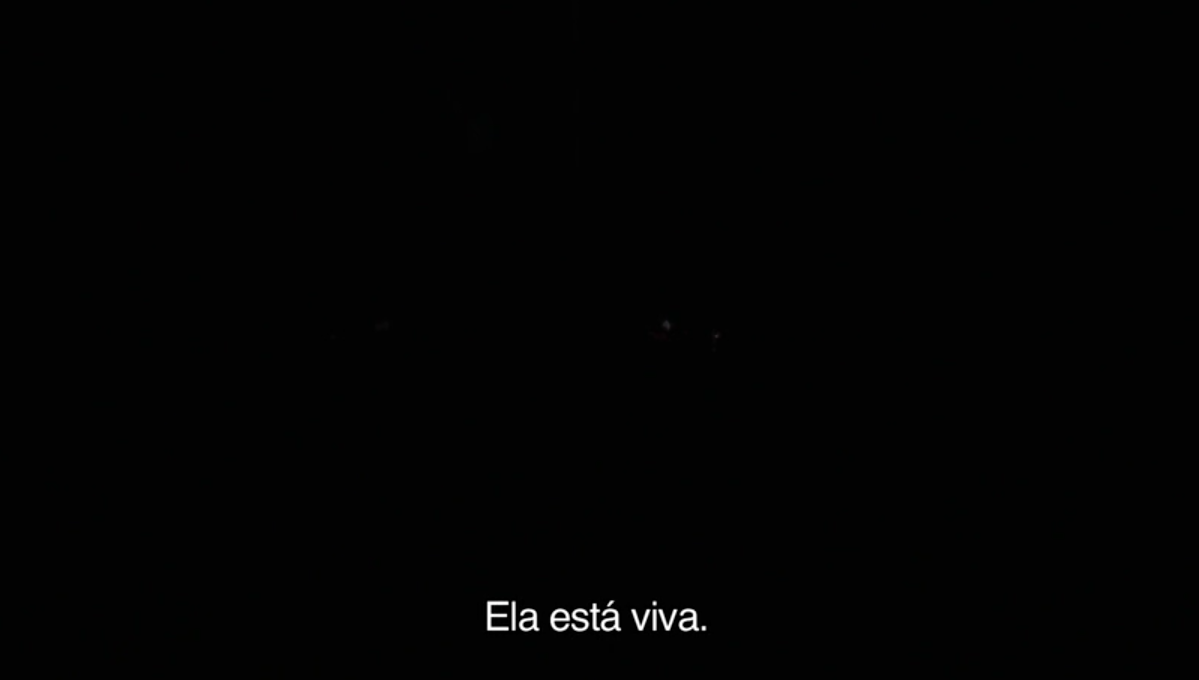
IV.
O silêncio na imagem pode também ser a recusa em oferecer um rosto. O filme, que se chama A Gis e busca o percurso dela por variados caminhos – personagens que cruzaram com ela, recortes de notícias de jornal, enquadramento de ruas por onde ela passou, regravações das cenas descritas nos cartões postais – vive às voltas com uma imagem que não está lá. Esse é talvez seu silêncio mais primordial, que viabiliza todos os outros. Só reconheceremos o rosto de Gisberta ao final, quando quase não queremos mais vê-lo, para que não seja barato, para não flertarmos com a posse de sua aparição. Eis que sua fotografia frontal irrompe, inaugurando uma sequência, junto com a canção feita para ela que, na voz de Bethânia, ecoa “perdi-me do nome; hoje podes chamar-me de tu”.
No limite do filme, Gisberta aparece singularizada a tal ponto que nenhuma representação, nenhum domínio – da visibilidade, da família, da violência ou do símbolo – é mais capaz de retê-la. Perdeu-se do nome, encontrou-se no afeto do apelido na caligrafia da mãe. Ainda que seu corpo seja avistado, tentativas de expropriação derrapam por meio da própria maquinação do filme. Pois é também nesse ponto, no irredutível da face que nos encara, que a história singular de uma vida opera sua montagem ao coletivo e algum projeto de justiça sensível se faz. O luto se torna uma peça, uma arma, um desejo, um projeto indignado de dignidade: hoje podes chamar-me de tu.
A lágrima que cai, aquela que mencionamos acima, restitui o silêncio àquilo que era mudez. Eis uma diferença necessária ao pensamento em torno de uma ética do silêncio da imagem: discernir um do outro e não antagonizar silêncio da fala e da escuta.
 V.
V.
Para tanto, chegamos em Ava Yvy Vera – A terra do povo do raio (2017), articulador de um silêncio que ocorre pelas relações de força entre o que é dito e o que é mostrado. Como primeiro gesto, um ato de fala que desafia a mudez da imagem e, como segundo, um que faz da zona de indistinção na imagem uma máquina de guerrilha. Para expressar tal primeiro movimento, lembremos dos quadros despovoados de gente, a exemplo do plano de abertura do filme no qual o retrato de uma terra arrasada pela plantação de monocultivo de soja é atravessado e redimensionado pela voz que narra, em guarani, a ocupação arbitrária do espaço, a superexploração da terra, o ambiente de perseguição que os brancos instauraram naquele lugar e, não menos importante, voz que engravida na paisagem visível um passado no qual aquilo que vemos era mata e cerrado. Se a imagem sozinha, paisagem da violência, esconderia o conflito que lhe é originário, a palavra aparece com seus sons para ferir o silenciamento da memória. Expondo no filme esta divergência que aqui, nesse texto, nos é crucial: a distinção entre o silêncio e a mudez. A mudez, enquanto gesto de sufocar o grito que lateja de dentro do quadro, será confrontada pelo filme. Já o silêncio, como rota de fuga perante o império que tudo vê, é tática inerente à luta e entrega pistas do seu percurso também nesse plano inicial – em meio à perseguição dos fazendeiros: “só à noite dava para vir aqui”.
Pois, essa noite da imagem é também instância privilegiada para executar ações e finalmente possibilidade de conexão percebida no segundo gesto. Por noite, enquanto figura de linguagem do não-ver, podemos considerar tanto o ato de camuflagem com os galhos e folhas enroscados no corpo dos guarani para protegê-los dos fazendeiros (escondendo, por instantes, uma imagem) quanto o negror que toma a tela ao fim do filme. Tal silêncio da imagem, ao mesmo tempo tema e matéria em Ava Yvy Vera, refaz aquilo que descrevemos nesse texto como gravidez do quadro negro.
À primeira vista não há ninguém na floresta, mas trata-se de se tornar parte, a ponto de confundir-se com a floresta – estratégia aplicada na história de retomada da tekoha Guaiviry e reencenada pelo filme. O silêncio, nesse caso, está prenhe do levante que permitirá ao povo retornar para a terra da qual foi expulso. Assim também, quando a câmera mostra o lugar sem gente e a voz aponta que trará os jovens para voltarem a praticar o Kotyhu: “todos juntos novamente”. No último plano do filme, a noite aberta diante de nós estala um e tantos raio que se anunciam – “sua palavra é o raio” – como um quadro negro que dá luz às suas crias. Talvez, nesse sentido, Ava yvy vera seja pedagógico da diferença entre mudez e silêncio: o segundo está grávido do que não podemos ver ainda, no coração dele há fogos que queimam…
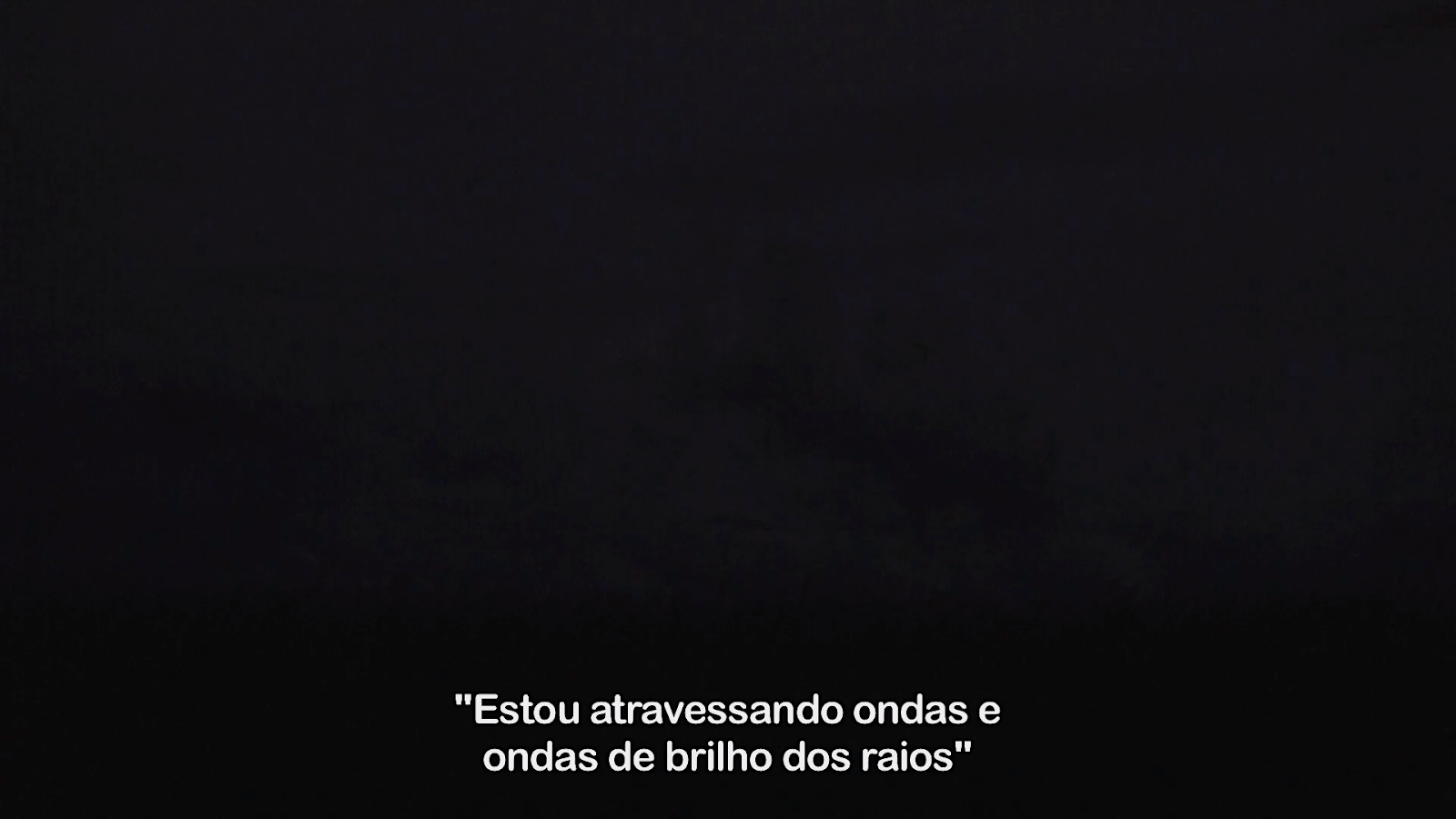
Leia também:
- Conversas ao redor de uma nova cinefilia | Parte 4 – Pontos de fuga
- Fenda – um roteiro, por Maria Trika
- Diante da dor das outras, por Hannah Serrat
- Dançar pelas imagens, por Luan Santos
- delém, por Ingá e Mariana Lima
- “Oi, prazer! Eu sou o cinema”, por Lila Foster
