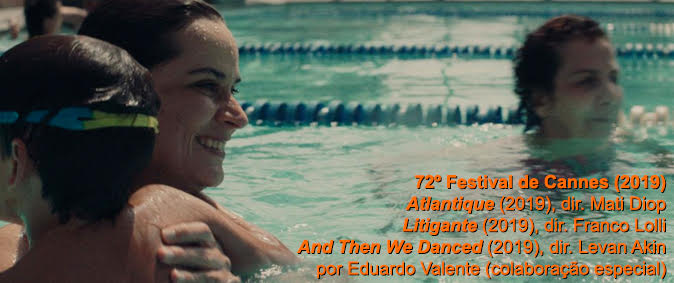Ao contrário do que aconteceu com os três primeiros filmes que fizeram parte da cobertura de Cannes esse ano, onde os diálogos entre as obras pareciam propor caminhos muito claros, inclusive por serem parte da seleção de uma mesma mostra (a competição principal), os três filmes desse texto são bastante diferentes em quase tudo – até porque vêm de três mostras distintas: competição, Quinzena dos Realizadores e Semana da Crítica. No entanto, um aspecto que os atravessa de maneira transversal é a maneira como a fisicalidade da experiência de seus personagens no mundo, a forma como seus corpos circulam pelos espaços e desafiam o seu entorno, permitindo pensar em maneiras bastante complementares de enfrentar alguns dos principais dilemas contemporâneos.
Na competição, não por acaso, o primeiro longa – Atlantique – dirigido pela cineasta e atriz francesa, de origem senegalesa, Mati Diop (sobrinha de Djibril Diop Mambéty) deu continuidade ao tema até aqui dominante de pensar/mostrar maneiras de resistir e se rebelar contra as condições de vida contemporâneas. Seu filme começa no canteiro de obras de uma torre hiper moderna em plenos subúrbios de Dakar, onde os operários começam justamente um movimento de rebelião contra o fato de não serem pagos há três meses por seu trabalho. No entanto, percebendo que só tem ali acesso a outros trabalhadores gerentes, sem nenhum poder de decisão, a revolta não tem continuidade, e saímos do local na companhia de um dos personagens rumo a seu cotidiano no bairro pobre em que vive.
É aí que o filme vai propor de maneira bastante inesperada uma mudança repentina de protagonista: o personagem que acompanhamos por quinze minutos iniciais, após um encontro amoroso secreto com uma jovem que têm seu casamento arranjado com outro homem por acontecer nos próximos dias. Num forte corte repentino elíptico, aquele que pensávamos o protagonista vai sair do filme e deixar o protagonismo nas mãos dessa mulher – um movimento que é central para tudo que Diop deseja mostrar (e, também, não mostrar, pois é justamente um filme sobre as ausências). Sim, porque Atlantique é antes de tudo um filme sobre o peso de ficar para trás, por assim dizer. É um retrato do desesperado êxodo migratório africano não pelos olhos/sentimentos dos que vão, mas dos que ficam.
No entanto, não seria exato dizer que Souleymane (o personagem que se vai) sai do filme, pelo contrário. A narrativa de Atlantique vai se tornar mais e mais assombrada pela ausência dele, assim como de uma série de outros personagens masculinos que o acompanham nessa partida desesperada rumo ao oceano aberto que têm em sua frente – e uma das grandes forças do filme de Diop é justamente os inúmeros planos do mar que surgem ao longo da sua duração, e que cada vez parecem trazer significados e sensações distintas na medida em que essa ausência se presentifica. Presentificação essa que vai se dar de inúmeras maneiras, mas inclusive prática e física através da incorporação dos espíritos desses homens ausentes pelos corpos das mulheres que ficam para trás.
De fato, mais que um filme de fantasmas (e o Senegal pela perspectiva dos seus jovens parece um grande espaço fantasmático), trata-se um filme de possessão: os corpos expelidos pela situação social e de trabalho insistem em voltar e se fazerem presentes de maneira absolutamente física para, literalmente, cobrar a conta da sua aventura fatal. Nesse sentido, o filme de Diop propõe menos uma revolta no sentido do confronto direto violento que já havíamos visto de maneiras bem distintas em Bacurau, Les Misérables ou The Dead Don’t Die, mas muito mais uma recusa em desaparecer, como parece que se espera que esses corpos negros jovens façam. A resistência em Diop é ao mesmo tempo espiritual e de memória, e no processo por que vai passar a jovem Ada se tratará também de libertação, pois o corpo dela, ainda presente naquele entorno, também precisará fugir do destino pré-disposto que se quer impor a ela, na condição do que é esperado de uma mulher negra jovem na sociedade senegalesa.
É interessante perceber como questões muito parecidas estão em jogo, num filme tão radicalmente diferente tanto esteticamente quanto em termos do ambiente social e físico em que se insere, quanto é o caso de Litigante, segundo longa do colombiano Franco Lolli. Enquanto em Diop a abertura ao sobrenatural é também a abertura a uma estética fluida que permite pensar em cinemas distintos como os de Claire Denis (com quem Diop filmou como atriz), Jia Zhang-ke e Apichatpong Weerasethakul, por exemplo, em Lolli estamos no campo do realismo preciso e detalhista do cinema dos irmãos Dardenne ou da parte mais conhecida da geração romena mais recente. No entanto, ao partirmos da jovem negra periférica, com uma vida de poucas perspectivas, em Atlantique e chegarmos na mulher de quarenta anos de família tradicional de classe alta em Litigante encontramos um sentimento comum à mulher contemporânea que já não se reconhece em boa parte dos papeis que se espera que ela cumpra, mas que ainda não consegue perceber totalmente as maneiras a partir das quais pode existir de forma satisfatória fora do universo dessas expectativas.
Silvia, a protagonista, se encontra cercada de crises: o filme já se abre com ela acompanhando sua mãe no exame de ressonância magnética que revela que o câncer de que esta sofria está de volta, e se espalhando. No entanto, essa não é a única angústia que acompanha o cotidiano de Silvia: no trabalho, ela se encontra numa delicada posição de envolvimento aparentemente involuntário com um caso de escândalo jurídico dentro da repartição pública em que é advogada. Como se fosse pouco, ela carrega o desafio constante de ser mãe solteira de um menino de cinco anos, e precisa encontrar as capacidades de dar conta, inclusive fisicamente, de estar presente e responder a todas essas situações que se somam e exigem dela ser bem sucedida naquilo que todos esperam: ser uma ótima filha mais velha, mãe, irmã, profissional – e, um pouco mais adiante, namorada numa relação amorosa que inesperadamente vai começar em meio a tudo isso.
Litigante tira sua força justamente da maneira de filmar como odisseia bastante angustiante essa absoluta normalidade na vida de tantas mulheres: as pressões de todos os lados para que cumpra com todos esses papeis. Aqui, se trata então de tentar libertar o corpo de Silvia de uma possessão muito mais imaginária, essa de carregar todas as culpas inerentes ao inevitável fracasso eventual em necessitar representar tanto, o tempo todo. No papel principal, Carolina Sanín consegue criar um retrato que cativa pela capacidade de transparecer força e fragilidade ao mesmo tempo, em interações bastante delicadas, especialmente com a mãe que definha (interpretada, diga-se, pela mãe do diretor). Sem exagerar em nenhuma tinta melodramática como seria natural ao tema da doença terminal, mas também sem deixar de propor uma narrativa para simplesmente “filmar o real”, Litigante consegue achar o lugar dessa ficção pequena, mas inegavelmente ficção.
É um pouco o que falta acontecer com And Then We Danced, filme de financiamento e cineasta sueco mas passado na ex-república soviética da Geórgia (de onde é originária a família do diretor). O filme tem, como se diz, “o coração no lugar certo” ao filmar uma história de descoberta de si mesmo como pessoa gay numa sociedade profunda (e violentamente) homofóbica – e é pensado tanto mais como gesto político importante pela própria existência do que como gesto estético. Aqui, o desejo do real se revela mais forte do que uma ficção bastante banal como construção narrativa e de entrechos, mas o filme encontra uma força inesperada no ambiente específico em que insere seus personagens: o da dança tradicional georgiana. Esta é uma forma cultural que, como nos diz no filme o “professor severo” (todos os personagens são um pouco arquétipos), se confunde com a identidade nacional – sendo que nela o papel do homem é extremamente viril e impositivo. Quando o jovem Merab começa a descobrir sua atração por um colega, é através do corpo, na dança e fora dali, que sentimos sua transformação gradual.
Embora o filme como construção não consiga, portanto, elevar o material a um lugar que o distingua do “edificante”, as cenas de dança são incrivelmente potentes, na maneira como são filmadas mas principalmente como são vividas nos corpos de seus jovens atores. É aí que a ideia do “corpo possuído” volta com uma força enorme, até a catarse final (novamente: bastante esperada). Para Merab não se trata de exorcizar nada, mas bem do contrário: de deixar que a possessão afirme a identidade que tanto sente necessidade de encontrar, e que é um choque e uma afirmação justamente por ser vivida de forma plena na sua expressão corporal. Assim como Ada e Silvia nos outros dois filmes, Merab precisa se desfazer dos papeis que esperam que seu corpo assuma (estes sim, uma espécie de possessão: do corpo do indivíduo pelos papeis sociais), e através do transe necessita encontrar a si mesmo.
Eduardo Valente é cineasta, crítico e curador de cinema. Dirigiu quatro filmes, foi editor das revistas de crítica Contracampo (1998-2005) e Cinética (2006-2011). Entre 2011 e 2016 trabalhou como Assessor Internacional da ANCINE. Fundador da Semana dos Realizadores (2009), foi programador para vários festivais do Brasil. Atualmente é parte da equipe de curadoria do Olhar de Cinema e delegado para o Brasil do Festival de Berlim.
Leia também: