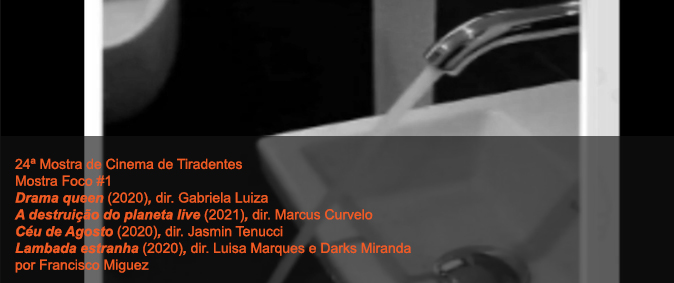Se ano passado o mote da Mostra de Tiradentes era “a imaginação como potência”, este ano parece que batemos na imaginação em revés. Não deu pé, a imaginação não deu conta, 2020 foi inimaginável. Tinha na formulação curatorial algo como: “a distopia como imaginário é um beco sem saída, precisamos de elaborações que escapem do achatamento de horizonte que vem se instalando ano a ano”. A intensidade de 2019 parecia a saturação máxima do assédio mental e material coletivo, mas não subestimemos a inventividade, estética inclusive, da oficina da catástrofe.
O primeiro conjunto de curta metragens da mostra Foco deste ano tem Drama Queen (Gabriela Luíza, 2020), A Destruição do Planeta Live (Marcus Curvelo, 2021), Céu de Agosto (Jasmin Tenucci, 2020) e Lambada Estranha (Luisa Marques e Darks Miranda, 2021). Lançando-se em diferentes planos do audiovisual, passam da tela do computador às cenas em locações, da cidade ao fundo verde, em diferentes registros de narratividade, performance e relação com o espectador, marcados em diferentes níveis pelas atuais restrições de produção. Com nuances do momento em que foram feitos e na heterogeneidade de estratégias, todos parecem olhar a partir de uma mesma experiência, de um tempo que nos atravessa do trabalho à festa, do trânsito pela cidade ao home office. De um tempo não-humano que perpassa toda a experiência como um corte, e que sua realidade pouco tátil deixa a temporalidade amorfa, presentificada.
Como uma das coisas inimagináveis que agora são um termo que descreve uma circunstância e um modo de fazer, Drama Queen se anuncia como “filme de quarentena”. A diretora-personagem narra para a webcam que gostaria de fazer um filme sobre sua amiga (Mirella Façanha) e a relação entre diretora e atriz, vivendo juntas enquanto o teatro como ofício está interditado pela pandemia. Outro termo: “teatro online”, esse lugar meio paradoxal que também ninguém imaginava ter que habitar para seguir tocando as coisas de alguma forma. Mas a amiga sumiu perto do prazo, e isso tudo é contado a gargalhadas via webcam, entre lacunas de imagem e humor autodepreciativo de uma narrativa acidentada. O filme então vira outra coisa, uma sucessão de imagens de internet: um videogame onde o presidente brasileiro ateia fogo na floresta ao som do hino nacional versão trap, enchentes, desabamentos, explosões. Finalmente, um jovem de dreadlocks curtos descoloridos (Lucas Andrade) rasgando em riso, rindo chapado com o rumo desses 10 minutos de filme. Ou da nossa cara, talvez. É um filme que acontece em tela, como se tudo que existisse nele só existisse dentro do computador. Da impossibilidade de fazer teatro, a ideia era fazer um retrato afetuoso e íntimo, mas outras contingências entram em jogo e o gesto “drama queen” transborda no desastre, é inundado, não encontrando lugar estável para erguer um filme. Saltando da narrativa pessoal para imagens da catástrofe não localizadas, a montagem vai se redobrando na precariedade, rindo-quase-chorando do turbilhão enclausurado na superfície da tela.
Esse esvaziamento da dimensão pessoal pela falta de horizontes segue no segundo filme da sessão, mas não catalisando uma espiral na montagem, e mais chafurdando na pasmaceira dos tempos. A Destruição do Planeta Live já nem ri, está exausto. Exausto das lives (talvez por isso o preto e branco em scope?), Marcus (Marcus Curvelo) liga para um amigo (Murilo Sampaio) para contar que apareceu um freela de live, mas cogita meter um tiro na cara, e sonda se o amigo pode aparecer por ele, ou ir com ele se ele acabar desistindo de meter um tiro na cara.
“Esse é um filme de ação direta” aparece escrito, mas não é isso, é uma ironia. Talvez isso não exista, filme de ação direta, talvez seja uma contradição em termos, filme e ação direta. O personagem de Marcus quer tomar um impulso, sair das telas, sair do planeta live, partir para ação, se matar. Mas não há acontecimento, sua vida patina, vive com os pais, é julgado por uma amiga (Marcela Santos) pela sua ideia de se filmar dando um tiro na cara… Enfim, atores à beira dos trinta tragados pelo desânimo da falta de perspectivas. O filme se desloca nesse tempo parado, que não se lança ao abismo como Drama Queen, mas a uma montagem de fracassos, em que um corte não tem um sentido de sequência, o cotidiano não avança para lugar nenhum, as tentativas de suicídio são paródias e trucagens.
“– Já interpretou um herói no cinema ou na televisão? – Não.”, responde Murilo, jovem e negro, que acha que tem outras formas de seguir que não dando um tiro na cara. Ele então se enreda em especulações de um futuro ideal, depois que “cancelarem o Brasil”: um desenho de utopia em que há trabalho, autonomia financeira, Lula presidente e uma grande reparação histórica, de terras e de tudo. Curioso o desenho de utopia de uma geração que coloca no seu esboço um governo já vivido em todas as suas contradições da prática. O último plano é Marcus com um tiro na cara, um buraco de chroma key por onde vaza a imagem do fundo, um cogumelo de explosão, a única imagem em cor do curta. Agora ele também ri. Dele, de nós? Nem o tiro na cara como gesto explode o planeta live: virou também imagem plana, preso no enquadramento talking head da webcam, furado pelas imagens.
Quase que de um corte em continuidade, a fumaça da bomba se torna fumaça de queimada florestal em Céu de Agosto, terceiro curta da sessão. Uma mulher grávida (Badu Moraes) está remexida pela ideia de botar uma filha no mundo. O avanço da narrativa é sua experiência nesse entorno agressivo, subindo nos degraus da violência. Um pássaro cai morto em sua frente, o dia a dia no hospital em que trabalha, o noticiário, o bate-boca na rua, uma manifestação, os enjoos da gravidez, as pessoas tossem. Fazendo um favor à vó, leva um bolo à igreja neopentecostal, que tem neon, cores saturadas, pessoas vibrando com a banda. Olha com distância, cruza o olhar com uma fiel no palco (Lilian Regina). Em seguida se repete o ciclo de agressividades na rua, noticiário, trabalho pesado. Ela volta à igreja e vai atrás da assistente quando ela sai para fumar. A assistente pergunta da gravidez, pede para pôr a mão na barriga, compartilham um cigarro, ela fala do seu vício em cigarro. Vícios, toques, intimidades – a sedução da funcionária da igreja faz jogo duplo.
Do corte, o tempo fecha, o céu carregado se alaranja, escurece. O nome vem da distopia na versão agosto de 2019, um pouco antes do óleo nas praias. Na igreja ela encontra um céu azul no fundo do púlpito bidimensional com “Jesus” em letra cursiva neon, e as pessoas se abraçam, ela é convidada a abraçar uma mulher em prantos e se entrega ao louvor em um aleluia final. Aqui o comentário social se faz mais explícito, inscrevendo o processo pessoal da personagem como fatia de um processo mais amplo de transformação social e climática, e encadeando nesse processo o argumento hoje corrente de que a igreja evangélica tem feito o trabalho de base que cabia às esquerdas. É o mais narrativo e ficcional do grupo, como registro e modo de fazer, e é curioso perceber que é o único do grupo que traz, no seu realismo, evidências de um mundo pré-pandemia, no trânsito pela cidade sem máscaras etc. e que isso marca o tipo de temporalidade da montagem, diversa aos outros filmes da sessão, em um cotidiano linear e marcado pela dinâmica casa–local de trabalho–lazer, em que os acontecimentos do filme, no plano global e individual, convergem à tomada de postura pela redenção religiosa.
Em mais um motivo explosivo, um jorro de lava explode sobre a paisagem da cidade. “Rio de Janeiro, 2020: A cidade se incendiou e sua água secou ou está contaminada. Das profundezas da terra e do céu surgem seres extra-humanos desorientados”: um grupo de pessoas vestidas em collants até a cabeça dançando numa piscina vazia com sobreposições de lava, chamas. O último filme da sessão, Lambada Estranha é, de fato, uma lambada estranha. O filme se sustenta na música e no escracho da performance, ascendendo até o cosmos de chromakey e glitchs. Algo como a nossa versão pop decadente da loucura da dança que bateu no pessoal da Idade Média que viveu a peste e ficava por dias dançando até morrer, literalmente. A distopia é aqui e agora: não há em Lambada Estranha individualidades atravessadas pelos tempos, mas o delírio coletivo de que, faça chuva faça lava, é preciso dançar em tempos delirantes.
As imagens da catástrofe inundam a possibilidade de um filme sobre afeto de amigas que veem seu ofício cancelado. A live suga as energias de dois amigos que riem do futuro em uma narrativa que não tem para onde avançar. Colocar um filho no mundo se torna um castigo divino em que as forças da natureza convocam a mulher grávida ao clamor. A lava esquenta o chão dos dançarinos sobreviventes no planeta.
Esses quatro filmes poderiam ser percepções simultâneas em diferentes cantos de uma só cidade em que o tempo está suspenso. Uma cidade que perde de vista seu jogo de acaso e seu trânsito, e tem sua experiência afunilada à pilhagem das imagens comprimidas de uma memória comum da internet. Em que a escala pessoal é achatada enquanto assistem a fenômenos de escala ambiental virtualizados e impalpáveis, em que explosões e incêndios e erupções são apropriações de arquivo que formam um imaginário comum, de iminência de um cataclismo que não encontra no mundo o mesmo jorro apocalíptico e final. Há nos filmes uma espera desacreditada, que marca suas produções e narrativas com gestos de ironia e fracasso, em uma vontade de acabar com isso tudo de uma vez. E, ao mesmo tempo, rindo de nós mesmos e daquilo que um dia imaginávamos como possibilidades de geração e de horizonte de vida comum.
Leia também:
- Cobertura da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes
- Da imaginação como potência à produção como resistência, por Júlia Noá
- Maneirismo e catástrofe, por Hermano Callou
- Cinemas da rede, no meio do redemoinho: da mão à rua, da rua à mão (1), por Álvaro Andrade, Juliano Gomes e Victor Guimarães
- Cinemas da rede, no meio do redemoinho: da mão à rua, da rua à mão (2), por Álvaro Andrade, Juliano Gomes e Victor Guimarães