Em julho de 2020, Bernardo Oliveira conversou remotamente com Valter Filé, principalmente sobre sua experiência transgressora em TVs comunitárias como a TV Maxambomba e a TV Pinel. A experiência de Filé aqui descrita, entre ótimos causos e reflexões agudas, afirma um interesse da Cinética em explorar cada vez mais a fundo as zonas limítrofes das relações entre imagem e comunidade, entre pedagogia e cinema, entre ética e realização, e assim por diante. Esta é a primeira parte da conversa, que narra os primórdios de seu trabalho na Baixada Fluminense, e as experiências na Maxambomba e na Pinel. Mantivemos a mistura singular entre informalidade e sofisticação no texto, pois essa nos parece ser o cerne da política que atravessa os trabalhos do baiano Valter Filé. Boa leitura. (Juliano Gomes)
*
Bernardo Oliveira – Filé, fiquei pensando em como eu organizaria as perguntas, porque parto do princípio de que Valter Filé não é bem um cineasta. A coisa é mais complexa.
Valter Filé – Eu sou e sempre fui da área de Educação que trabalha com audiovisual. Sou uma pessoa da Educação metido no audiovisual até o talo. E sempre estive envolvido. Agora que eu estou fora da produção audiovisual, pois estou como professor na Licenciatura em Cinema e Audiovisual da UFF. Estava na UFRRJ (a conhecida “Rural” do Rio de Janeiro, Campus de Nova Iguaçu) e saí de lá para esse curso, para trabalhar com amigos e estou superfeliz. Não sou cineasta; minha militância sempre foi na questão cultural. Já passei por teatro, por movimentos de música na Baixada (embora não seja músico). E o audiovisual entrou na minha vida de forma muito intensa. Quando entrei na TV Maxambomba, nunca mais parei de lidar com o audiovisual, de pensar o audiovisual, frequentar ambientes que discutiam o audiovisual. E, principalmente, nessa perspectiva de produções fora do eixo, produções mais populares, que tivessem uma ligação com lutas e militâncias. E a TV Maxambomba foi um prato cheio para isso, porque me levou a muitos lados.
BO – Fico curioso para saber um pouco da tua trajetória, até você chegar à produção da imagem, do audiovisual. Como foi esse primeiro momento até chegar na Maxambomba?
VF – Cheguei à Baixada Fluminense vindo de Vicente de Carvalho (Bairro da Zona Norte no Rio de Janeiro), onde morava. E foi a Linha 2 do Metrô que me tirou de lá. O metrô estava sendo construído, desapropriaram um monte de ruas e casas, tive que ir para a Baixada de um dia para o outro, para uma casa que meu cunhado tinha em Belford Roxo. Por fim, a família toda foi para lá e eu achei que seria um caos na minha vida. Estava acostumado com a vida no Rio de Janeiro, uma relação muito grande com o pessoal do Samba, do Movimento Black, perto do Império Serrano, perto de tudo. Enfim, fui para a Baixada Fluminense.
Pra encurtar a história, hoje acho que a Baixada foi a minha grande escola, minha grande formação, porque todo mundo que é alheio à Baixada, que não vive lá, pensa em um lugar com tragédias e desgraças, com tudo de ruim que existe no mundo. E eu chego lá e encontro um mundo de gente fazendo coisas inacreditáveis, dando nó em pingo d’água, coisa que, no Rio, tínhamos mais cerimônia, precisávamos de apoio, subvenção e tal. Na Baixada, não: a galera não tinha nada e falava: “Vamos fazer o filme!” E eu me perguntava: “Como fazer um filme?”. E eles diziam: “Ah, a gente vende um porco. Vamos vender um porco e faz “. Umas coisas assim, sabe? Gabriel García Márquez total. Descobri que havia ali uma dinâmica de vida que era preciso entender.
Comecei, então, a entrar no movimento cultural, no início dos anos 1980. Participo do Programa Especial Educação dos CIEPS, juntamente com gente que discutia como a cultura poderia entrar nos CIEPS. Sempre de olho no audiovisual, porque a Beth Formaggini (cineasta mineira) já era Coordenadora da Sala de Audiovisual e eu mantinha contato com ela. Enfim, de 1985 para 1986, conheço a TV Maxambomba na primeira versão. Era uma TV que ia para as associações dos moradores para falar sobre cidadania para a população do recém-criado MAB (Movimento de Associações de Moradores de Nova Iguaçu), a maior e mais atuante federação do Brasil, naquela época. A Ditadura ainda meio “balança mas não cai”… Comecei a manter contato, porque tinha amigos que trabalhavam na Maxambomba, fotógrafos, gente que participava da vida cultural de Nova Iguaçu. E, um dia, a Maxambomba resolve que vai para a rua.
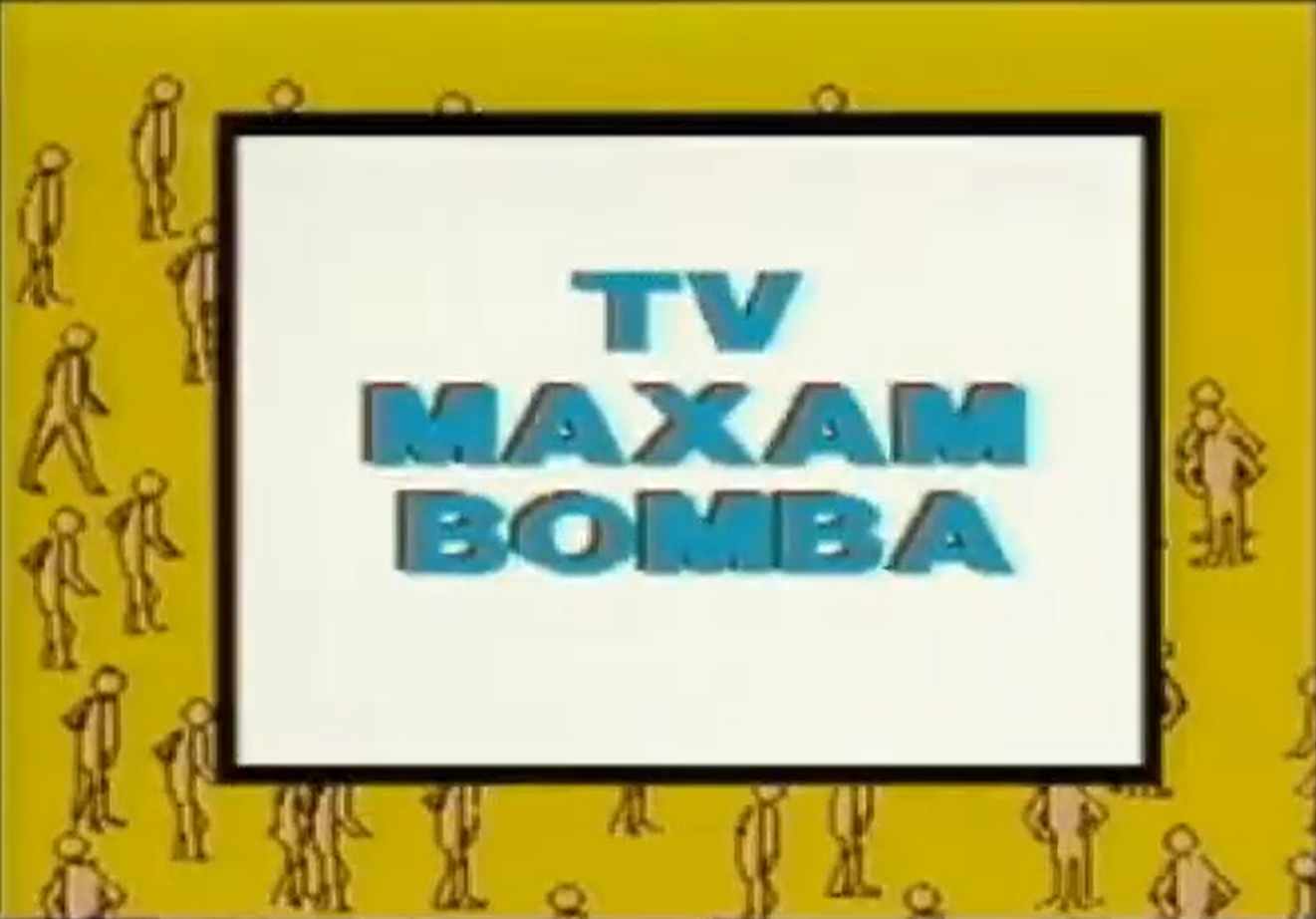
BO – Nessa época, a TV Maxambomba já estava no CECIP?
VF – A Maxambomba é um projeto dentro do CECIP. Ela começa a ser gestada no ISER (Instituto de Estudos da Religião). O Claudius Ceccon (cartunista e humorista, fundador do CECIP) era do ISER, não tinha ainda o CECIP ainda. Quando eles voltam do exílio, começam a pensar em possibilidades de atuação em função da Constituinte de 88. As três principais figuras no CECIP foram o Ceccon, o Eduardo Coutinho e o Breno Kuperman, que era um cara de cinema da UFF, já aposentado, figuraça…
Então, o Claudius aproveitou essa conexão com Dom Adriano e montou uma estratégia de ir às associações de moradores, com a linguagem audiovisual, para falar dos problemas da população e preparar os moradores para discutir a Constituinte de 88. A TV Maxambomba teve acesso, por um tempo, aos moradores. Depois, se reuniu para rediscutir o projeto e resolveram ir para a rua.
Duas coisas precisavam ser mudadas: ir para a rua — porque, há dois anos, estava acontecendo a experiência da TV Viva, em Olinda, que era show de bola, todo mundo empolgadíssimo com a experiência da TV Viva. Então, o Claudius resolveu fazer uma experiência com TV de rua na Baixada. A outra decisão era que a equipe precisava ser da Baixada, pois nessa época a equipe era do Rio. A galera ia do Rio e foi assim que eu cheguei na Baixada. Como a gente entra em uma sala de cinema: de cara não vê nada, só a tela, se bobear senta até no colo dos outros (risos). A equipe era um pouco assim: até acostumar o olho já era muito tempo… E não havia uma sede no local. Então era preciso investir em uma produção constante, em uma exibição constante e em uma equipe da região, que estivesse antenada com o local. Se uma pessoa mora no Rio, tem que ficar catando aqui e ali o que acontece, quem é que teu informante… Já para os moradores, ligados ao movimento cultural, seria mais fácil.

Foi nessa leva que fui convidado para participar da Maxambomba, pela minha atuação na cultura. Já era da área de educação, tinha grande envolvimento com os movimentos sociais, com os movimentos negros, com os movimentos de associação de moradores, o MAB. A equipe foi toda mudada e alugamos uma sede em Nova Iguaçu. Foi um trabalho de montar Kombi, discutir como seriam o uso dos equipamentos, discutir linguagem… Nisso, tanto o Coutinho como o Breno foram fundamentais. Coutinho tinha o hábito de fumar vinte cigarros, um atrás do outro, e quem olhava sempre achava que ele estava no pior mau-humor do mundo; mas era tipo mesmo. E o início foi assim.
BO – Lendo sobre sua trajetória, há um momento em que você fala que esses projetos de TV comunitária e de rua passam pelas questões da comunicação e da educação, marcam o momento da luta pela democratização da comunicação. Como vocês enxergavam isso na época em termos de produção e difusão? E também do ponto de vista político e de linguagem? Em suma, como é que foi levar a TV para a rua?
VF – O que se pode pensar, ainda na Maxambomba, e um pouquinho depois, era que a função dela quando vai pro telão era revitalizar um processo que a Ditadura tinha interrompido: o processo de as pessoas irem para a rua, compartilharem atividades e fazerem coisas coletivamente. A Maxambomba estava na fase da recém-redemocratização. Então, havia ainda muitos fantasmas da Ditadura Militar. Íamos com o telão para um bairro que, às vezes, não tinha nem luz. Levávamos gerador, convocávamos as pessoas a voltarem às ruas, assistir coletivamente, darem publicamente as suas opiniões, para que elas fossem experimentadas e discutidas. Era um modo de preparar e experimentar com as pessoas as possibilidades da redemocratização, onde as pessoas devem participar da vida pública. Quer dizer, a questão era retomar aquilo que a TV de massa, a TV broadcast, havia feito, que era privatizar o público. Tentávamos publicizar e retomar o público, inclusive a partir de questões que elas achavam que eram privadas; mas que não eram, eram públicas. Era um que não tinha trabalho, o ônibus que era muito ruim etc.
Por outro lado, o fato de a gente ter que ir para a rua também fez com que tivéssemos que aprender muita coisa de linguagem. Sabíamos, por exemplo, que não podíamos fazer um documentário de 40 minutos na rua. Começamos, nas primeiras exibições, por sugestão do Claudius, a levar o Dom Adriano para falar, porque ele falava coisas incríveis. Quando chegávamos, abríamos o telão, chegavam dez pessoas. Depois mais dez chegavam, outras saíam… A cada dez minutos chegava e saía gente, porque a rua é de Exu, não é um auditório. As pessoas não são obrigadas a ficar lá. Começamos a perceber que elas ficavam porque estavam gostando. Então, nosso foco tinha que ser por aí, não porque era “politicamente correto”. Na associação de moradores, as pessoas ficavam.
Um dos fatos que fez com que a Maxambomba saísse das associações de moradores foi o seguinte episódio. A gente sempre trabalhava com pouca gente. De oito a quinze moradores, mas a gente queria trabalhar no miúdo mesmo. Um dia, um dos membros da equipe foi a uma associação de moradores que estava com duzentas pessoas e alguém falou: “Sucesso de público! A Maxambomba bombou” — e ficou todo feliz, ligou para o Claudius, fez uma algazarra. Achamos que aquilo era um sucesso estrondoso. Só que, ao mesmo tempo, questionávamos: “Por que duzentas pessoas nessa associação e, nas outras, não?”. Descobrimos que o presidente dessa associação, na época, recebia tickets de leite que o Governo entregava (risos). Quer dizer, as pessoas iam para pegar o leite. E o presidente condicionara a entrega do ticket e assistir a Maxambomba. Todo mundo ia obrigado, por necessidade.
Pensamos: “Não dá”. Passamos a ter como audiência o interesse. Tínhamos que considerar o tempo que as pessoas ficavam. Não podíamos ter programas com mais de cinco minutos. No máximo dez minutos! Nunca era um produto acabado, que dissesse como se faz isso ou aquilo. A gente projetava o vídeo com a ideia de levantar questões a partir dali. Depois que acabava o vídeo, a gente ligava a câmera, a luz e perguntava: “Quem quer falar?”. As pessoas discutiam, falavam, era muito interessante.
BO – Incrível…
VF – O CECIP mantinha uma estrutura muito grande. A Maxambomba era um dos projetos dentro do CECIP que produzia um monte de coisas. A Maxambomba possuía uma estrutura muito difícil de se constituir dentro do CECIP com autonomia. Então, concluímos: “Se não conseguimos acompanhar a TV Viva, do ponto de vista da qualidade da imagem, vamos ter que investir em linguagem, no modo como a gente trabalha”. Queríamos discutir o que a TV Globo tinha como slogan, o tal “Padrão Globo de Qualidade”. Quando apresentávamos alguma coisa que não estava muito boa, ninguém queria assistir. Mas, mesmo na Globo, se um telespectador gravasse e mandasse para eles alguma cena inusitada em VHS, eles passariam. Concluímos que se a gente fizesse uma linguagem que possibilitasse às pessoas produzirem um processo comunicativo naquela comunidade, isso já seria válido.
E começamos a apostar que não faríamos mais programas fechados. Investiríamos em outros tipos de programa. Por exemplo: tínhamos um programa que o formato era assistir novela na casa das pessoas. Pegava duas câmeras, uma equipe em uma casa e uma equipe em outra. A gente gravava os moradores assistindo a novela e, nos intervalos, a gente conversava com os moradores sobre a vida deles, a inserção na comunidade, o que pensavam do mundo. Quando acabava a novela, fazíamos uma pergunta que era terrível: “Quem pode contar o capítulo que acabou de passar?”. Era um quebra-pau, porque cada um havia assistido uma novela diferente. Depois, a gente juntava as duas famílias para assistir o mesmo capítulo que havíamos gravado, para elas discutirem o que haviam visto. Juntávamos tudo isso, botava no telão na praça e exibia o capítulo da novela na praça. Mas eram só algumas imagens de referência, com as pessoas falando barbaridades das suas vidas, do seu cotidiano e a discussão comia solta.

Existe, inclusive, uma matéria do Zuenir Ventura, dizendo que se a Globo viesse a Shangrilá (Belford Roxo, Baixada Fluminense) hoje, perderia para a TV Maxambomba. Porque na nossa havia umas 500 pessoas na rua, exatamente porque elas iam para discutir a novela. E era muito doido. Era uma forma de a gente trabalhar. Essa aposta na linguagem fez com que a gente apostasse também nos moradores. E a gente apostou.
Teve um momento, em 1994, em que fomos roubados, levaram tudo da gente: a Kombi com todo o equipamento. O que que a gente fez? Não tínhamos mais câmera, não tínhamos nada. Fomos para os bairros perguntar aos moradores quem é que tinha câmera que filmava casamento. Na época, o VHS estava se popularizando e as pessoas viviam de filmar casamento. E a gente dizia: “Você está fazendo casamento, a gente vai oferecer oficinas, de linguagem audiovisual, de edição”. Os caras faziam tudo intuitivamente. Então, se chega alguém que trabalha com isso e vai oferecer uma oficina, ia um monte de gente com câmera. E a gente falava: “Só que o compromisso é que vocês gravem também coisas da comunidade. Que vocês pautem assuntos e a gente vai gravando, vocês gravam o de vocês e gravam o que vai passar na Maxambomba, quando a gente vier ao bairro”. E inventamos o “Repórter de Bairro”, uma espécie de repórter que cobria a própria região de moradia. Recentemente eu vi que a Globo fez algo parecido, contratando pessoas locais para cobrir sua região. Eram os “correspondentes”.
Só para fechar o assunto da linguagem, cada bairro tinha uma equipe diferente. Fizemos uma equipe de Nova Iguaçu chamada “Rancho Fundo”, basicamente com crianças de 9 a 17 anos. Eles pautavam, a gente participava da reunião de pauta para problematizar — porque não era tudo na mão deles, era uma negociação conjunta sobre o que era mais importante — até porque era pedagógico também. Senão eles iam replicar a televisão. Teve um dia que eles resolveram gravar um vídeo e falaram:
— Queremos fazer uma pauta com a história do buraco.
— A história do buraco? — perguntei. Buraco tem em qualquer rua da Baixada Fluminense.
— Você não está entendendo. Havia uma fazenda de escravos, com um túnel que começava aqui e saía em Tinguá. E tem um buraquinho, que hoje não entra ninguém, só um menino ou alguém pequeno. Só que a gente entra e, quando chega lá dentro, consegue ficar de pé. Pensei: isso vai ser legal, porque essa história corre aqui desde que eu era moleque, o meu pai já falava disso. Um monte de gente comenta que havia esse túnel e era como uma lenda na comunidade. Você topa fazer?
— Vamos lá — falei.
Pegamos uma lata de leite Ninho, fizemos uma gambiarra com uma lâmpada, porque tinha que ser uma luz que não queimasse os meninos e que também pudesse caber nos lugares. Fizemos 20 metros de extensão e dois garotos entraram, com uma câmera e aquela lâmpada. Foi impressionante! Quando eles ligaram a luz e câmera, os meninos levantavam a mão e não alcançavam o teto. Era um túnel mesmo, cavado! Eles andaram uns 20 metros, acabou o fio e eles não conseguiram mais. O vídeo é só isso. Voltaram e falei: “Como é que a gente vai fazer? Vamos editar, vamos colocar alguma coisa?”. E eles propuseram:
— Vamos gravar entrevistas com gente idosa daqui falando sobre isso.
Os velhos sabiam do buraco, mas nunca conseguiram vê-lo porque ele havia desbarrancado, ficou só aquele buraquinho. Foram as crianças, sem querer, brincando de pique-esconde, que entraram lá. Aquela era a oportunidade dos mais velhos verem o buraco. Começaram a entrevistar os idosos, um monte de gente garantindo que havia mesmo o túnel, um imaginário fantástico em torno daquilo.
Um belo dia, o Claudio me liga, no dia que a gente ia exibir isso, o Claudio me liga e diz:
— Estou aqui com um visitante ilustre que veio para uma reunião na COPPE/UFRJ. Ele ia para um evento no Rio com a Regina Zappa, que na época era jornalista do Jornal do Brasil. Esse visitante ilustre queria um projeto que fosse inovador, alguma coisa que ele não tivesse visto e sugeriram que ele conhecesse a TV Maxambomba.
— Beleza! — falei. A gente tem uma exibição aqui que vai dar gente para caramba.
— Ah, não — me respondeu o Claudius. Não podia ser em um lugar no Centro, que a gente preparasse?…
— Não quero nem saber quem é o visitante. — respondi. Tem que ser hoje porque a comunidade está ouriçada.
— Não, eu vou falar quem é para você saber que a gente pode produzir uma coisa melhor.
— Claudius, vai ser duro de negociar.
Quem era o visitante? Era o Noam Chomsky. O cara com a esposa, em um lugar escuro para cacete (risos). E ele com um olho arregalado! E o Claudius pediu para avisar no telão: “Estamos recebendo a visita do Noam Chomsky”. A comunidade não sabia de nada (risos). Passava pelo cara e dizia: “E aí, bacana?” (gargalhadas).
E o Claudius perguntou:
— Que programa vocês vão passar?
— “A história do buraco” — disse.
— Porra, não, como é que o Chomsky vai olhar essa “história do buraco?”
Respondi:
— Claudius, isso aqui é um processo comunicativo entre essas pessoas. Se seu visitante for um bom entendedor, vai perceber que não foi para ele. Ninguém fez macumba para turista aqui (risos). Então, ele pode até dizer que não entendeu nada. Beleza.
E Chomsky voltou feliz da vida com a Maxambomba. Inclusive, tem um livro dele, eu não lembro qual, em que o Claudius fala que ele fez uma citação da Maxambomba. Ele escreve que conheceu um projeto, faz elogios. Imagina uma exibição na rua! Os meninos sacaneando ele… Aquela molecadinha do inferno, que está lá também pra zoar pra caramba. Tinha um negócio na época, o grupo “É o Tchan”. Quando ouviram falar que o visitante era o Chomsky, cantaram: “Segura o Chomsky, amarra o Chomsky…” Ele não entendia nada e o Claudius morrendo de vergonha…

BO – Você falou que a TV Viva influenciou muito a Maxambomba, mas eu sinto que há uma distinção de projetos. Não é uma distinção imediata, é algo que vocês vão construindo a experimentação da Maxambomba. Você separaria essas duas experiências, em termos de TV de Rua e TV comunitária? Faz sentido?
VF – Acho que há uma diferença na TV Viva para a Maxambomba: a maioria das pessoas eram da área de Jornalismo e Comunicação. Então, já existia uma espécie de “calo”, de hábito na produção desses documentários. Quando nos chamaram para montar a equipe da Maxambomba, só havia um cara com experiência em audiovisual. A gente aprendeu sozinhos, não tinha medo de experimentar.
Primeiro, a questão da estética do “miserê”, da dificuldade. Porque, às vezes, não tínhamos dinheiro nem para produção, tinha que se virar. Havia demandas que a gente tinha que resolver. Por exemplo, sempre éramos procurados pelas escolas, que pediam: “Vocês não têm um vídeo que fale sobre drogas? Um vídeo sobre sexualidade?…”. Eles pediam vídeo para exibir e, depois, ter uma discussão com os alunos. Um dia, uma senhora estava lá na escola e propus: ao invés de mandar um vídeo pronto, podemos ir à sua escola e fazer uma atividade com as crianças. Uma escola de Ensino Médio. A gente pensou um projeto que era colocar duas escolas em contato: uma de Japeri, outra de Mesquita. E a gente chamou isso de “Vídeo Carta”. Não havia internet, lembre… A gente chegou à escola e propus aos diretores:
— A única coisa que a gente quer é que vocês não participem com regras, com moral, com coisas assim. E a gente vai discutir com eles.
— Mas precisa discutir alguma coisa que seja do currículo — responderam.
— A gente quer discutir — respondi — o que eles pensam do mundo, o que eles sabem, como veem televisão. A relação deles com a linguagem audiovisual…
A professora, que tinha uma relação muito boa com a gente, falou: “Beleza”. Acertamos! Foi um projeto feliz. Chegamos na sala, ligamos o microfone, a câmera e ela avisou que, sendo uma turma de adolescentes, eles falam o tempo todo e ao mesmo tempo. Assim, a primeira coisa que a gente fez quando chegou foi avisar que tinha um microfone direcional e uma câmera.
— O cara está com a câmera solta e esse outro, com o microfone direcional, leva um tempo para chegar; se todo mundo falar e não deixar ele chegar, não vai gravar e vocês estão gravando para a gente. Topam?
— Topamos!
Começaram a nos respeitar, um falava, o outro levantava a mão e falava. A proposta era discutir com eles alguma coisa que eles achassem interessante, que fosse pertinente, a gente não sabia o quê. Foi um silêncio de uns cinco minutos, até que uma menina falou:
— Eu queria contar uma história. A nossa turma está se formando, então, teve uma feira de ciências e pra arrumar dinheiro, começamos a vender camisinha. Os meninos aqui da sala caíram de pau, alguns na menina que comprava camisinha. Começaram a dizer que elas eram “oferecidas”, que “se compravam camisinha é porque não eram mais virgens”.
E o pau quebrou. Porque os meninos começaram a se justificar: “Não foi bem assim. Mas por que uma menina vai ter camisinha na bolsa se não é para usar?”. Saíram coisas do arco-da-velha. A gente gravou tudo aquilo, quase uma hora. Fazíamos uma edição rápida, voltávamos para eles e dizíamos:
— Isso aqui foi o que vocês falaram. O que que vocês acharem que não está legal, está fazendo alguma coisa ruim para a imagem de vocês? Como é que a gente discute?
E aí, de propósito, a gente tirava coisas do lugar. Botava uma resposta lá embaixo, porque a gente também queria discutir a linguagem, que não se dá onde se grava, mas sim onde você recria, na edição. Um menino via e falava: “Mas, porra, eu falei isso, mas não foi aí não! Porra, sacanagem! Falei foi lá! Por que que colocou aí? Por que que não entrou na ordem que a gente falou aqui?”
— Porque agora o discurso é da Maxambomba — respondi. Da mesma forma como…
E um dos moleques interrompeu:
— … da mesma forma da Globo, que veio aqui uma vez, gravou um negócio e saiu tudo de outro jeito! Chamaram outras pessoas, botaram outras coisas…
E, aí, a discussão tomou dois níveis: o nível da linguagem — como é que se usa a linguagem, como tem sido usada no Brasil e as questões deles. E um outro nível de reavaliação do que foi dito.
— Bom, tá bom. Restabelece o lugar onde eu falei ou, então, deixa assim mesmo. Mas tira aqui, que eu falei uma bobagem que, depois, eu me arrependi.
Até hoje eu trabalho com isso na Educação: a experiência da pessoa de se ver no vídeo, na tela. Eles diziam: “Jesus, eu falei isso?”. E a gente pegava esse vídeo e ia para outra escola. A outra escola assistia, metia o pau nos primeiros depoimentos, devolviam as questões e a gente ficava nessas idas e vindas… Ou seja: na segunda vez, já iam quinze visitar a outra escola com a gente.

BO – Acho a Maxambomba fascinante porque esse processo faz com que vocês, de alguma forma, se destaquem da TV Viva. Mas, pelo que estou entendendo, vocês também se destacavam do CECIP. Eu li uma entrevista sua onde você falava que o CECIP tinha uma coisa muito “pedagogenta”. Sou da Educação também, trabalho na Faculdade de Educação da UFRJ, e percebo aspectos negativos naquilo que você chama de ficção, “a ficção de que vai ensinar coisas às pessoas”. Penso que, talvez, esse seja o eixo mais complexo em um debate sobre educação. Queria ouvir você sobre esse ponto de vista, porque entendo que talvez a Maxambomba, mesmo em relação ao CECIP, tem algo de muito diferente, de como vocês pensam essa relação entre comunicação e educação. E a presença das pessoas é fundamental. E vou fazer só um parêntese nessa pergunta, porque aquele filme Praça do Pacificador é uma obra-prima. (Assista aqui: Praça do Pacificador).
Não tem nada parecido com aquilo. É impressionante a verdade dos depoimentos, o humor… Não é uma coisa pesada, não é uma coisa agressiva. É uma coisa divertida, está tudo ali: a prostituição, o menor de rua, questões em torno daquele espaço. Então, quero ouvir você sobre como é que essa TV sobrevive tanto tempo, se destacando, se distanciando das suas influências e criando uma coisa completamente nova.
VF – Isso é muito interessante. Foi uma questão que atravessou a vida da Maxambomba na rua. Na associação, não, eram vídeos quase institucionais que diziam: “Vote certo, faça isso, faça aquilo”. Quando a gente ia para a rua, dizia: “Agora, não dá mais para trabalhar com essa ideia de que as pessoas não fazem diferença nas suas vidas porque não sabem”. Agora, a gente pode tentar entender o que é a Baixada Fluminense. As pessoas se verem. Porque tem muita coisa bacana que as pessoas não sabem. Às vezes, do lado da sua casa tem uma pessoa fantástica que ninguém sabe, que foi o caso do Romildo. Quando eu gravei com o Romildo, em 1990, não era pro Puxando Conversa (programa sobre compositores do samba fundado por Filé em 1997), era pro programa da Maxambomba. A primeira vez em que a gente levou o Romildo pro telão, em Mesquita, as pessoas falaram: “Como assim, aquela música da Clara Nunes é dele? Não, não é dele”, “Porra, é”. “Esse cara bebia aqui.” Ele morreu uma semana depois. E você fala: se alguém se sente orgulhoso do lugar que mora, é capaz de fazer coisas pelo lugar onde mora. Não é só por não ter informação.
A briga com o CECIP sempre foi muito grande, porque o CECIP tinha consultores. Então, um consultor de não sei onde, dizia que o correto era falar isso, era fazer aquilo… E os projetos tinham relativa autonomia porque era longe demais do CECIP, não chegava ninguém… A gente estava lá na Baixada. Mas a gente tinha que prestar contas.
Uma das vozes que afiançou o trabalho da Maxambomba foi o Eduardo Coutinho. Se ele não tivesse existido, talvez, a gente não tivesse experimentado tanto. A gente fazia umas loucuras e o Coutinho falava: “Do caralho, do caralho, isso aí é do caralho”. E o Claudius já vinha preparado para dizer: “Mas ensinou o quê? O quê que as pessoas aprenderam?”. A gente nem dá conta de como é que as pessoas aprendem e como aprendem; você ensina, mas não sabe como é que as pessoas aprendem. Então, isso foi muito interessante.
Um exemplo disso é o “Eleições Lindomar Ribeiro”. (Assista aqui: Eleições Lindomar Ribeiro).
Era uma época em que a gente precisava discutir eleições e o CECIP queria que fizéssemos alguma coisa para dizer: “Vote certo, pense no…”. Aquelas coisas… A gente replicou: “Porra, a gente vai fazer o candidato mais safado possível, para comprar voto, porque a gente quer ouvir as pessoas. É essa ideia de que você ensina sem nem conhecer as pessoas, porque você conhece pela falta, porque são da Baixada, porque supostamente são ignorantes, porque supostamente são desinformados. E você só chega lá para “catequizar os índios”. Eu falava pro Claudius: “cara, isso é o neoprojeto da caravela. A gente está cansado das escolas irem às periferias para “catequizar os índios”. É preciso, minimamente, parar e ouvir quem são essas pessoas, o que pensam, o que elas dizem… Sem isso, até você, que trabalhou com Paulo Freire, está sacaneando o velho.”
Enfim, a gente tinha uns embates, mas o Claudius sempre foi uma pessoa muito democrática: ouvia, era muito bom de lidar. Mas quando chegava nesse ponto de divergência, o Coutinho sempre dava os pitacos dele e todos ficavam quietos.
Então, o “Eleições Lindomar” é um exemplo dessas negociações. Fomos a um bairro chamado Tinguazinho (em Austin, distrito de Nova Iguaçu) na época das eleições. A Baixada Fluminense na época das eleições é que nem muitos lugares no interior do Brasil: tem candidato de tudo que é jeito. A gente descobriu, então, que no Tinguazinho tinham candidatos como Totó, Zé Porquinho, Zé da Padaria, Alfredo dos Bugalhos. Mais de oito candidatos. Um tinha uma carroça; outro, uma barbearia. E a gente propôs:
— Que tal a gente fazer um “programa eleitoral” aqui, onde os caras vêm, falam da sua plataforma e as pessoas da população fazem perguntas?
Foi a coisa mais hilária do mundo (risos). Teve gente que desistiu da campanha (gargalhadas) quando os moradores começaram a atacar. Faziam perguntas e eles falavam:
— Isso não é tarefa do vereador — se defendia o contestado.
— Você tem certeza? — replicava o eleitor. — É do vereador, sim. Você tá pensado o quê?
— Não… então… acho que não estou preparado, ainda não — confessava.
O que rende disso aí em termos de produto? É muito difícil você colocar em produto, entrar em um festival para ter visibilidade. Era muito difícil entrar em festival. Porque a gente entendia que havia a necessidade de uma materialidade. Tinha que entregar toda essa experiência dentro de uma materialidade para ser avaliado, mas é difícil avaliar o que acontece em uma comunidade dessas.
De toda forma, a NOVIB — que era uma das grandes financiadoras, financiava a FASE, o IBASE, era a que mais dava dinheiro para os projetos de comunicação no Brasil — uma vez fez uma avaliação da Maxambomba. E quem veio avaliar a Maxambomba, ficou duas semanas na Maxambomba, foi o Eduardo Homem, o fundador da TV Viva. E eles ficaram aqui dois meses. A conclusão que eles chegaram foi de que a Maxambomba sempre fora subvalorizada nos relatórios e recibos. Que não se tinha noção do que a Maxambomba fazia. Porque vinha a ordem: “Manda o relatório”. E, no relatório, perguntavam: “Quantos vídeos vocês produziram? Quantos foram na exibição? Quantos não sei o quê”.
Eu considerava que a avaliação deveria ser mais qualitativa. Como é que a gente tenta provocar pessoas a se pensarem como sujeitos no mundo? É diferente de você dizer: mandei um vídeo que ensina como votar bem, tinha 200 pessoas na sessão…. O que que aconteceu com essas 200 pessoas? Podem ter ficado ali pelo gosto do papo do cara ao lado, porque tinha meninas passando… Nada é garantido. Como captar esse processo em uma materialidade apta a corresponder às exigências da pedagogia e dos festivais?

BO – A Maxambomba não estava dentro de um projeto estético, mas de um projeto político de interlocução com a comunidade, com as pessoas, com o povo, com o popular. Essa é uma questão do documentário brasileiro, mas também de todo debate em torno do documentário político do século XX e do XXI, todo o debate em torno do nacional-popular. E os sentidos e representações desse popular, ao longo do século XX, sempre foram administrados pelos centros burgueses. Então, essa imagem popular, através da TV Maxambomba, me parece um momento realmente novo. E eu ficava pensando que, quanto menos pedagogia, mais experimentação. Uma pergunta um pouco mais abstrata: o que é isso, a imagem popular?
VF – Uma vez na ABVP teve um encontro com a Cajamar. O pessoal discutindo vídeo popular, que era a temática da ABVP, até porque era esse o nome: Associação Brasileira de Vídeo Popular. E tínhamos um slogan que era “Maxambomba, uma TV popular”. E, em um grupo em que eu estava participando, caí na besteira de dizer que “popular mesmo era a Globo”. E se você for pensar nesse aspecto, a Globo é popular. A gente pode trabalhar com pessoas que são consideradas “populares”, mas de qualquer forma são vistas através de olhares externos. O “popular” é alguém a quem você define a priori e, às vezes, aprisiona em uma estética, formato e modelo de pensar esse popular.
A gente discutia muito a ideia de “popular” e de “comunitário”. Não nos considerávamos uma “TV Comunitária”, mas uma “TV de Rua”, que andava pela rua, uma coisa meio de Exú. O popular sempre foi uma discussão muito complexa. Quem tem uma discussão bacana sobre isso também é o semiólogo, antropólogo e filósofo colombiano Jesús Martín-Barbero, no livro Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia (Editora UFRJ, 1987). O que a gente tem de história, até mesmo na esquerda brasileira, é a do popular ser aquele a quem se deve salvar. O Coutinho fala isso sobre a UNE, sobre o CPC, que eram meninos de classe média salvando o popular. Isso tem o seu contexto, a sua história, o seu momento. Mas, de qualquer forma, o popular é alguém a quem você precisa salvar. E, supostamente, se você precisa salvar, já existe uma menoridade, uma falta. É um sujeito considerado a partir da sua falta. É a desgraça total! Quando você coloca essa pessoa na situação de menoridade, imprime nela essa menoridade para sempre. Ela nunca vai se emancipar em relação ao mestre. E essas pessoas estarão sempre dependentes de você, o que é a maior desgraça, a tutoria.
Certa vez, vieram os consultores de meio-ambiente do CECIP, todos bem informados, gente que participou da ONU etc. E a gente foi no Rancho Fundo, em Nova Iguaçu, e a Jane Paiva da UERJ foi com a gente pois ela queria discutir a questão do meio ambiente. Então eu propus a produção de um vídeo com a população para falar do assunto, para saber o que eles pensam sobre meio ambiente…
BO – Era a ideia do meioambientemente (1993)…
VF – Isso, meioambientemente, que é um disparate… (Assista aqui: meioambientemente)
Porque o “popular” da forma como eles veem, sempre escapa. “Não queria conversar sobre isso não, vamos pegar de outro lado”. Porque, inclusive, já havia naquele local uma visão do que seria fundamental a ser discutido por aquelas pessoas. Essas questões haviam sido pautadas por gente muito inteligente, bem informada, ok. Mas elas não podem pautar um jogo de domingo, entende? Não podem pautar um almoço com os compadres, não podem pautar determinadas coisas. Então, é um pouco aquela música do Maurício Tapajós e do Aldir Blanc que diz que “o Brazil não conhece o Brasil”. Eu mesmo, quando vou para a Universidade, as minhas brigas são para dizer assim: “Vocês estão querendo que eu esqueça de onde eu vim para ser outro? E depois voltar para lá e dizer às pessoas como é que elas devem ser? Não!” Estou aqui em duas frentes: sou objeto de estudo e, agora, sou pesquisador. Então, não dá para você esquecer e você dizer: “agora é o povo, o pessoal da falta”. Muitas vezes a gente ia para a discussão com pessoas da comunidade, por exemplo, com os meninos de qualquer grupo do Repórter de Bairro ou na TV Pinel (que era outra conversa também muito doida), e as pessoas diziam:
— Você não pode falar assim com eles! — repreendiam.
— Por quê? São malucos, não. São pessoas como eu — devolvia.
A gente é diferente, tem histórias diferentes, trajetórias diferentes, mas isso não nos transforma em desiguais.

BO – Assistindo a vários filmes da Maxambomba e até os filmes do Puxando Conversa, o que você pensa hoje do ponto de vista de uma sensibilidade ancorada no “politicamente correto”? E quando eu pergunto isso, não quero, de jeito algum, desqualificar as lutas que estão sendo travadas nas frentes identitárias, pelo contrário. Mas existe, de fato, um tipo de restrição hoje em que, às vezes, a sensibilidade de, por exemplo, um grupo de jovens militantes que estão chegando para assistir a um filme da Maxambomba. Porque existem as opiniões nuas e cruas, uma exposição de ideias e visões. Quando eu vejo, em “Eleições Lindomar”, você jogar com o discurso daquela maneira, como você pensa essa questão hoje? Porque ali tem uma franqueza que, hoje, é super regulada.
VF – Exatamente. No CECIP, esse era um filme que as pessoas ficavam meio pensativas, porque pegaram muito pesado. Agora, a gente fez uma brincadeira em outro filme, com o Júlio César Fagundes, o mesmo ator do meioambientemente. O filme se chamava O preconceito contra nordestinos. (Assista aqui: O preconceito contra nordestinos)
A gente propunha: “Vamos fazer uma pesquisa: o povo quer saber quem tem preconceito”. Ninguém tinha preconceito, todo mundo era legal, todo mundo era maravilhoso, todo mundo tratava bem… Não dá. É preciso criar uma situação em que as pessoas se exponham. Porque a gente consultava as pessoas para saber se autorizavam que suas participações entrassem no vídeo e elas diziam: “Dei mole, mesmo, pode botar”. É uma discussão que vale a pena.

BO – Vocês perguntavam na hora?
VF – Na hora. Porque havia outra questão: a gravação já era uma intervenção da Maxambomba. Porque era um tumulto, fechava a calçada de Nova Iguaçu e de Queimados, os locais onde a gente gravou. Era preciso levantar a questão. A gente não podia dizer assim: “Talvez essa troca de tijolo por voto…” A gente botou um candidato comprando voto (risos)! Quando as pessoas viam: “Que porra é essa, cara? O cara está comprando o meu voto!”. Só assim a gente pode tocar em questões, principalmente nos bairros. Tem um timing que você não pode dar mole de ficar racionalizando, alguém discursando, igual a menina que falou: “Em quem eu voto, voto sempre com amor”. Era uma petista, a gente soube depois que ela era petista. O ator era muito rápido: “Não, com amor não é o meu caso; o meu caso é por dinheiro. Quem quer dinheiro?”. Ou seja: escancarar aquilo que está escancarado no Brasil, mas que para todo mundo é proibido mencionar, não se pode falar disso. Nos bairros, a gente discutia coisas e as pessoas falavam:
— Eu não vendo o meu voto.
E o outro falava:
— Vende, sim. O cara veio aqui e te deu um jogo de camisa, você ficou fazendo propaganda para o cara, isso não é vender? O cara não te deu dinheiro, mas você aceitou as camisas.
— O cara me deu as camisas, mas eu não votei. O fato de alguém te dar alguma coisa não significa que você vota nas pessoas.
E a porrada comia. A gente, obviamente, perguntava às pessoas se elas autorizavam o uso das declarações e tentava chegar ao máximo da possibilidade de não ferir eticamente a imagem das pessoas. Jogar as pessoas em lugares difíceis… Por exemplo: a gente ia, às vezes, para Japeri, Mesquita, fazer programa sobre as crianças. E as crianças falavam o que que havia de ruim por lá:
— O homem que passa matando os outros.
— Como assim? — A gente perguntava.
— Tem uns homens que vêm aqui e matam as pessoas — Eles diziam.
Você vai botar isso? De jeito nenhum, cara! Isso não é o mundo-cão. Hoje, todas essas barbaridades do mundo-cão estão na TV regulada, na internet, no Facebook, que finge que não vê. Pra TV Maxambomba a questão era levantar questões. Por exemplo, com o filme Preconceito contra nordestinos… A gente ia fazer sobre o preconceito racial, mas acabamos optando pela questão do nordestino, porque era muito incômoda na Baixada e ninguém falava. A questão racial ainda se toca, mas a questão do nordestino, ninguém tocava. Na entrevista, ninguém tinha preconceito (risos). Aí a gente inventou uma firma que mandava os nordestinos de volta para o Nordeste. Alguns diziam: “é mesmo? Que legal! Manda mesmo!…” E você, fica como?

BO – Como é que você chega na TV Pinel vindo dessa experiência?
VF – O pessoal do Instituto Philippe Pinel sabia da Maxambomba e sabia da experiência comunitária que a gente fazia com os “Repórteres de Bairro”. Tanto que muita gente que vai trabalhar na TV Pinel era “repórter de bairro”. O Governo Federal comprou equipamentos, muita coisa, câmeras super VHS da JVC, ilhas de edição enormes, para uma coisa que eles nem sabiam para o que servia. Os caras falaram: “Vocês venham aqui e tentem fazer alguma coisa”. Eles queriam debater a Reforma Psiquiátrica, mas queriam também produzir vídeo institucional. Então, na primeira conversa, eu disse que não sabia fazer isso, não. E tentei explicar o que fazíamos. Primeiramente, nós vamos ter que encontrar com as pessoas para ver o que sai. E foi muito interessante porque a gente não tinha noção de nada do que acontecia ali. Obviamente, a gente lia alguma coisa para começar, para saber coisas, mas morria de medo de entrar em um hospício. E, no primeiro programa, no primeiro encontro com os pacientes, com os funcionários e com os médicos, a gente colocou uma câmera, e eu sempre conto isso – a piada da doente que chega e pergunta:
— Posso contar uma piada?
— Pode.
— O que você acha que tem debaixo do tapete do hospício?
— É louco varrido.
Peguei o mote. Não é só a questão médica aqui. Era a questão da Reforma que se estava querendo discutir. A questão social, dos isolamentos, da tortura, enfim. Aí a gente embarcou na TV Pinel. Teve um pessoal de São Paulo que, certa vez, me ligou porque queria conhecer a TV Pinel mais de perto. Eles receberam uma grana para fazer um vídeo e nos procuraram para pesquisar uma experiência parecida. Ele retornaram e implementaram uma ideia, que deu errado. Eles disseram que os pacientes não queriam nunca mais ouvir falar em vídeo. Eles diziam: “Com vocês, a gente vê todo mundo super alegre, fazendo as coisas. Queria ir aí para saber como é que vocês fazem”.
Ela veio e eu botei um vídeo da gente fazendo uma gravação. Disse: “Vou deixar esse vídeo aqui, vocês assistindo, vou ali numa gravação e volto para a gente ver o que aconteceu”. Botei a Endoidada que é um programa da TV Pinel, um homônimo da Indomada, a novela da Globo. Botei, fui e voltei em meia hora. E ela falou:
— A gente já entendeu onde a gente errou.
— E onde vocês erraram?
— Erramos porque a gente tinha uma grana para fazer o vídeo e contratou a melhor produtora que havia em São Paulo. Então, toda vez que os pacientes erravam, eles mandavam voltar, porque estavam submetidos à linguagem do vídeo. E na TV Pinel, não.
A coisa mais doida que aconteceu na Endoidada foi uma cena com uma mulher vestida de noiva que fugia do Pinel correndo pela Avenida Venceslau Brás (próxima ao hospital). E quando ela corre, vem um guarda para tentar prendê-la. O guarda dá uma trava nela, a gente está gravando com a câmera lá de dentro do hospital e fala: “Parou, vamos gravar, agora, do lado de fora”. Nessas produções, a gente sempre montava uma equipe, com as pessoas que estavam a fim de fazer o programa. Quem estava dirigindo era uma paciente chamada Bárbara. Ela está em um monte de programas da TV Pinel. A Bárbara comigo e a gente filmando por trás. Aí, bota a câmera lá na Venceslau Brás: “Repete”. Quando os caras repetem, o guarda que havia pegado a paciente da primeira vez, que tinha 1,60m, parecia um cara de 2 metros e agarrou a menina. Eu falei: “Bárbara, é outro cara, não vai dar continuidade”. E ela: “Grava, grava, grava, grava…” E depois a gente ia para a edição e discutia o programa. Falei: “Bárbara, essa porra não tem continuidade”. Sabe o que ela me respondeu? “Filé, a vida de quem aqui tem continuidade?” Olha a solução que ela deu: “A gente entrevista o guarda para saber o que aconteceu e bota no meio da ficção”. Tá lá, a ficção corta e o guarda: “Não, eu estava aqui, tocou o telefone”. É genial!
Houve uma vez em que ela queria fazer uma gravação chamada Na mão da internet e queria fazer na Cinelândia. E a ideia era sempre assim: as pessoas davam uma ideia de programa, juntávamos uma equipe e ela tinha que explicar muito bem como é que seria o programa. E depois, na hora de produzir, de todos, o único que não estava entendendo era eu. Ela explicava e eu: “Bárbara, não tô entendendo”. Era muito doida, a viagem dela. Eu falava: “Não tô entendendo”. Ficamos nessa discussão, na véspera, estava tudo certo para pedir as autorizações, para a gente gravar no outro dia e falei: “E aí, Bárbara, vamos gravar assim mesmo?”. “Vamos” — ela disse —, “mas eu já descobri uma coisa que vai dar certo”. Perguntei: “O que é?”. E ela: “Você fica!” (risos). E eu fiquei. Foi outra pessoa da equipe e eles gravaram. Quando eu vi o programa montado, achei sensacional! Mas eu não estava entendendo. Qual é a possibilidade de você não estar entendendo? Porque você não está na cabeça do outro. Então, a gente trabalhava com a ideia de que não existia o diferente para ser trabalhado, existiam diferenças que a gente precisava negociar para trabalhar juntos. Um tinha um sofrimento psíquico; o outro, mancava; um, era surdo, outro, mal-humorado; e outro era isso, e outro era aquilo. A equipe era assim: o que a gente sempre discutia é como é que a gente faz para trabalharmos juntos, para fazer alguma coisa juntos. Então, o que o pessoal de São Paulo descobriu é que isso a equipe deles não tinha.
Tem programa da TV Pinel que é puro making-of de erros, do chamado “erro da linguagem audiovisual”. Nada escrito, era só você dizer como seria, ninguém escrevia nada. E na gravação, seria o possível. E vai assim. Como esse processo conecta as pessoas é impressionante. Você pode dizer que isso não cola fora dessa experiência. Então, a TV Pinel é muito mais famosa que a Maxambomba, por incrível que pareça. Porque ela diz respeito a uma experiência que está no mundo todo.
BO – Que é a experiência da loucura?
VF – Exatamente, o convívio com a loucura. Nos anos 1990, em São Paulo, convidaram oito diretores para fazer um filme sobre a TV brasileira. O filme do Coutinho é sobre a TV Pinel e ele quase enlouqueceu. Porque ele levou a equipe, imaginou gravar ao meio-dia e, na hora, não havia ninguém que tinha se comprometido. É um que fala “porrada do Ratinho”, teste de DNA (risos). (Assista aqui: Porrada!)
E ele ficava desesperado, mas a gente não combinou nada. Ele se perguntava: “Como é que essa merda vai sair? Não vai sair, eu perdi o meu tempo aqui.” E depois ele adora, porque fala que é a experiência da loucura. Mas não é só loucura do louco que está lá como louco no prontuário. É as possibilidades de a gente negociar essas coisas.

BO – Porque quando você pensa no registro como uma espécie de encenação do imaginário e descreve essa experiência da Maxambomba e da TV Pinel, fico imaginando que, do ponto de vista da relação, não há uma diferença entre o normal e o louco.
VF – Tanto é verdade, que o pessoal do Ministério da Saúde queria que colocássemos os créditos. Depois, a gente contratou quatro doentes para fazer parte da equipe profissional. Então, um era câmera; outro era repórter; outro, editor… enfim. Nos programas, o Ministério da Saúde queria que nós colocássemos: “Maicon, usuário de serviço de saúde mental”. A gente falou: “De jeito nenhum: Maicon foi repórter”. São pessoas. O Paulo, um usuário que também passou pela TV Pinel, era muito “caxias”. Ele já morreu, era um cara que dirigia alguns esquetes. Ele era durão com o pessoal: “Volta, faz de novo!” E a galera brigava com ele. Ele tinha um afinco muito grande quando falava que ele ia trabalhar na TV Pinel, ficava empolgado, botava uma roupa legal, ficava todo se sentindo… E ele era um cara com uma formação acadêmica bacana, a gente se perguntava: “Por que esse cara fica a fim de fazer a TV Pinel?”. E, uma vez, a gente perguntou: “Paulo, por que que você, tem essa relação com a TV Pinel, por que você quer fazer a TV Pinel?”. Ele respondeu: “Porque eu já fiz muito cinzeiro, fiz tanto cinzeiro no serviço de saúde mental, que se aquilo tudo de cinzeiro eu tivesse de fumante, o mundo já tinha acabado. E, depois, eu descobri, que o cinzeiro era só para ocupar o meu tempo, porque eles ficavam guardados no quarto. Na TV Pinel eu vejo que existe uma função social, passa na TV, passa na TVE, as pessoas me reconhecem e falam: ‘Pô, que bacana, eu vi o seu programa’. Entendeu?”.
E não era terapia. Essa era a briga com a TV Pinel. Porque sempre diziam que a TV Pinel era terapia. Não. Era um núcleo de comunicação, de opinião, que trabalha com audiovisual. Não é terapia, não. Aqui, a galera vem para trabalhar. Tanto que o primeiro problema que a gente teve, é que dava determinado horário, alguns pacientes, mesmo os da equipe, largavam tudo e saíam. E eu falava: “Não tem que sair, não! Você é profissional, você está sendo pago para ficar aqui”. “Ah, não! É que eu tenho que parar, porque quando dá esse horário eu…”, “Não, você está muito institucionalizado, fica aqui”. E uns iam reclamar com os terapeutas… E tinha um diretor que era genial, que falava: “Não, é isso, vocês são profissionais. Aqui, vocês não são doidos, não. Não estão lá porque são doidos”. Embora isso acarretasse também um sofrimento psíquico.
BO – Interessante porque você descreveu uma luta com o CECIP, para ser “menos pedagógico”, para dar mais presença a essas pessoas. Agora, uma luta contra a administração institucional da loucura…
VF – No Pinel, era mais fácil, porque todo o hospital, ou pelo menos os cargos-chave do hospital estavam empenhados nisso. Eram pessoas que estavam lá pela Reforma Psiquiátrica dos anos 80. O hospital estava trabalhando com Teatro do Oprimido, trabalhava com música, tinha uma efervescência muito grande. Então, era mais fácil de rolar. Inclusive, uma vez a gente fez um programa que se chama: O Vampiro da Noite. Um cara, o Elias, cismou que queria fazer esse programa e ele era o vampiro. Compramos aquelas coisinhas que se vendia em banca de jornal, dentes de vampiro, capa preta. Vinha uma pessoa e enfiava uma estaca no coração dele. No dia seguinte, Elias surtou e saiu de cena. Então, o médico do cara pediu para tirarem a TV Pinel das atividades com os usuários. Que se fizesse com todo mundo no hospital, menos com os usuários, porque eles corriam o risco de terem algum distúrbio mental. E o Ricardo Pereira, que era o diretor, tinha uma reunião com os médicos, os terapeutas, com todos, me chamou. Eu pensei: “Vou ser crucificado lá, será que eu toquei em ponto muito delicado?” Porque, na realidade, eu não entendia nada.
O diretor Ricardo Pereira perguntou na reunião como é que a gente fazia a TV Pinel. O tal médico que era contra se levantou e disse: “Vocês colocam nossos usuários em risco, o Elias surtou por causa do programa”. O Pereira, que era um cara sacana pra caramba, interveio: “Gente, estamos em um dia incrível para a ciência. A gente descobriu a especificidade do surto. Ou seja: se Elias nunca mais tiver contato com isso, nunca mais ele vai surtar; ou, pelo menos, isso não vai fazê-lo surtar”. Tinha lá um monte de gente que não concordava com o cara e falou: “Menos, menos, até parece que alguém vai surtar porque fez um vídeo”. O cara ficou meio chateado, mas a gente teve que continuar. Aqui, de vez em quando, alguém surta.
BO – Você hoje se tornou professor, acadêmico, publicações etc. Você consegue ver hoje, conexões entre a sua experiência e esse mundo teórico-acadêmico?
VF – É, a gente tem dificuldades em fazer coisas na Universidade, porque nada anda, né? Para fazer um vídeo numa Universidade, leva três anos. Se for depender dela, três anos para gravar um minuto… Então, nesse aspecto, é muito complicado. Agora, tenho muita sorte nos lugares em que eu vou. Por exemplo, eu entrei na Universidade Rural do Rio de Janeiro, Campus de Nova Iguaçu. Minha primeira entrada como professor, a primeira entrada da Universidade, em que eu fiz Mestrado e Doutorado, foi com a Profª Nilda Alves e ela era fã da TV Maxambomba. Daí, ela vem para ajudar o grupo de pesquisa dela a pensar o audiovisual, a educação etc… Eu entro em uma situação, digamos, privilegiada. E quando vou para a Rural, ela era um campus que estava se abrindo em Nova Iguaçu. Quando cheguei, as pessoas diziam: “Porra, lá vem o Filé, de Nova Iguaçu, da Maxambomba, de não sei o quê”. Era um peso enorme.
Ao mesmo tempo, as atividades que eu trabalhava, as coisas que eu fazia, sempre causavam algum alvoroço: “Ah, isso não é muito acadêmico, isso não é muito científico…”. Mas também não bate de frente com a academia porque não é só isso. Trabalhar com narrativa, com memórias, com a linguagem audiovisual na perspectiva de pensar as possibilidades de se abrir para que cada um diga como se relaciona com o mundo… Não é uma coisa que você faz e a academia acha “bonitinho”… Aí você precisa argumentar, mas não sabe o que vai dizer, como argumentar. Por exemplo: quando fui à Fundação Ford pedir uma bolsa, onde trabalharia com a questão racial, para fazer o doutorado, eles disseram que o samba não era questão racial, não tinha nada a ver com questão racial.
Leia também:
- Valter Filé e a ficção da imagem popular, por Bernardo Oliveira
- Pós-escrito (ou por um cinema preto que não caiba), por Juliano Gomes
- Por um cinema pós-industrial – Notas para um debate por Cezar Migliorin
- O animal belo feroz, por Ingá
- Café com Canela, por Juliano Gomes
- Instantâneos do vídeo popular, por Victor Guimarães
