Em Todas as Noites (2001), primeiro filme de Eugène Green, há um momento em que Jules (Adrien Michaux) discute com seu professor de literatura. Perguntado sobre o que seria a poesia, ele responde: “a poesia é a presença manifestada na linguagem de uma ordem universal que se pode sentir quando se está sozinho numa igreja”. Encontraremos uma caracterização da arte semelhante, desta vez em La Sapienza (2014), quando Godofredo comenta sobre a arquitetura: “Em todos os templos, sentimos uma presença. O arquiteto deve convocá-la.”
Esta, afinal, bem poderia ser uma declaração de princípio do cinema de Green: a tentativa de manifestar a presença da ordem universal na linguagem cinematográfica. O que assegura a existência desta ordem é a manifestação sensível disto que se determina como essência divina, a saber, a racionalidade intrínseca que subjaz a realidade, a inteligência suprema que presidiu a gênese e estrutura o mundo, tal como os personagens de Green são capazes de sentir constantemente. Se quisermos enunciar outro princípio do seu cinema, trata-se de reconhecer que mesmo que a fé ultrapasse a razão, jamais é contrária a ela. Aquele que crê pode representá-la, ainda que não acessá-la completamente. Não por outra razão, os personagens de Green falam em manifestar, convocar, presença – termos que sugerem estatutos ontológicos ambíguos, pois o sagrado ultrapassa a parte da racionalidade universal que cabe à razão humana, sendo acessível somente ao criador, mas é manifestável, convocável e presentificável pelo cinema. Para cumprir este propósito metafísico, os temas abordados pelos filmes de Green funcionam como índices que sugerem sentidos escondidos, como se Green pusesse o espectador diante de “uma rede de sinais luminosos cuja leitura fará com que compreenda o sentido do filme” (Pedro Faisol).
Enquanto a relação com Deus é um motivo central para a protagonista de A Religiosa Portuguesa (2009), Green também apresenta motivos religiosos como uma gravidez misteriosa e as palmas das mãos perfuradas em Todas as Noites, uma vela simbolizando a presença de algo que não se vê em Os Signos (2006), além de questões relacionadas à vida após a morte em Correspondência (2009) e ao misticismo da arte barroca em A Ponte das Artes (2004). Em outros filmes como La Sapienza (2015) e O Filho de Joseph (2016), o diretor privilegia as obras de arte que representam manifestações e cultos religiosos, utilizando as peças como chaves para os mistérios que se desdobram durante os filmes. Sem falar em características inusitadas como vários dos seus personagens receberem o apelido de “anjo”, e a presença do jumento (animal que aparece em inúmeros relatos bíblicos) em vários dos seus filmes.
Para substancializar essa primeira camada indicial e tornar possível a manifestação do segredo metafísico do mundo, Green elabora um método rigoroso. Mais do que simplesmente fornecer os eixos temáticos, a metafísica perseguida por Green determina reciprocamente os procedimentos formais necessários para alcançá-la. Assim como em O Filho de Joseph, quando Vincent pergunta “Onde Deus está?” e Joseph responde “Ele está em nós.”, a presença dessa ordem universal é manifestada na imanência da própria forma estética dos filmes de Green, como se apenas desse modo fosse possível manifestar esta ordem transcendental.
A necessidade de encontrar uma forma apurada está associada ao respeito que deve-se ter pela ordem criadora, de modo que o filme apresente uma razão suficiente para a crença sem que isto signifique a compreensão. Para tanto, Green combina uma boa dose intelectual para expressar a ordem divina com distinção e clareza sensível, concentrada em detalhes que demandam atenção e não no nominalismo arbitrário, com o ascetismo dos procedimentos (rigidez dos enquadramentos e esquematismo das dramaturgias, por exemplo) para que não ultrapasse os limites da razão humana e queira penetrar nos mistérios da fé.
Acompanhemos o processo da protagonista de A Religiosa Portuguesa para perceber a tortuosidade à qual a matéria fílmica é submetida pelo método de Green. Os eventos dramáticos de Julie (Leonor Baldaque), francesa que está em Portugal para interpretar uma freira, são estruturados segundo o rigor daquilo que ela mesma chamou de “progressão lógica” dos acontecimentos de sua vida. Todos os eventos estão interconectados de um modo tão evidente, formando uma cadeia linear em que cada momento da narrativa se liga imediatamente ao posterior, por intermédio de conexões tão literais que parecem parodiar manuais de roteiro. A evolução de A Religiosa Portuguesa é etapista, onde cada momento corresponde ao encontro bruto de Julie com uma série de personagens caricatos – a criança órfã, o suicida, o marido infiel, a freira – e o filme se desenrola pela progressiva resolução destes encontros da maneira mais aritmética e ordinária possível: Julie adota a criança, impede que o Conde se suicide, relaciona-se com Martin (Adrien Michaux) e, por fim, vive uma epifania junto a Irmã Joana (Ana Moreira) ao descobrir que são uma só a despeito de viverem em corpos diferentes.

O material narrativo parece banal, mas o processo de composição de Green é tão reiterativo que, ao final, induz uma reação de estranhamento diante do que era extremamente trivial – estranhamento proporcional ao divino penetrando misteriosamente no filme. Green insiste em personagens caricatos envolvidos em situações pitorescas, ao mesmo tempo que elimina dispositivos centrais como pontos de virada, desfechos catalisadores, “sacadas de roteiro”, adicionando outros elementos como a separação da história em capítulos (cada qual com o nome de um dos personagens que Julie encontra) que mais parece a divisão dos livros da Bíblia. O resultado é paradoxal, pois os eventos perdem o esquematismo mecanicista e assumem a forma do fatalismo tão sagrado quanto lógico. Tudo se passa como se todos os eventos estivessem ordenados a partir de um sistema de causalidade intra-mundano, legislado por Deus desde a gênese do mundo, em que os acontecimentos posteriores seguem os anteriores numa cadeia lógica inviolável. Como dizia Julie, “não podemos ir mais depressa que nosso destino”, revelando uma concepção do sagrado que está intimamente ligada à possibilidade das coisas acontecerem numa ordenação quase absoluta.
Mais uma vez: para não ultrapassar o princípio de razão suficiente, Green precisa revelar a grandiosidade do artífice divino nas coisas simples, onde o universal é tão real quanto o particular. Sob tal exigência, Green se reconecta à intuição primordial do barroco que tanto significou em sua trajetória artística quando, ao sair dos Estados Unidos, integrou uma companhia cênica em Paris inspirada pelo teatro barroco, onde permaneceu durante vinte anos, antes de realizar seu primeiro filme. Para o barroco, o espírito deve ser verificado na matéria, o divino no terreno, a religião na mundanidade – uma ideia próxima daquela da Irmã Joana quando afirmou que “Deus não está fechado no convento”. Sendo assim, no cinema, a imagem de Deus deve ser encontrada nas imagens banais e quase indiferenciadas da existência cotidiana dos personagens, prevalecendo a mundanidade da revelação – o que equivale ao respeito à supremacia divina no uso da linguagem, já que utiliza a imagem de acordo com a parte da racionalidade universal que cabe à razão humana.
No cinema, portanto, a matéria do mundo atua como signos que manifestam a metafísica inerente ao real, porém sem violá-la, como afirma o próprio Green em seu livro Présences – Ensaio Sobre a Natureza do Cinema: “Este aspecto do signo, estendido ao conjunto do conceito do cinematográfico, faz dele a arte metafísica por excelência, porque ele leva o espectador a uma apreensão do espírito a partir de uma captação da matéria.” Por isso, “a tarefa do cineasta é de sentir, em relação àquilo que ele busca representar, uma presença significante, e filmar o elemento no qual ela se manifesta de sorte que esta se torne apreensível”.
Esta presença significante está em vários momentos dos filmes de Green, quando a divindade é insinuada e quase materializada em imagens levadas ao limite de sua determinidade. Em Correspondências, os vários planos onde uma fresta de luz alcança o solo e manifesta a presença divina ali. Os movimentos de câmera no interior das formas arquitetônicas de La Sapienza, simulando uma dissolução da imagem que parece efeito de uma força superior. O beijo transcendental entre as sombras de Pascal (Adrien Michaux) e do espírito de Sarah (Natacha Regníer) em A Ponte das Artes. Onde também assistimos o belíssimo travelling da terra para o céu, presente em outros filmes mas que ganha especial relevo aqui, pois é realizado do mesmo lugar da ponte em que Sarah se suicidou, de modo que câmera realiza o movimento de baixo para cima e parece captar os rastros da alma dela subindo para o céu.


Estes momentos são o apanágio da tentativa de Green em respeitar a parte da racionalidade universal que cabe à razão humana, e ainda assim ser capaz de criar imagens com uma força de significação que capture a manifestação do divino na matéria. Em entrevista para a Carta Capital, na ocasião do lançamento de O Filho de Joseph no Brasil, Green afirmou que “a verdade da espiritualidade não tem nome nem forma e precisamos de imagens e de metáforas para atingi-la”. Não por outra razão, naqueles momentos citados acima, a imagem vale, sobretudo, “pelo que há de inacessível, misterioso, irrevelado na imagem, mas que nela se manifesta” (Maurice Blanchot). Pois são episódios que desdobram uma fenomenologia do olhar pela qual, mais do que as imagens em si, o que se vê são manifestações de uma presença muda… mas uma mudez de tumultos silenciosos, tal como aquela imagem-enigma do Sudário de Turim que os personagens de La Sapienza visitam.

Embora Green mantenha a rigidez formal em todos os filmes, são nestes momentos em que se percebe uma abertura ao acidental, ao que parece não responder ao rigor da forma e ameaça a unidade conceitual dos seus filmes. São momentos em que o realizador renuncia provisoriamente os seus cálculos para que assim a luz do mundo penetre – e com ela, a manifestação da presença divina. Em La Sapienza, Alexandre comenta sobre dois arquitetos italianos dizendo: “Baronini é o barroco místico que oferece uma experiência pessoal para quem entra. E Benini é respeitoso do poder, da hierarquia e das regras.” Mesmo que Green esteja mais próximo do segundo, há algo de Baronini quando, por exemplo, ele filma os rostos dos cidadãos portugueses nos bondes e fados de Lisboa (A Religiosa Portuguesa); quando abandona Samuel (Marin Charvet) e o pescador para simplesmente filmar o mar (Os Signos); quando filma livremente as arquiteturas de La Sapienza. São nestes instantes que as imagens parecem habitadas por algo que paira em suspenso, sem jamais fixar-se totalmente, como se fosse ocorrer um impulso da imagem ao limite da sua determinidade: a imagem como a mais astuta possibilidade de uma impossibilidade. A fricção causada no espectador é bem ilustrada por Deleuze em sua conhecida passagem de encerramento de A Imagem-Movimento, pois é quando saímos do registro da pergunta “o que veremos na próxima imagem” para a “o que há para se ver na imagem”.
Além das imagens, Green também persevera nos diálogos como meio de acessar a natureza impalpável dos personagens, quando manifesta as suas almas mediante a erupção das palavras. Os diálogos são estruturados através de um verdadeiro tour de force, fundado sobre as máximas da forma de Green – o intelectualismo e o ascetismo – que tornam a decupagem um verdadeiro jogo de xadrez. Por um lado, Green estabelece constrições ao limitar os movimentos dos personagens em cena (os personagens nunca dialogam em movimento), sem jamais permitir quebra de eixos na decupagem nem uma quantidade abundante de enquadramentos. Por outro, o investimento intelectual de Green cria uma espécie de ciência do plano em que cada posição dos personagens equivale a um ponto estratégico, de modo que cada enquadramento é regulado como um sismógrafo que responde mecanicamente às mudanças de intensidade do diálogo, até o ponto máximo da frontalidade em primeiro plano que os personagens atingem nos momentos de epifania, como a Prisioneira da Capela (Laurène Cheilan) a declarar seu amor por Nicolas (Adrien Michaeux) em O Mundo Vivente (2003).
A ciência do plano de Green investiga a participação material do homem no mundo. A frontalidade e a objetividade do olhar está em pleno acordo com a transparência deste: tão mais belo (porque revelador) quanto mais direto e objetivo. Green reitera práticas como isolar os personagens através de cortes para planos médios/primeiros que os singularizam no espaço, isolando-os no centro do quadro como se ali estivessem na relação direta e solitária que todo crente tem com Deus. Os excessos naturalistas são abolidos para que o psicologismo não obture a visão da interioridade dos personagens – expressões cruas, posturas estatuárias e frases pronunciadas para dentro – enquanto as variações da decupagem refletem mais propriamente o estado dos personagens. O objetivo não é outro senão surtir o mesmo efeito que os personagens de Bresson, conforme explica Green (em Présences) quando diz que “ao assistirmos O Processo de Joana d’Arc, não percebemos nada da “psicologia” da heroína (…) mas apreendemos o tempo todo a realidade presente de uma alma humana, de forças que a cercam e nas quais ela se funde, até o momento extraordinário, no final, no qual apreendemos ainda esta presença real na ausência do corpo.”
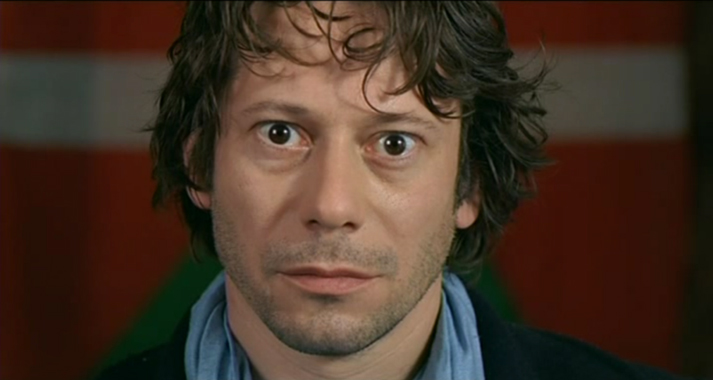

O movimento mais próprio do cinema de Green é levar o ser ao limite do desaparecer e o sagrado ao limite do aparecer. Se a experiência dos seus filmes é tão epifânica, é sobretudo porque o próprio filme é o circuito pelo qual o ser e o divino estão a ponto de se confundirem. Sempre segundo um método rigoroso para que a obra não simplesmente faculte o entendimento, mas manifeste sensivelmente a presença da ordem divina através de procedimentos do cinema. Seja numa imagem flutuante do céu ou no rosto inexpressivo de um personagem. Seja no conteúdo da fala reagindo à forma cabal do personagem expressá-la, e vice-versa, indefinidamente. Em cada momento, uma relação tão absoluta que libera continuamente esta força metafísica que assombra todos os princípios do cinema de Green.
Leia também:
