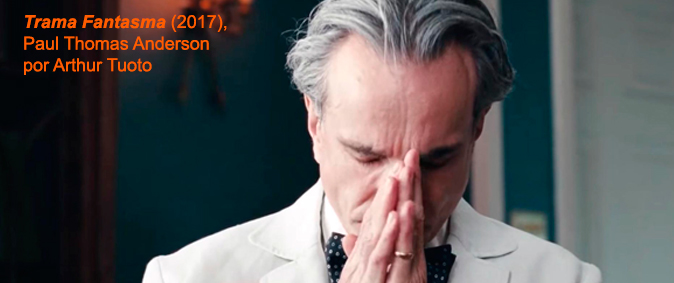Trama Fantasma é um filme sobre a superfície. A superfície da imagem: a fotogenia da película fotossensível como reverência artesanal a uma dimensão cinematográfica espectral de latitude muito específica. A superfície dos modos e costumes: a aparência que encobre uma intenção, a formalidade que oculta o indecoroso. Da moda como uma temática oportuna onde a ideia de roupagem funciona em diferentes chaves de significação à dinâmica doentia do casal protagonista que encontra em um perigoso jogo de encenação o escape para uma neurose edipiana, é possível reconhecer uma dinâmica onde a câmera de Paul Thomas Anderson tenta, constantemente, operar um jogo de implícito e explícito, intenção e superfície. A partir deste mote, o diretor convoca uma tradição classicista onde a trivialidade e o gesto denotariam um equilíbrio entre transparência superficial (a ação pelo que ela é, expressão nua) e subtexto intrínseco que, ao mesmo tempo que é suporte expressivo daquela menção, escancara a sua intenção velada com uma nuance elegante.
Mas enquanto que em uma tradição clássica a qual o filme pretensamente se filia – e aí podemos pensar de Max Ophüls e Joseph L. Mankiewicz a William Wyler nas projeções da obra – o gesto se evidencia nessa intensidade, mas não toma consciência de si, já que é parte indissociável de um universo nivelador onde nada é exatamente pontual e encontra em uma naturalidade transparente a sua potência “inexplícita” (ainda que preservando uma perspectiva estilística) – Anderson, ao contrário, reveste cada escolha de sua mise-en-scène com uma ostentosa consciência de seu propósito. Tudo em Trama Fantasma é dado. Existe uma suposta apreensão pelos detalhes, pela nuance, pelo gesto como possibilidade reveladora do que é implícito – porém forjado a partir de uma necessidade em expor o esmero do seu processo. Os closes, os olhares, o não-dito. Tudo isso funciona muito mais dentro de uma relação de vangloriação, de legitimar uma pretensa sensibilidade clássica que reconhece que está falando-muito-mostrando-pouco e que, justamente por revelar tanto assim, esse método acaba construindo um filme restrito aos seus mesmos e alienados prazeres. O clássico, em Trama Fantasma, nunca é uma busca que encontra na sutileza a sua tomada transformadora, mas, pelo contrário, uma padronização grosseira de certos princípios.
O fascínio no filme nunca brota do olhar de Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) que fita Alma (Vicky Krieps) a frente de uma lareira, não é a força do momento dramático e do seu equilíbrio como universo ressignificador de simples menções que constituem grandes vislumbres implícitos que move o filme, mas uma mediação imposta. Existe um arsenal de elementos de atração – a trilha sonora como mera cobertura estilística, o formalismo academicista genérico, as falas demoradas e sussurradas – que no seu desejo de impressionar, acabam criando uma distância incompatível com a dialética clássica (a expressão nua que é ao mesmo tempo ato natural ínfimo e implicadora de uma intensidade) pretendida. Nada se encontra abaixo da superfície quando ela própria se excede em uma busca autoevidente no seu jogo de mostra-não-mostra. Existe um curto-circuito entre o desejo pela transparência, por essa relação direta com o superficial, em filmar um momento que é ao mesmo tempo sua presentificação essencial e inexplicidade reveladora, e uma ideia pré-concebida da beleza fugaz destes instantes.
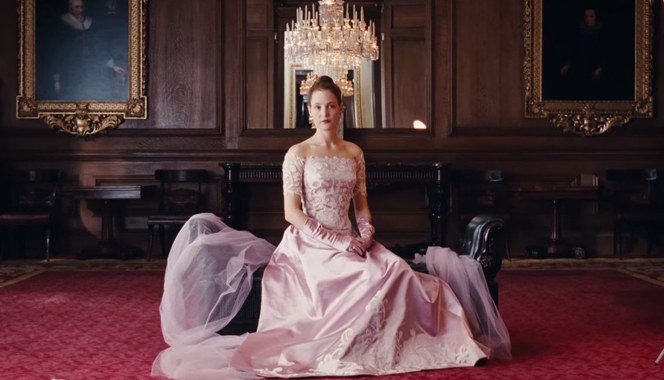
Nas sequências iniciais de Woodcock e Alma juntos (o primeiro encontro, o jantar, a descoberta da personagem como modelo ideal), o filme busca certa delicadeza nas revelações, mas é constantemente contaminado por uma efemeridade premeditada. No café da manhã, quando os dois se conhecem, todos os elementos que claramente intencionam uma cumplicidade espontânea (a intimidade no olhar, a infantilização do homem faminto, o flerte franco) parecem forçados dentro de uma aspiração em iconizar tudo, sublimar uma obscenidade velada que é solene demais para realmente afetar o significado simbólico da cena.
Mesmo as idiossincrasias do protagonista são resumidas a excentricidades óbvias que assimilamos nos primeiros minutos do filme. A natureza sistemática de Reynolds Woodcock pode até justificar uma uniformidade implícita em suas ações, mas existe um esforço em se evidenciar os mesmos trejeitos, a mesma dinâmica ritualística de gestos que constrói uma afetação tipificada. Da maneira que ele tira seus óculos ao modo como segura agulhas na boca, é tudo tão pesado e excessivamente aplicado em se forjar uma espécie de personagem-entidade que tudo isso confere um artificialismo que nunca dialoga com a temática do superficial em uma proposição conceitual, do artifício como componente proposital na problemática psicológica do filme, mas apenas limita seu personagem a uma construção previsível. Uma perspectiva maçante que impossibilita qualquer rompante, que nunca dá espaço para o protagonista sugerir uma dimensão que vá além dos seus mesmos movimentos. Até as suas crises ou momentos de exaltação funcionam a partir de uma construção sistematizada, de uma ideia de persona, de um projeto de personagem imponente que opera mecanicamente a partir de uma estereotipação que, se por um lado o filme almeja (o estilista empolado e fracassado, desatualizado e desorientado em suas próprias alienações), acaba lidando com isso de maneira padronizado e limitadora.
Nesse sentido a personagem de Alma pelo menos articula certa hesitação. Talvez por possuir uma função de desequilíbrio, quebrando, na medida do possível, a ordem imposta por aquele espaço, existe uma tentativa de subversão – ou pelo menos de reordenação de poderes – já que a personagem acaba criando uma ordem própria com os ciclos de envenenamento, usando do complexo edipiano de Woodcock para comandar a situação. Mas nem isso o filme assimila como uma oportunidade de expansão, uma assimilação tétrica que ele até chega a ensaiar nesse flerte homicida da personagem, mas no final das contas acaba restringindo essas tomadas de poder a um ciclo mecânico de mera contextualização narrativa, de viradas que até promovem uma reviravolta rítmica estimulante e mesmo de ambiguidade nas intenções de cada um deles, mas que a obra logo normatiza em seu mesmo vício autoconsciente.
Se o filme pelo menos assumisse um projeto maneirista onde essa autoevidência dos seus processos trabalhasse em uma perspectiva de escancaro burlesco, aí sim de iconização assumida dentro de uma perspectiva histórica e arcasse com as suas cafonices em voga, a suntuosidade faria sentido. Mas Trama Fantasma constantemente almeja um requinte misterioso, uma pose invulgar que pretensamente esconde indícios implicadores – a fragilidade dos personagens, suas motivações doentias, os complexos reprimidos – porém sempre dentro de uma perspectiva enigmática meramente estilística, nunca dramática. O vislumbre é sempre um artifício imposto, nunca fruto da construção cênica propriamente. Anderson expõe o procedimento não como uma força de presença de cena, mas elementos de uma cartilha clássica genérica a ser seguida. Os personagens parecem mesmo meros instrumentos moribundos que o diretor tenta reanimar através dessa diretriz. Ele lista os ingredientes necessários e, como em um ritual saudosista macabro, simplesmente espera que seus protagonistas ganhem alguma vida.

Anderson nunca integra o desequilíbrio dessa perspectiva do implícito e explícito como uma inclinação possibilitadora. Existe a constante gestão de um procedimento visual e dramático que é muito mais regulador do que amplificador, que mesmo quando se vê diante de momentos ou espaços que insinuariam uma perturbação, acabam submetidos a uma mesma apreensão genérica. O próprio ambiente físico da casa de Woodcock – um lugar ao mesmo tempo que de requinte, altamente claustrofóbico em sua verticalização – abre todo um campo possibilitador para a abordagem vertiginosa característica do diretor, a sua dinâmica de movimentação de câmera e trabalho sonoro ressignificador. Mas na prática observamos uma radiografia mansa e impessoal, preocupada mais em simular nuances do que em propriamente ficar aberta a uma variação estimulante. A sequência do desfile é a que mais se aproxima de uma desarmonia inventiva. Existe tanto espontaneidade nas ações como fragilidade na figura do protagonista, conciliando o tom cerimonial com uma abordagem mais franca e desestabilizando a circunstância pomposa dentro de uma dimensão de proximidade. Mas para além desses respiros pontuais, o filme nunca aceita a fragilidade de seus personagens como uma real possibilidade de dissonância, de um elemento catalisador dramático que geraria possibilidades de uma desestabilização intrigante. Mesmo a afetação descontrolada de Reynolds é gerida como uma possibilidade de domínio que, aliada ao tom pragmático da irmã, se transforma em mais um elemento controlador.
A confrontação dramática é submetida a uma solenidade que se por um lado faz sentido dentro da temática ostentosa que o filme se debruça, todo o esnobismo que inclusive é tema de uma das acusações de Alma na cena do jantar surpresa que ela prepara para Woodcock, por outro o filme assume com certo orgulho, fazendo do seu pedantismo ao mesmo tempo um elemento justificável dos personagens e uma fetichização que encontra nessa apreensão clássica a aspiração em se construir cenas de certa dimensão mítica, de momentos carregados de um peso que o trabalho não quer mostrar, mas evidenciar de todos os modos que existe. Ao mesmo tempo que ele expõe o tom constantemente empossado e até ridículo de Woodcock, não deixa de vibrar com sua impositividade. A mesma coisa acontece com sua irmã, Cyril (Leslie Manville), que se por um lado articula momentos inspiradores onde fica evidente um tom controlador que é inventivamente exposto (ela literalmente farejando Alma na primeira vez que a encontra é das melhores cenas do filme) , aí sim, ao mesmo tempo francas e implicadoras de um indício implícito misterioso, por outro, na maior parte do filme fica limitada a um ar superior repetitivo.
No ato final, o filme até se abre para uma perspectiva que em alguns momentos vai além dessa iconização forçada. Não tanto pelo confronto direto desse modelo, mas pela guinada narrativa. A vida de casados de Woodcock e Alma acaba transparecendo um cinismo que encontra um escape muito mais objetivo (o flerte extraconjugal, o joguinho de alfinetadas que extrapola os bons modos e se realiza sem honrarias) – sendo a cena do jantar de natal a melhor do filme justamente por isso. Ao invés de emular uma graciosidade, a sequência revela o que existe por baixo dela, expondo o seu método, pelo menos em alguma medida, como uma desconstrução de conduta mais interessante. É pena que quando o controle volta a ser estabelecido, o filme retorne aos seus esquemas de representações imaculadas.
A imagem em Trama Fantasma é uma superfície de fim em si mesma, da aparência convenientemente amansada dentro de uma formalidade que pode até ser bastante convicta dos lugares que quer chegar, mas que pega os atalhos impactantes mais fáceis para isso. O seu jogo com o passado nunca é renovador, mas dependente do cânone como referência ilustrativa, mera encarnação doutrinada. Anderson não parece interessado nem mesmo em explorar as inventividades características de seu método, um processo que parte justamente dessa admissão do controle para gerar uma variedade de ritmos no compasso dramático do trabalho. O diretor se contenta em submeter sua obra a um carregado dispositivo estilístico que, assombrado pelo passado e engessado por uma vontade em comover, afasta qualquer vitalidade marcante.
Leia também:
- Uma impressionante alegoria sobre coisa nenhuma, por Fábio Andrade
- A nostalgia de um amor perdido, por Pedro Henrique Ferreira
- O jardim de caminhos que se bifurcam, por Luiz Soares Júnior
- Uma beleza brutal, por Paulo Santos Lima
- O efeito Altman, por Francis Vogner dos Reis
- Elogio ao artifício, por Arthur Tuoto
- A juventude em marcha de Bong Joon-ho, por Paulo Santos Lima