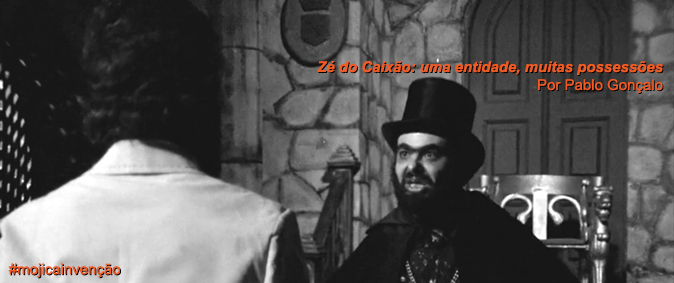1.
Vejo unhas. Não as minhas, que esbarram em algumas teclas e letras enquanto digito estas primeiras palavras. Vejo as alongadas e tortuosas unhas de José Mojica Marins, o diretor, o corpo que por tantos anos encarnou o mesmo personagem, hoje arraigado no imaginário do terror brasileiro e mundial. Dizem que unhas e pelos continuam a crescer mesmo depois da morte. Imagino-as, enxergo-as agora, as unhas do ator Mojica, esticando-se, enquanto seu corpo acomoda-se no caixão que, por ora, abriga-o. São unhas que respondem à gravidade, aos ciclos da lua, ao ritmo das marés – garras a desgarrar-se do tempo. Morto há algumas semanas, ele pulsa. Se a morte é o início da vida e a vida o prenúncio da morte – num dos costumeiros dizeres de Zé do Caixão diante da câmera – suas triangulações entre o ator, o personagem e o diretor convidam a revisarmos as formas mais instigantes do corpo representar personas no cinema. Arte da morte e da vida, ritual de perpetuação fictícia de corpos ausentes, o cinema teria no fim também o seu início, já que é uma arte que conjuga a sombra de entes passados num tempo verbal sempre presente. O metacinema de Zé do Caixão incide, quem sabe, sobre uma metamorte. Por isso, as unhas – elas evocam uma transcendência negativa. Uma aura póstuma que persegue o imaginário do espectador. Mortos, Mojica e Zé do Caixão soam mais plenos, como se assim tivessem nascido: essencialmente póstumos.

2.
O pânico de ser enterrado vivo. Em Pesadelo Macabro (1968), a narrativa que conduz no longa em episódios Trilogia do Terror, José Mojica Marins conta a estória de Cláudio (Mário Lima), um sujeito cataléptico e com frequentes transtornos. Nos seus delírios noturnos – um mote constante na obra de Mojica – ele se vê dentro de um caixão. Mais: enxerga cobras, vermes, lagartos, aranhas e outros seres a corroê-lo o corpo. Por ser tão persistente, esse sonho obtém contornos dramáticos. Sua noiva e sua família decidem, então, levá-lo para uma cartomante, que lhe revela algo assustador: existem seis Exus a persegui-lo. Cláudio precisa realizar um custoso trabalho de “cinco milhões” para afugentá-los. Ele vai a um terreiro de Umbanda, numa das sessões mais interessantes do curta: atabaques, cantos bonitos, que soam tão perigosos quanto envolventes, diferentes momentos das possessões de santos. Na cena chave, chamam seis virgens, que são sadicamente chicoteadas na frente de Cláudio. Elas são a porta de entrada para a negociação com os seis Exus. Ao conversar com as moças, Cláudio descobre que elas ganhariam uma parte dos milhões a serem dados ao terreiro. Vê motivos espúrios, hesita, e declina do trabalho junto aos Exus. Se haveria uma possibilidade de exorcismo, ela se esvai nesse átimo, impiedoso dentro da cosmologia de Zé do Caixão, de ter dúvidas sobre as pulsões da vida, da morte, e do “sobrenatural”.
No desenlace da trama, Cláudio acaba, após um bucólico passeio no campo, sendo assaltado por seis bandidos – que rimam com os seis Exus e a meia-dúzia de virgens chicoteadas. Agora, o que ele vê é um bizarro estupro coletivo da sua noiva. Sucumbe, desfalece, mas não morre, e cumpre-se o pavor que ele pressentia: é enterrado antes de morrer. Seu pai e sua noiva, já tarde demais, passam a acreditar nos preceitos de Cláudio. Desenterram-no, e veem apenas uma máscara agonizante da morte que há pouco ocorrera. Cláudio e sua família simbolizam o corpo dos fracos, as dúvidas dos imperfeitos, que, dentro do macabro universo de Zé do Caixão, renunciam a si mesmos, que morrem enquanto vivos e não vivem quando mortos.
Embora Zé do Caixão não apareça diretamente nesse filme, os flertes com os Exus e a Umbanda sugerem pistas extremamente ricas da construção arquetípica a rondar a aura do seu personagem. A força das suas representações imaginárias, sua necessidade ritualística e o teor das possessões afastam Zé do Caixão de uma dramaturgia mitológica; distanciam-no de uma divisão entre corpo e alma que atravessa as narrativas de terror e horror dentro de uma vertente anglo-saxã. A aproximação entre Zé do Caixão e Exu já ganhou alguns contornos na crítica. Sugiro, no entanto, ir um pouco além do estereótipo dos Exus, seus tinhosos, belzebus e afins. Zé do Caixão parece inspirar-se na umbanda como uma forma de evocar entidades dramáticas. É uma possessão, é ele mesmo, o corpo do ator e do diretor, e dos personagens que, ao longo da sua filmografia, acabam dominados por essa incorporação de entidades. São todos esses corpos-cavalos do evocado no Zé do Caixão. Nessa cosmologia, Exu soa mais como um primo distante de Zé do que como uma figura arquetípica. Na sua vida póstuma, ele adquire outra alma, outra aura, uma personalidade distinta. Em comum, Exu e Zé respiram um ritual similar: precisam de outros corpos, num mundo onde as regras estão às avessas e que só é acessado pelo delírio, a loucura – e a morte. Em comum, Zé e Exu não obedecem a nenhuma regra de exorcismo, tampouco a algum preceito moral. Eles querem pulsar – e Zé precisa de sangue, embora, nem de longe, assemelhe-se a um vampiro.

3.
Na parte final de Exorcismo Negro (1974) ocorre um inevitável encontro. Agora, o diretor Mojica torna-se um personagem. Ele se sente desolado após terminar um dos seus filmes, e diz que seu mundo desvanece quando se distancia de Zé do Caixão. Na chácara onde Mojica descansa, contudo, Zé continua atrás da sua obsessão: um filho perfeito. Uma feiticeira encanta uma família – é chegado o momento de Zé cobrar a sua parte. Quer os corpos. Precisa possuí-los. Mojica – que se confunde na linha que separa o diretor do personagem, e este daquele – sente que Zé do Caixão ganhou vida própria, e precisa, de alguma forma, deparar-se frontalmente com o próprio personagem. Quem seria, no entanto, o sujeito da ação: o diretor ou a entidade? Quem possui quem? Seria o diretor o cavalo da entidade? Essa potente confusão não é casual. Pelo contrário.
Ocorre, portanto, o encontro. Duplicados enquanto imagem, Zé e Mojica olham-se. Não há uma projeção, nem uma identificação. São dois corpos distintos. Duas entidades já distantes, que possuíam o tempo do cavalo – o instante da possessão – como o momento de conjunção. Zé do Caixão provoca: “aconteceu um encontro que eu temia”. Emerge um duelo mágico e Zé encolhe, sai de cena. Essa retirada, contudo, é bastante remota e pontual. Aqui, todas as práticas de exorcismo afastam-se, novamente, do paradigma de terror mais característico do cinema anglo-saxão; ou seja, o exorcismo não é um expurgo do “mal”, mas um intervalo, uma outra forma de convívio.
Como é caro a toda cosmologia das religiões brasileiras de matrizes africanas – como o são o Candomblé e a Umbanda – não existe essa divisão maniqueísta entre bem e mal. Pulsões de vida, são forças que atravessam todos os entes, cada uma dessas entidades. Embora esteja latente, e permeada por outros impulsos iconoclastas, essas pulsões asseguram contornos evidentes à entidade do Zé do Caixão. Ele precisa de um ritual – seria um ritual fílmico-umbandístico? – e existe dentro do seu tempo, interno ao seu terreiro. São instantes de evocação, de possessão e, em seguida, de uma fugaz despedida. São Tempos cíclicos, como em todas as festas, mas essas matrizes – assim como faz Zé do Caixão – acenam com um convite para convivermos com as forças ocultas que outras vertentes religiosas denominam como maléficas. Neste lado negro do cosmos, não há exorcismo, mas uma ética do convívio.

4.
É inquietante perceber como Mojica torna-se agudamente autoconsciente do seu lugar num certo debate do cinema brasileiro dos anos setenta. Tome, por exemplo, Ritual dos Sádicos/O Despertar da Besta (1970). Nesse filme, o personagem Mojica – e não a sua entidade – acaba sendo paulatinamente construído. É tema de conversas de psicanalistas, críticos, repórteres, empresários e até mesmo cinéfilos, ou seus espectadores. Adeptos a experimentações, Mojica e Zé do Caixão aceitam uma aproximação com técnicas como a hipnose, o trabalho com o medo, o pânico e o pavor de pacientes de psicanálise. Embora haja a encenação de um respeito aos “doutores” que trabalham nessas instituições, o filme, no seu manejo narrativo para além da metalinguagem, acaba zombando deles.
Versátil demais, o personagem de Zé do Caixão revela-se avesso, fugidio e inclassificável. Embora tenha ciência de sua persona pública, ele também tira sarro dela. O riso sarcástico tem, possivelmente, relações com essa diferença: o personagem público não abarca a entidade. Zé do Caixão esquiva-se de representações – ele só é de fato eventualmente compreendido quando se permite sua possessão. E todos os demais personagens da sua trama que sucumbem à possessão são, inevitavelmente, conduzidos à morte. Crítica, racionalidade, conceitos psicanalíticos – mesmo aqueles que abarcam a loucura e o sobrenatural – revelam-se insuficientes para lidar com o estranho mundo de Zé do Caixão.
Talvez porque, embora próximas, personagens não são entidades. Personagens entram no paradigma da representação – permitem interpretações, certas distâncias entre o corpo e o ato da sua encenação. Todo conflito – e a trama – entre Mojica, o ator e diretor, e Zé do Caixão é como a entidade ganha vida própria, decola, descola-se e não é como um Golem ou um Frankenstein a andar apenas com outro corpo por aí. Diferentemente, há uma entidade una que se multiplica nas suas possessões, nas sessões em que toma conta de corpos e mentes, uma forma, estética, imaginária e ritualística, na qual apossar-se dos outros remete a uma forma de identidade sobre si mesmo. Não por acaso, uma das suas imagens recorrentes, quando entramos no universo onírico-macabro de Zé do Caixão, é o seu pisar sobre corpos, enfileirados, geralmente numa escada, sobre os quais ele reina.
Na ordem cósmica dos corpos nas ficções de Zé do Caixão, o corpo reinventa-se quando é novamente possuído. Permite co-existências, co-habitações, e formas de compartilhamento ou multiplicidades que fogem do maniqueísmo judaico-cristão, recorrente nas religiões monoteístas. Por esse prisma, o terror de Zé do Caixão possui sim uma perversidade que é catapultada por essa força polissêmica e não-dualista da matriz umbandista que ele conduz à sua cinematografia. É um convívio que gera faíscas, numa peculiar ética de atritos entre o mundo corriqueiro e o supra-mundano.
Por isso, o gênero terror – tão caro ao universo cristão – escorrega e dilui-se nas encarnações e nos falsos exorcismos característicos da estética de Zé do Caixão. Sutil e radicalmente, aliás, Mojica alinha-se e inverte o cerne de um gênero tão bem codificado e identificável como é o terror na cinematografia mundial e na literatura anglo-saxã. Alinha-se ao gênero, pois torna-se um pioneiro no Brasil. Afasta-se dele, por outro lado, porque insere concepções religiosas e metafísicas que possuem outros fundamentos – insere-as mesmo sem aderir totalmente aos seus preceitos.
Seu ritual e as referências metafísicas, com as quais brinca, são realmente outras. Há, portanto, uma diferença numa possessão demoníaca, no vetor cristão, e a possessão de um personagem que se torna “cavalo” quando possuído pela mesma entidade. O corpo acolhe, dá espaço, permite ser penetrado, partilha, é atravessado e instala-se num mundo distante da dualidade sujeito/objeto – grande nó, baita calcanhar de Aquiles da metafísica ocidental, que não compreende a possibilidade de ser outro sem deixar de ser si mesmo. Onde havia expulsão, emerge convívio.

Tal convívio, contudo, não dispensa fricções. Em Exorcismo Negro, por exemplo, a simples sensação de distanciamento e de aproximação que alinhavam o diretor, o ator e a entidade são cheias de tensões. Os símbolos de Exu estão na magia indicada por uma velha senhora, que Zé domina, numa roda de velas, nas negociações, no que se ganha, no que se perde. Quando o diretor visita esse arquétipo da bruxa ocorrem rusgas – ele sabe que a sua entidade, criatura por ele criada, precisa dele tanto quanto o evita. São rusgas entre os corpos, as possessões e os desejos de individualidade. Mas são pulsões ciosas das suas incompletudes. Mesmo ao final do filme, quando parece que houve um exorcismo, sabe-se que ele é provisório, frágil e suscetível a infinitos retornos e regressos. Pelas unhas de sua possessão, Zé do Caixão instala uma ontologia bifurcada, de um corpo que dialoga com almas, suas e alheias. Embora não seja evidente, o terror em Zé do Caixão é um dos principais gestos antropofágicos do cinema brasileiro moderno – uma deglutição que não se inspirou nas vagas ondas dos novos cinemas, mas que traduziu e inverteu os sentidos que atravessam o medo das fronteiras entre o corpo, as emoções e o evento fílmico.
Avesso à crítica, avesso a classificações, Zé do Caixão também desafia as compreensões analíticas, além de qualquer descrição ou estranhamento. Quanto mais se chega perto dele por esse bisturi, nossos esquadros de conceitos, referências, comparações, emoções e empatias, mais a entidade gesticula com o sarcasmo da sua perversa risada. Saudavelmente petulante, Zé do Caixão, seu ator e diretor, maculam nossas representações enquanto, em vão, tentamos agarrá-los. É esquivo, gelatinoso. A possessão borra os limites do que é de dentro com aquilo que ocorreria fora. Ela fisga, sem distinções. Um corpo, várias almas. Uma entidade, várias possessões. Desafia o exercício da crítica a um curioso paradoxo: ou é possuída pela mesma entidade que analisa ou apenas a arranha. Diante das entidades, a crítica falha – e revela-se somente o reflexo das suas nódoas no espelho. Nessa ontologia das unhas, racionalidade e realidade revelam-se vetores tangentes, forças oblíquas, velozes numa rota de fuga.
Leia também
- Textos da série #mojicainvenção
- Feitiço sem farofa, por Bernardo Oliveira
- Um outro tipo de marginal, por Andrea Ormond
- Nas garras do medo, por Gabriel Moraes
- Curtas: os três formidáveis, por Francis Vogner dos Reis
- Quem julga e quem pode julgar?, por Cléber Eduardo
- Reality show: um dispositivo biopolítico, por Ilana Feldman