O texto “Alegorias do Nada”, sobre o filme O Último Trago, motivou uma resposta do cineasta Luiz Pretti – com um adendo de Ricardo Pretti – além de uma réplica do crítico Victor Guimarães. Reproduzimos abaixo as cartas.
*
Carta aberta em resposta à crítica do filme O Último Trago
por Luiz Pretti
É uma tarefa ingrata ter que responder ao seu texto. Num primeiro momento não tenho muito o que dizer e nem queria ter que dizer nada. Seria melhor esquecer e deixar que os filmes falem por si próprios. Não tenho vontade de responder, pois acho um texto vaidoso que fala muito mais de quem escreve do que do objeto de análise. Então por que eu deveria responder? Talvez porque tenha achado desleal o tipo de difamação que você fez dos nossos filmes. Eu vou acabar me arrependendo, não tenho grande domínio da escrita e tenho receio de dar importância ao seu texto maior do que ele merece. E esse negócio do artista ter que defender sua obra é horrível. Por outro lado, percebo claramente um esforço grande de sua parte, uma dedicação ao escrever esse texto, o que inclusive é louvável no seu trabalho crítico. Você de certa forma se deteve sobre os filmes e talvez eu devesse até me sentir lisonjeado. Acho importante deixar claro que acompanho o seu trabalho e que tenho apreço por ele e pelo seu ponto de vista, mesmo sabendo se tratar de uma visão unilateral. Gostaria também de deixar claro que não me sinto confortável ao ter que responder a tamanhos equívocos. Escrever isso aqui é no fim das contas um desprazer. Mas não podia deixar de me posicionar, então vamos lá.
Qual o limite da retórica, Victor? Eu leio o texto e me esforço muito pra reconhecer algo dos filmes ali, no meio da eloquência crítica, mas não percebo. Me pergunto com toda sinceridade: onde estão os filmes nesse texto? Você pede que os filmes tenham um vínculo com a História, eu peço dos textos críticos algo mais simples: um vínculo com o filme. Vejo lá as citações: Benjamim, Xavier etc. mas não faço a conexão delas com os filmes, para além de uma relação conceitual com o filme. Você acha mesmo que pode lançar mão desses teóricos para acusar nosso filme de reacionário (logo essa palavra no momento histórico que vivemos?)? Você acha que vale tudo e qualquer coisa para impor a sua vontade? Isso que você faz é jogo sujo, um golpe baixo e irresponsável. Pergunto ainda: será que dá mesmo para lançar mão de uma definição de alegoria um tanto vaga (nunca li o texto do Ismail) para concluir que o nosso filme perdeu o vínculo crítico com a História?
O que você diz sobre as citações literárias no filme é o maior disparate, além de contraditório. Você diz se tratar de um culto ecumênico, ao mesmo tempo que reclama por não fazermos jus ao espírito de desespero do texto do Murilo Mendes. As citações no filme são apropriações livres, não pretendem demonstrar a essência do texto e seu contexto, nem invocar a sua essência. Sim, somos displicentes com as citações, é um privilégio que temos. Você faz o mesmo com as citações no seu texto, mas aí é bem mais complicado né? No seu texto não há poesia. Fico com a impressão de que sua acusação de sermos reverentes fala mais da sua expectativa em relação aos textos, não? Se você olhar para o filme com um pouco de mais calma verá que cada citação é encenada de um jeito diferente. Buscamos sempre valorizar o que é dito no texto para que ele possa ser apreendido, mas os textos estão todos estritamente ligados ao que está acontecendo na cena. Afinal de contas os personagens precisam de uma motivação. Se você abstrair um pouco da sua inteligência (conhecimento sobre as citações: de quem é, contexto histórico, espírito do autor ao escrever aquilo, etc.) e simplesmente escutar os textos talvez você consiga se relacionar com a cena e os personagens. A coisa é mais simples do que você imagina.
O inimigo precisa ter uma cara? Será que não é possível saber quem é o inimigo sem ter que mostrá-lo? Precisamos mostrar no filme a cara do Papa, do Geisel e do Temer para que o inimigo seja válido? Como mostrar a cara do inimigo, se ele é justamente a amnésia que nos assola? Ou se ele é justamente uma figura sem rosto?
O filme não é um crescendo, é um quebra-cabeça. Supostamente deveria gerar reflexão, mas isso vai depender de você, não do filme. É o oposto da catarse. O atrito entre os tempos diferentes no filme serve como uma freada no rumo natural das coisas. O filme é construído numa lógica sim, e uma narrativa (por mais esburacada que seja). Uma parte reverbera na outra, as cenas se comentam entre si e o acúmulo delas constrói um discurso ao mesmo tempo tateante e convicto. Ao final, as peças se encaixam, mas ao meu ver isso não torna o filme fechado. O filme sabe o que quer dizer, como não poderia deixar de ser. Valéria não redime o passado, nem vinga o futuro. É um gesto poético o de Valéria, parecido com o gesto de levantar os braços de punhos cerrados. Não vai mudar o mundo (a história e o presente) e nem pretende isso. Não entendo porque você acha que os filmes têm esse dever. Isso sim seria de uma grandiloquência despropositada. A não ser se tratando de um caso muito específico como Na Missão com Kadu (filme feito claramente para sensibilizar o público e as autoridades com o intuito de interferir no processo violento de desalojamento da ocupação Vitória em Isidora). Aliás, este é um filme que atinge seu objetivo justamente por construir em sua estrutura um crescendo até atingir um final catártico e de adesão instantânea do público (sem por isso deixar de ser um filme poderoso). E já que estamos no assunto, Martírio que é um filme do qual você já escreveu (e concordamos em se tratar de um grande filme), é também um filme que busca a identificação do público com o que está na tela (no caso dos índios isso é inclusive uma estratégia de sobrevivência) e que puxa um “aplauso ruidoso ao final da sessão”. Acho que se você levar a cabo o que você prega ao final desse seu texto você vai incorrer em contradições e terá que rever sua relação com outros filmes, não?
Seguindo. Victor, colocar em oposição comparativa o bar de O Último Trago com a carreata da Dilma em A Cidade é uma Só? é um gesto crítico displicente e nocivo. Sinceramente o que uma coisa tem a ver com a outra? É óbvio que o bar no nosso filme é um refúgio, mas daí concluir que é um “espaço em que a ficção pode elaborar, confortavelmente, um discurso cristalino e imperturbável sobre o que está lá fora” é outro disparate. Qual o discurso que você viu no filme? Por que não elabora? Do meu ponto de vista, se há um discurso nessa parte do filme ele é sobre o que está lá dentro do bar e não o que está fora. Sobre a paralisia daquelas pessoas. Não à toa o bar é situado em cima de um cemitério sem lápides. Não à toa Marlene vem de fora para revelar o que há de podre entre eles: “esse lugar cheira a carniça”.
Vamos ao Com os Punhos Cerrados. Me explica uma coisa: você acha mesmo que dá pra comparar no filme a encenação da leitura dos textos e uma entrevista feita com o Uirá? Será que você não está forçando a barra pra elogiar o que você gosta e denegrir o que você não gosta? Você acha realmente que a maneira como é lida a carta de Joyce a Nora é igual à maneira como é lida a receita do TNT? Ou o texto poético do Artaud? Você pode não gostar da interpretação, das leituras etc., mas dizer que é tudo igual é falso. E mesmo se fosse o caso, qual o problema? No cinema textos já foram lidos de formas tão diferentes: o tom íntimo e constante em Duras, o sprechgesang em Straub e Huillet, o tom inflamado de Vautier etc. etc. etc. E na maior parte dos casos sem grandes variações na entonação e na encenação. Mas uma coisa concordo com você: a encenação em Com os Punhos Cerrados deveria ser melhor. A falta de bons atores e do tempo necessário para a realização de certos planos prejudica esse filme. Tempo custa dinheiro. Não quero assim justificar uma fragilidade do filme, mas é um fator que de fato pesa sobre o filme. De qualquer forma, houve um esforço sim da encenação em dar vivacidade às palavras: o texto de Joyce por cima dos retratos pintados dos governadores, o texto de Elie Faure como disparo para a entrevista com Uirá, a receita do TNT por cima da arquitetura ostentosa de shoppings, Artaud por cima da rádio vazia; enfim, como você pode notar foram estratégias de encenação variadas para lidar com os textos. Uma pergunta: da onde você tirou que o filme “se baseia fortemente na retomada de textos que originalmente foram destinados à intervenção no debate (como os manifestos)”? O único manifesto no filme é um que eu mesmo escrevi e resolvi chamá-lo de manifesto por ser uma espécie de carta de intenções do filme. Os outros textos são bem variados.
Bom, sobre Os Últimos Raios de Sol. Sua leitura do filme não poderia estar mais distante do que ele é (pelo menos pra mim). As vozes de Moretti, Monteiro, Mocky etc. são demônios que carrego dentro de mim. Não estou “nostalgicamente imbuído da virulência” desses cineastas. Na verdade eu estou doido pra me livrar daquilo. Se fiz esse filme foi por uma necessidade de olhar pra mim mesmo e os fantasmas que habitam dentro de mim como forma de superá-los e seguir adiante. E também expor uma revolta contra um espectador. Se você pergunta: quem é esse espectador? Respondo: é você, Victor. Em retrospecto esse filme é direcionado a você, a esse seu texto e a uma maneira de definir o que deve ser o cinema representada aqui na sua figura. É interessante ver a sua reação, o espectador do filme está vivo e tão revoltado quanto eu naquele momento (é revelador saber que o filme tem 476 plays no vimeo. Dava até pra conhecer cada um deles. Inclusive aproveito pra registrar o link, caso alguém tenha interesse em ver o filme: https://vimeo.com/108018558).
Me diz uma coisa, você realmente quer dizer que a “defesa radical da liberdade de criação do artista” é uma adesão ao capitalismo atual onde “as formas da repressão e da censura foram convertidas amplamente em um imperativo cínico da criatividade individual”? É sério isso? E você quer me dizer que não se pode mais filmar o pôr do sol pois isso se transformou em “trending topic em qualquer rede social”? De novo: é sério isso? E fazer um filme no apartamento é se encastelar e se esconder no conforto de sua casa? Sei lá, posso ter entendido errado o que você está dizendo, mas me parece muito doida a sua relação com o filme. De onde você tirou que ele é um panfleto? De onde você tirou a ideia que esse filme deve se colar nas lutas do presente? Por que exigir isso do filme? Ou, por que acusá-lo de não aderir às lutas do presente? E que lutas são essas? É você quem as define? Ainda assim te digo: o cinema não pode ser obrigado a responder às pautas do momento. Nos ceda pelo menos essa liberdade.
Rapaz, é difícil de acompanhar esse texto, viu. Você atira para todos os lados e sinto que a cada parágrafo você se distancia mais dos filmes. Muita retórica e alguma teoria, mas nenhum diálogo. No final da leitura me parece que você se tornou em mais uma voz confusa no universo caótico de opiniões levianas que virou a internet. Ao meu ver o que você está fazendo acaba sendo um desserviço aos filmes e ao pensamento crítico. Com toda a pompa você esconde a vilania do seu gesto: catequizar um possível leitor e se colocar num lugar de poder, acima dos filmes. Ou talvez você esteja escrevendo apenas para falar de si mesmo, encastelado numa torre de teorias nobres e edificantes.
Luiz Pretti
Adendo de Ricardo Pretti:
Gostaria apenas de acrescentar duas coisas: Com os Punhos Cerrados não é uma referência ao filme do Bellochio, o nome do filme dele nem é o mesmo, e os dois filmes não poderiam estar mais distantes um do outro. Com os Punhos Cerrados faz referência ao gesto icônico de fechar os punhos e erguer o braço. É isso e mais nada. Se existe alguma relação entre os filmes, e que eu não vejo, por favor discorra sobre isso, não coloque apenas o nome do Bellochio no texto e passe pra outra coisa. Ainda mais num texto que acusa um filme de negar a historicidade, de jogá-la no vazio.
Discorro um pouco mais sobre as citações: durante boa parte da sua vida, Haroldo de Campos, defendeu uma relação com a História que ele chamava de sincronia poética. Essa ideia consiste em se relacionar com o passado a partir do presente, numa relação estético-criativa. Isso basicamente significa uma oposição à relação diacrônica e linear-causal com a História. A sincronia entre passado e presente nos dá a oportunidade de reinventar (make it new, do Pound), de associar Maiakóvski a Li Po e terminar nos provençais, de encontrar num poeta moderno uma rima com uma tradução brasileira de Ulisses feita no séc. XIX, e por aí vai. Não existe a fixidez da História, e por isso, é possível ressaltar apenas um verso de uma obra que consiste de 1000 versos etc.. À sua maneira, o nosso filme elabora esse olhar sincrônico e estético-criativo, mas com a diferença que estamos fazendo um filme de ficção e não uma teoria da literatura, ou seja, existem personagens que dão vida a essas citações e que estão inseridas em situações específicas. Por exemplo: Rui Barbosa sendo declamado por Sr. Rui jogado ao chão pra quando terminar, o dono do bar jogar a bengala na cara dele. Existe um contexto cênico e narrativo, não nos interessa o contexto diacrônico, nos interessa a pompa de Rui Barbosa no meio do sertão brasileiro ”profetizado“ por um bêbado decadente que sofre uma violência do dono do bar, pra logo em seguida vermos o mesmo personagem voltando ao bar com um estrangeiro e por aí vai. Existem muitos outros exemplos que não cabem aqui.
É preciso acrescentar que somos da geração que viu o hip hop nascer, ou seja, é mais que natural a descontextualização histórica, usurpar um trecho de uma música de uma banda alemã pra atingir a perfeita combinação de melodia e ritmo pro nascimento da dança break. Não temos nenhuma responsabilidade com o que veio antes de nós, no sentido alegórico que você defende. Somos muito mais filhos do rap do Afrika Bambaataa do que do Ismail, somos muito mais filhos do no wave do que do new wave. Nossa relação com o passado não poderia estar mais longe da nostalgia, nessa você errou feio, foi tão longe que se encontrou no ”vazio histórico” pra voltar como um messias do cinema brasileiro a nos chamar de reacionários e dizer como devem ser os filmes e, pior ainda, como deve ser o público.
De qualquer maneira, deixo registrado o meu respeito e admiração pela dedicação que você teve ao se debruçar sobre o nosso filme. Esse texto me parece um oásis num marasmo de textos jornalísticos preguiçosos.
*
Carta aberta aos cineastas Luiz e Ricardo Pretti
por Victor Guimarães
Caros Luiz e Ricardo,
minha tréplica à resposta de vocês sobre meu ensaio “Alegorias do nada” privilegiará, tanto quanto possível, o debate crítico público, em detrimento de eventuais questões pessoais que porventura pairem sobre esse diálogo. É importante, contudo, esclarecer algo para os eventuais leitores e leitoras da Cinética: Luiz e eu somos amigos há alguns anos, aliados em lutas políticas urgentes em Belo Horizonte e admiradores do trabalho um do outro. No entanto, a existência dessa amizade nunca significou e nunca significará (ao menos para mim) nenhum tipo de blindagem do trabalho artístico de Luiz ou do meu trabalho crítico. Na escrita, busquei, a todo o momento, colocar entre parênteses minhas relações afetivas com os realizadores e privilegiar os afetos que as obras mobilizam. Escrevi “Alegorias do nada” motivado pelos bons problemas que a experiência dos filmes me trouxe, mas também com a responsabilidade de quem se vê implicado – ainda que de forma minoritária – num debate, eminentemente público, sobre cinema e política no Brasil. E é por acreditar na necessidade do distanciamento, na vitalidade da diferença e na potência de uma relação de alteridade que, do mesmo modo como defendo arduamente meu direito de criticar com liberdade e autonomia os filmes de Luiz, Pedro e Ricardo (assim como quaisquer outros filmes), defendo igualmente o direito de Luiz (e Ricardo) de se manifestar crítica e livremente sobre o meu texto.
Ainda que eu considere – exatamente como Luiz – uma tarefa ingrata ter de responder à resposta; que eu também ache horrível esse negócio do crítico ter que defender seu texto; que eu acredite que seria melhor esquecer e deixar que os textos falem por si; ainda assim, não vejo outra escolha senão responder (afinal de contas, Luiz me fez várias perguntas). Por outro lado, apelando ao pouco que me resta de otimismo, deixo o desprazer de lado e aposto na proficuidade dessa comunicação. Acredito que o ultraje inicial provocado em mim por expressões injustas como “disparate”, “difamação”, “golpe baixo e irresponsável” é muito menos relevante do que o que nós (e aqui incluo eventuais leitoras e leitores) podemos construir a partir desse diálogo público. Ainda que eu não possa ignorar que em alguma medida, Luiz, você esteja escrevendo apenas para falar de si mesmo, encastelado numa torre de filmes nobres e edificantes (e que além de tudo são seus), prefiro passar ao largo disso e tentar construir algo a partir das suas provocações. Só acho importante deixar claro uma coisa: se eu passei horas e horas da minha vida vendo e revendo os filmes de vocês ao longo dos últimos anos, me manifestando criticamente em vários debates públicos após as sessões, se passei algumas semanas revendo filmes e escrevendo esse longo ensaio, é porque respeito e estimo o trabalho de vocês (embora tenha várias objeções, como a esta altura é óbvio). Do contrário, eu teria simplesmente abandonado essas tarefas há muito tempo. Eu tenho mais o que fazer do que me dedicar a difamar o trabalho de algum artista. Além disso, se fosse para fazer difamação, eu escreveria um parágrafo; não um texto com 22.000 caracteres.
Por respeito a quem nos lê, vou me permitir o direito de agrupar as questões em torno dos temas que me parecem mais relevantes para o debate e que expressam as controvérsias essenciais entre nós.
Sobre o vínculo com os filmes e os limites da retórica
Pode ser, Luiz, que você rejeite inteiramente esta postura crítica (o que considero válido, embora dogmático), mas “Alegorias do nada” é um texto que conjuga três movimentos: a crítica imanente (que tem O Último Trago como ponto de ancoragem central e se espraia também por outros filmes); uma visada panorâmica e comparativa sobre certo cinema brasileiro recente; e um gesto algo programático ao final. Alguns dos críticos e críticas que mais admiro escreveram ou escrevem quase sempre assim: Serge Daney, Nicole Brenez, Jairo Ferreira, Susan Sontag, Nicolás Prividera, José Carlos Avellar, todos exerceram uma escrita crítica que conjuga a imanência, o panorama e o programa estético-político. Essa conjugação tem perdas, claro (me impede de ir fundo nas nuances e detalhes de cada filme), mas também tem ganhos, no sentido de contribuir com um pensamento de conjunto sobre o cinema e a política. Nem sempre é possível (ou mesmo desejável) estar inteiramente à altura do que os filmes pedem como imanência singular (e, no limite, é obviamente impossível que eu conheça os filmes de forma tão detalhada quanto os realizadores). Reconheço que, no caso de Com os Punhos Cerrados, eu poderia ter feito uma análise mais nuançada e detalhista, mas esse sacrifício foi uma escolha e a defendo: as recorrências figurativas me parecem muito mais relevantes, para o escopo específico do meu argumento nesse texto, do que as diferenças internas à obra. Uma das maiores dificuldades da geração crítica à qual pertenço é justamente esta: ora uma singularização absoluta, que revela um pudor imenso diante de qualquer tipo de leitura de conjunto ou de programa; ora um fragoroso desleixo, em nome do panorama ou da defesa de princípios absolutos e exteriores, em relação ao respeito básico à singularidade das obras. Tenho me esforçado, em meus textos mais recentes, para combater essa dupla negligência, ensaiando uma escrita crítica que consiga misturar um pouco mais os gestos.
Nesse sentido, o limite da retórica talvez resida em uma escrita que se permita partir dos filmes para alçar vôos mais amplos, mas que retorne sempre à materialidade singular das obras e mantenha, em seu cerne, uma leitura válida de cada filme. À exceção do seu, os vários retornos que tenho recebido do texto parecem indicar que minha aproximação aos filmes é (ao menos) válida. Esclareço, no entanto, algo que parece ter escapado inteiramente a você: embora eu a considere válida, sei muito bem que se trata de uma leitura do filme. Não tenho nenhuma pretensão de deter algum tipo de conhecimento especial ou de visão absoluta sobre os seus filmes (ou sobre quaisquer filmes). É por isso que uma pergunta como “Você acha que vale tudo e qualquer coisa para impor a sua vontade?” me parece tão despropositada. Quem a lê deve imaginar que exerço alguma espécie de poder de veto sobre os filmes, e não que eu, muito simplesmente, escrevi um texto de forma voluntária e o submeti aos editores da revista da qual faço parte, que não conta com nenhum tipo de recurso além do esforço diário de seus colaboradores e colaboradoras. Não é um relatório de censura. É um texto assinado, diante do qual o leitor ou a leitora pode manifestar seu desacordo ou sua adesão.
Sobre o uso do termo “reacionário”
Você pergunta: “Você acha mesmo que pode lançar mão desses teóricos para acusar nosso filme de reacionário (logo essa palavra no momento histórico que vivemos?)?” Recuperei no texto os dois trechos em que a palavra aparece: “E isso porque a relação não é mais com a História, e sim com uma certa imagerie; porque o motor que a dispara não é mais a melancolia diante da catástrofe, mas a nostalgia, um motor artístico frequentemente reacionário”. E depois: “O final de Os Últimos Raios de Sol expressa de forma notável o componente reacionário da nostalgia que anima a fase mais recente da obra de Luiz Pretti, Ricardo Pretti e Pedro Diógenes”. Nos dois trechos, está muito claro que eu me refiro a um elemento reacionário da nostalgia, essa que, para mim, é um dos motores que anima o trabalho recente de vocês. Daí a dizer que o filme como um todo é reacionário há uma distância enorme.
Mas avançando em relação à sua pergunta: eu acho que poderia ter dito isso, sim. Eu não acho, mas eu poderia achar que vocês fizeram um filme inteiramente estética e politicamente reacionário. De maneira nenhuma isso diz de vocês como pessoas, nem mesmo de vocês como artistas. As obras muitas vezes não se ajustam às intenções do artista; a linguagem frequentemente é um tiro pela culatra. Meu trabalho como crítico não é o de avaliar intenções, mas obras. E não há nenhuma garantia de que uma obra não possa se tornar reacionária, independentemente das intenções revolucionárias de seu realizador.
O inimigo precisa ter uma cara?
Ninguém disse que isso é uma regra para o cinema em geral. Mas me parece bastante sintomático e sugestivo que o filme anterior tivesse um inimigo sempre filmado de costas e o que o inimigo de agora, ainda que nomeado, não tenha cara, seja uma abstração. Para mim, essa rarefação figurativa reenvia a uma dificuldade do cinema brasileiro recente em filmar de frente um inimigo político. Fala-se sobre ele, nomeia-se, traçam-se caricaturas, mas dificilmente se filma o inimigo com toda a complexidade e a força dramática que um adversário pode ter. O Último Trago é um sintoma dessa dificuldade, que me parece grave em termos de conjunto. Novamente: o texto parte e se ancora no filme de vocês, mas por vezes alça vôos maiores. Tendo a achar que isso está bem claro para quem lê.
Sobre as autodefinições dos filmes pelos artistas
O texto está repleto de frases como “O filme não é um crescendo, é um quebra-cabeça”; “Sua leitura do filme não poderia estar mais distante do que ele é” e “À sua maneira, o nosso filme elabora esse olhar sincrônico e estético-criativo”. Todas elas surgem para contestar interpretações e análises minhas, que são consideradas equivocadas em relação àquilo que o filme “é”. Eu só consigo enxergar essas definições de uma maneira: como uma visão particular sobre os filmes, que é tão relevante como a de qualquer outro espectador que seja capaz de se relacionar de forma potente e inventiva com as obras. Essas definições poderiam certamente participar de um dissenso produtivo sobre os filmes, mas não é assim que elas funcionam no texto de vocês: elas operam como uma espécie de ponto de ancoragem, a partir do qual seria possível (fantasia máxima da consciência demiúrgica do artista) regular as leituras boas e as más. Não acredito, sob nenhuma hipótese, que o artista detenha algum conhecimento definitivo sobre a própria obra ou guarde em sua própria consciência especial uma chave privilegiada sobre “o que é” um filme. Esse tipo de invocação autoritária de um saber absoluto me parece um mito tão politicamente nocivo quanto o de Valéria.
Sobre “responder às pautas do momento”
Não poderíamos estar mais de acordo quanto a isso. Um dos maiores problemas do cinema brasileiro hoje é a sua excessiva vinculação não apenas a pautas contemporâneas, mas a modos de abordagem que respondem a uma espécie de cartilha de boas práticas representacionais. Fico me perguntando, no entanto, qual é o tipo de raciocínio que pode ter levado você a acreditar que eu estivesse pedindo isso aos filmes. A alegoria – como você bem sabe, um modo da linguagem que lida com o mundo de forma essencialmente indireta, quase sempre escapando ao realismo e muitas vezes recorrendo ao passado ou ao futuro – está no título do texto e domina boa parte da argumentação. Criticar o rompimento de um vínculo com a História não tem absolutamente nada a ver com exigir dos filmes uma adequação às pautas do momento. Aliás, eu não entrei nessa seara no texto, mas um dos principais problemas de O Último Trago me parece ser justamente a tentativa de responder no filme às críticas de misoginia frequentemente feitas a Com os Punhos Cerrados. Os protagonistas não são mais homens, a mulher não é mais um objeto do olhar masculino no interior da narrativa, mas agora ela se tornou uma idealização ainda maior. Até o striptease perdeu o contraplano dos olhares dos machos, que era fundamental para instaurar algum conflito na cena no longa anterior.
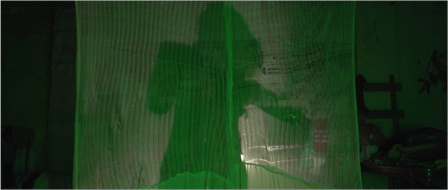

Sobre verbos como “impor”, “exigir”, “acusar”, “ceder”, “catequizar”
Só consigo atribuir tamanho ressentimento a uma percepção (que me parece estar espalhada pela resposta) de que o meu ensaio tivesse um objetivo deliberado de prejudicar a carreira artística de vocês. Se for isso, Luiz, acho que as suas definições de “disparate” precisam ser atualizadas.
Já ao final do texto, Ricardo, você diz que me portei “como um messias do cinema brasileiro a nos chamar de reacionários e dizer como devem ser os filmes e, pior ainda, como deve ser o público”. Esse trecho me pareceu particularmente interessante, sobretudo vindo de alguém que, há não muito tempo, publicou um texto intitulado “Reflexões acerca da crítica” em que lista uma série de dez exortações normativas (para não dizer “mandamentos”) sobre o trabalho crítico, com conselhos práticos do tipo “ver um filme três vezes ou mais” e “não esquecer de viver a vida”. Eu sinceramente não consigo apreender a lógica de um debate em que você (que não é crítico) pode escrever (literalmente) um decálogo sobre o trabalho crítico em geral, mas eu (que não sou cineasta) não posso sequer esboçar um gesto programático em relação ao cinema brasileiro ao final de um texto crítico que examina várias obras recentes.
Mas que fique claro: digo isso não para condenar seu movimento de pensar a crítica, Ricardo, mas justamente para enfatizar e elogiar o caráter programático do gesto: acho que você e Luiz são alguns dos pouquíssimos cineastas dessa geração a ter a coragem de se engajar no debate público sobre o cinema no país e isso me parece louvável. Naturalmente, no entanto, acho que eu também tenho o direito de fazer parte dele. Na verdade, acho que precisamos, todos, ter menos receio de traçar diagnósticos e de nos manifestar publicamente de forma programática. O embate entre programas estético-políticos dissonantes, talvez até mais do que as análises de obras singulares, constitui um dos legados mais duradouros da história da reflexão sobre cinema. O excesso de pudor, por outro lado, é uma bela porta de entrada para a insignificância histórica.
Sobre mudar o mundo (com o cinema)
“Não vai mudar o mundo (a história e o presente) e nem pretende isso. Não entendo porque você acha que os filmes têm esse dever”. Luiz, em nenhum momento eu disse que os filmes têm a capacidade (muito menos o dever) de mudar o mundo, o presente e a história em termos tão grandiloquentes como os que você sugere. Por outro lado, como cinéfilo e como cidadão que tenta sobreviver em meio à razão cínica que nos assola, eu não consigo senão sustentar alguma crença em relação ao cinema e ao mundo, pois do contrário eu não faria o que faço. Eu acredito que o cinema é capaz de produzir intervenções na sensibilidade do espectador que, por sua vez, podem provocar rachaduras na experiência comum. Em meio a inúmeras outras mediações, um filme pode inventar outros tempos, outros espaços, outros corpos, e assim forjar fissuras no modo como o mundo é partilhado em comunidade. Você pode discordar dessa premissa, claro, mas eu não acho que eu precise abandoná-la ao abordar qualquer filme. Eu não sou apenas um funcionário dos filmes ou (pior) dos artistas. Sustentar alguma crença em relação ao que os filmes podem ser é parte fundamental do que me faz seguir escrevendo.
Sobre a distância
Em vários momentos do texto, você menciona a distância entre a minha escrita e os filmes. Talvez esta seja uma postura um tanto antiga, mas não sou (ao menos no meu trabalho na Cinética), partidário de tendências recentes que enxergam a crítica como “companhia”, para citar a expressão de Denílson Lopes na abertura do encontro da Associação dos Investigadores da Imagem em Movimento na cidade do Porto, no último mês de maio; ou que defendem uma imersão do crítico no processo de realização dos filmes por acreditarem que “não existe uma crítica separada”, como escreveu recentemente o Érico Araújo Lima. Acompanho com interesse e respeito essas novas propostas, mas ainda acredito na crítica como uma relação de alteridade. Talvez porque tenha lido, ainda no começo da minha formação, aquele belíssimo texto do Serge Daney que dizia: “E o cinema, vejo muito bem porque o adotei: para que ele me adotasse de volta. Para que ele me ensine a perceber incansavelmente pelo olhar a que distância de mim começa o outro”. Esse outro, em primeiro lugar, é o próprio filme.
Ao final da resposta, depois de chamar meu gesto de vil, você me acusa de querer “catequizar o leitor” e ocupar “um lugar de poder, acima dos filmes”. Talvez eu não devesse responder a essa acusação tão delirante, mas ela me fez pensar sobre que lugar é esse. Com o tempo, comecei a perceber que não era por acaso que eu frequentemente evitava a primeira fileira do cinema e tendia a preferir o meio da sala. Há algum tempo abandonei algumas ilusões do deslumbramento juvenil que marcaram certa cinefilia dos anos cinquenta (cujo emblema é a proximidade fascinada com a tela). Demorou um pouco mais para que eu conseguisse me desvencilhar de certos dogmatismos ideológicos, típicos da virada dos sessenta para os setenta. Embora eu não abdique a toda hora de certas crenças – que foram se construindo ao longo dos anos –, minha relação com os filmes é forjada a cada vez, num movimento atravessado por aproximações, distanciamentos, adesões e recusas, mas principalmente por transformações (ao menos nos melhores casos). Talvez o lugar que eu imagino hoje para mim em relação aos filmes seja, como num plano de Hawks, o frente a frente: o olhar à altura dos olhos. Nem a plongée da superioridade, nem a contra-plongée da reverência. Espero poder continuar tratando os filmes com a admiração, o respeito e a boa dose de franqueza que cabem aos amigos.
