Jerry Lewis: O excesso do espalhafato como construção (e destruição) de mundos
14:50

por Marcelo Miranda
Numa taxonomia um tanto apressada do burlesco cinematográfico, seria possível apontar Georges Méliès como pré-fundador da comédia, muito por conta das trucagens inovadoras ainda no nascedouro da arte do cinema em fins do século XIX. Charles Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd seriam os mestres essenciais, aqueles pelos quais atravessam toda a invenção e inovação do gênero e da forma burlesca, ainda na fase muda e um pouco além, a partir da ascensão do sonoro nos anos 1930. Na França, Jacques Tati, entre as décadas de 1940 e 60, é o grande nome a mostrar novos caminhos e possibilidades. Em 1948, no mesmo ano em que estreava Carrossel da Esperança, o primeiro longa-metragem de Tati, outro nome que iria revolucionar a comédia chegava aos olhares do público: Jerry Lewis, ao lado do parceiro Dean Martin, estreou no canal televisivo CBS, no programa de Ed Sullivan, numa noite de junho daquele ano.
Demorou apenas um ano para Lewis e Martin, já muito populares na TV, estrelarem seus próprios filmes, começando por Amiga da Onça (My Friend Irma), de George Marshall. Lewis mantinha a posição de escada cômica para o galã cantor Martin (a dupla era definida na época como “the handsome guy and a monkey”), o que se repetiria por outros 15 filmes e centenas de programas televisivos. Lewis começou a dirigir em 1960, com O Mensageiro Trapalhão, conciliando trabalhos seus a outros comandados por Frank Tashlin. Como Chaplin, Keaton e Tati (mas não como Peter Sellers, comediante fundamental dos anos 1960 e 1970 que nunca seguiu carreira de diretor, tendo assinado apenas um título, o desaparecido A Solidão da Riqueza, de 1961), Lewis seguiu caminhos pessoais na concepção de cada filme que assinou. Radicalizou o próprio estilo na mesma proporção em que se afastou (e, em alguns casos, alimentou a antipatia) de um público que o idolatrara por anos.
Em A Imagem-tempo, Gilles Deleuze aponta Jerry Lewis como novo paradigma na comédia, representante ao mesmo tempo de um recomeço e uma renovação. Deleuze identifica quatro tempos do burlesco, pelos quais os caminhos do cinema seguem até chegar a Lewis. O primeiro e o segundo tempo se atravessam, definidos pela “exaltação desmedida das situações sensório-motoras”, em que “cruzamentos e choques entre suas séries causais [das cenas] independentes eram multiplicados, formando um conjunto prolífero”. O segundo tempo se diferencia pelo “fortíssimo elemento emotivo, afetivo”, tendo Chaplin, Keaton, Lloyd e o Gordo e o Magro como os principais exemplos. O cinema sonoro inaugura a terceira fase, na qual a chamada “imagem mental leva ao limite a trama sensório-motora, regulando desta vez seus desvios, encontros e choques com base numa cadeia de relações lógicas tão irrefutáveis quanto absurdas ou provocadoras” (como os discursos do Chaplin falado ou o absurdo dos diálogos dos irmãos Marx).
O quarto tempo do burlesco enumerado por Deleuze já inclui (e é inaugurado por) Jerry Lewis e se caracteriza pela “ruptura dos vínculos sensório-motores, uma instauração de puras situações óticas e sonoras que, em vez de se prolongarem em ação, entram num circuito voltando sobre si mesmas, para então relançarem outro circuito”.

O Terror das Mulheres (1961), Jerry Lewis
A noção de circuito cabe perfeitamente à maneira como se estruturam filmes como O Mensageiro Trapalhão, O Terror das Mulheres (1961) e Mocinho Encrenqueiro (1961), além da cena da aula de canto em O Otário (1964). Em todos estes, Lewis é um corpo circulante que se expõe a séries de situações sem relações diretas de causa-efeito e rumo a acontecimentos dramáticos. Cada cena existe enquanto fenômeno e reação do ambiente (e de tudo dentro dele, de pessoas a objetos, de falsas paredes à própria câmera) à presença de Lewis. Deleuze vai apontar os cenários como elementos desestabilizadores da ordem dentro do plano e libertadores à desordem da narrativa. O Terror das Mulheres é o ápice do procedimento: Lewis faz toda a ação acontecer numa espécie de casa de bonecas, construída em estúdios, sem paredes, permitindo visão total do espectador para os cômodos interligados em vários andares e escadas. Neste sistema, Lewis não chega a ser exatamente o desarticulador do cenário; é o cenário que é desarticulador do corpo de Lewis. “O nonsense nasce mais das formas do que das situações reais e/ou cotidianas”, escreveu Jairo Ferreira. Seus movimentos não geram ação, e sim ondas, “movimento de mundo no qual a personagem é colocada como se estivesse em órbita” (Deleuze).
**********************************
De onde vêm exatamente estas ondas? Em O Rei da Comédia (1983), filme de Martin Scorsese no qual Jerry Lewis interpreta Jerry Langford, versão dramática de si mesmo, há uma frase definidora. Enquanto aguarda dentro do carro para sequestrar Langford, o comediante fracassado Rupert Pumpkin (Robert De Niro) pede que a parceira, Masha (Sandra Bernhard), o avise quando avistar a vítima. Num certo momento, Pumpkin vê passar um homem muito parecido com Langford, no que segue o diálogo da dupla à espreita:
PUMPKIN: “É ele?”
MASHA: “Não, porque se parece com ele.”
PUMKIN: “Como assim?”
MASHA: “Quando é ele, não se parece com ele.”
Quando é ele, não se parece com ele: eis uma definição certeira para Jerry Lewis. A modernidade do ator, diretor, roteirista e produtor se solidifica por elementos que atravessam a ideia de transformação e rearranjo de sua própria persona física e psicológica ao longo dos filmes. Vale a pena enumerar alguns.
1.
Lewis faz de seu corpo uma deformidade, algo até então incomum em artistas como Chaplin, Keaton, Tati ou Sellers. Nestes, o chamado “corpo burlesco” (conforme Luiz Carlos Oliveira Jr no texto “Jerry Lewis e a comédia moderna”, publicado na revista-catálogo da retrospectiva “Jerry Lewis – O Rei da Comédia”, “uma insurgência contra o regime de vida mecanizado e repetitivo das sociedades”) entra no quadro para tumultuar a ordem – do plano, do enquadramento, da narração, do ambiente. Lewis descontrola completamente seu corpo burlesco não apenas dentro do quadro, mas dentro de si mesmo, de sua corporeidade, ultrapassando os limites de o que um corpo pode fazer para irromper no olhar pelo que acontece no interior da cena e especialmente pelo que acontece no exterior do corpo.
Em 1957, nos Cahiers du Cinéma, Jean-Luc Godard escreve sobre Ou Vai ou Racha, de Frank Tashlin, e afirma que “o ponto máximo do artifício” característico do rosto e das caretas de Jerry Lewis “às vezes se mistura com a nobreza do documentário”. No filme – último da parceria Martin-Lewis –, o ator tem um tique nervoso que se manifesta quando ele se aproxima de alguma situação de sorte. Num determinado momento, quando ele e o parceiro de aventuras (Martin) estão completamente sem dinheiro, os dois entram num cassino. Lewis começa a se contorcer por inteiro, desde os olhos até braços e pernas, pedindo que o colega o leve para a direção aonde suas torções apontam. É uma cena-chave para ilustrar de que maneira Lewis (aqui, três anos antes de iniciar na direção) se deforma para dar forma a um novo tipo de corpo burlesco – indefinido, estranho, torto.

O Mensageiro Trapalhão (1960), Jerry Lewis
Ao longo de toda a carreira, Lewis faz caretas, dança, gira, encolhe, esconde-se, estica-se, dobra-se, rodopia, às vezes movimenta-se mais rápido que a câmera. Nenhum ator-diretor de comédia até então havia levado o próprio corpo a um paroxismo tão próximo da abstração e da incompreensão, daquilo que faz duvidar de o que de fato está sendo visto.
(Em alguns casos, Lewis utiliza efeitos especiais para elevar o impacto e o humor, como em O Professor Aloprado, de 1963, na cena em que o protagonista vai à academia e tem os braços elasticamente esticados ao tentar fazer levantamento de peso. Neste e em outros casos, há referências vindas de desenhos animados e da experiência de trabalhar com Frank Tashlin, também realizador de animações da Warner.)

O Professor Aloprado (1963), Jerry Lewis
2.
Lewis adotou de maneira inovadora o som e a música como elementos de linguagem em sintonia com a imagem, usando o rosto e o corpo como batimentos rítmicos do plano e da montagem. São várias as cenas em que Lewis simula cantar, orquestrar ou comandar um grupo de músicos utilizando apenas do gestual e da pantomima, no plano da imagem, e de efeitos sonoros exteriores à diegese, no plano sonoro: a orquestra de só um homem no hotel de O Mensageiro Trapalhão; a “reunião” com os executivos de cinema ao som de jazz na sala da Paramutual em Mocinho Encrenqueiro; o piano imaginário de Artistas e Modelos (Frank Tashlin, 1955); a composição musical como ponto de movimento e corte na descida pela escada de Cinderelo sem Sapato (Tashlin, 1960); o acordar das garotas na casa de O Terror das Mulheres, quando o lugar se faz personagem junto com o som; a maior parte das gags de O Otário, especialmente a transformação dos trapos num terno, fazendo do personagem o artista ao qual ele foi modelado para ser.
3.
Lewis realizou, através de sua obra, profunda e extensa autorreflexão de si, da indústria e do show business como nunca se vira até então por um artista de tamanha popularidade. O processo não foi rápido, nem ameno. Entre 1949, quando estreia nos cinemas com Amiga da Onça, e 1983, quando participa de O Rei da Comédia e dirige o último longa, As Loucuras de Jerry Lewis (Cracking Up/Smorgasbord), o ator-diretor transfigura-se várias vezes, fazendo sua imagem e aparência se multiplicarem mais e mais a cada filme. Ele vai do simples efeito de repetição do movimento alucinado do mesmo personagem, na cena de O Terror das Mulheres em que descobre estar num pensionato feminino; passa pela encarnação em si mesma de diversos personagens distintos, em Uma Família Fuleira (1965); chega ao artifício de, sendo um único mesmo personagem, viver vários tipos para enganar outros, como em Três num Sofá (1966) e O Fofoqueiro (1967); e radicaliza ao máximo em As Loucuras de Jerry Lewis, no qual desaparece a noção de “personagem” e sobram apenas a persona e os tipos.
**********************************
Numa olhada cronológica, quanto mais Lewis inventa novas dobras, mais o público se afasta e o rejeita, chegando a fracassos sucessivos que provocam o fim de seu contrato com a Paramount, em 1965, e um hiato de trabalho de uma década entre Qual o Caminho para a Guerra? (1970) e Um Trapalhão Mandando Brasa (Hardly Working, 1981). Pode se tentar entender estas dobras de várias maneiras, a começar pelo sentido literal, na parceria com Dean Martin. Em seguida, na carreira solo, Lewis passa a ter que agir sozinho para dar conta das situações colocadas em cada filme, dobrando o tipo “inocente adorável e atrapalhado” notabilizado por ele nos trabalhos com Martin. (No primeiro filme de Lewis sem Martin, O Delinquente Delicado, em 1957, até se ensaia um novo companheiro de elenco, na figura do policial que tenta ensinar o jovem rapaz a ser um bom cidadão, mas o resultado é bastante irregular.)
A partir de 1960, Lewis começa a dobrar-se sobre si mesmo, deixando de ser apenas ator de TV e cinema para ser também realizador e criador de mundos. Para garantir o “controle do universo” (expressão de Godard para definir o cinema de Hitchcock), Lewis faz seus primeiros filmes em espaços limitados: as peripécias de cartoon e as cenas musicais hiperproduzidas de Frank Tashlin são deixadas de lado para entrar a essencialidade da situação cômica nos cômodos de um hotel, numa pensão de mulheres, num estúdio de cinema. Os filmes se configuram como a relação do corpo de Lewis com espaços que ele precisa, de alguma forma, administrar como ator, diretor e produtor. Mesmo em trabalhos de circulação mais “aberta” (O Otário, O Professor Aloprado, O Fofoqueiro), existe, em grande medida, a exiguidade de algum espaço delimitado onde se dará parte significativa das situações. “Todos os grandes atores cômicos que precisam do espaço acabam uma hora ou outra descobrindo que precisam também dominar o espaço cênico, não só o de seu próprio corpo” (Ruy Gardnier, no artigo “Jerry Lewis, estrategista do regressivo”, publicado no catálogo da mostra).
Na dobra de diretor, Jerry Lewis não vai até o mundo e se conflitua com ele, mas constrói materialmente um mundo para ele mesmo entrar em choque e implodir como lhe convir. Implosão muitas vezes literal, a se contar a frequência com que os personagens se batem no ambiente, em dissonância com todo tipo de objeto, muitas vezes provocando a destruição parcial ou total. “Por uma série de acidentes em cascata, ele provoca um verdadeiro abalo sísmico” (Luiz Carlos Oliveira Jr). Para além das sempre citadas cenas de O Otário ou Mocinho Encrenqueiro em que Lewis acaba por levar abaixo algum lugar ou estrutura, é no começo de As Loucuras de Jerry Lewis que isso se dá de forma mais assombrosa. O protagonista entra num quarto de hotel e tenta se enforcar amarrando a corda no teto. Ao pular da cadeira, corda no pescoço, ele faz todo o prédio desabar, numa imagem documental impressionante de uma implosão verdadeira – imagem que, de maneira um tanto melancólica (e deslocada dentro da cronologia do filme), parece ser o trágico desfecho da carreira do cineasta, ao menos daquilo que de mais marcante ele fez.

O Otário (1964), Jerry Lewis
A última dobra, por fim, seria a de Lewis sobre a própria persona e suas representações e esgotamentos. O paradigma está em Três num Sofá, no qual ele surge em cena interpretando um personagem mais sério, sem traços cômicos aparentes, provocando o estranhamento do espectador que espere alguma galhofa que lhe faça rir. A comédia virá, enfim, quando Lewis se travestir de outras pessoas (inventadas por ele), e elas sim serão engraçadas. Em 1983, a participação do ator em O Rei da Comédia presta tributo à persona de Lewis ao mesmo tempo em que a põe em xeque: o cômico inexiste em cena, por mais que o enredo informe da fama e sucesso do personagem Jerry Langford a ponto de atrair fãs e imitadores tresloucados como os que efetivamente o manterão em cativeiro.
As Loucuras de Jerry Lewis coloca a questão literalmente diante do analista, no divã. Em cena, um homem no limite de um estado de nervos que o deixa próximo ao suicídio. Ele nunca consegue se matar porque seu desarranjo com o espaço é tanto que o torna incapaz de tirar a própria vida – em vez disso, ele acaba por sempre destruir tudo ao redor. “I’m a misfit. I don’t fit”, desabafa um Lewis de 57 anos, assumindo-se como desajustado, desastrado e desencaixado, neste filme que, por vias próprias, aproxima-se do mesmo conceito libertário e sem recalques de O Fantasma da Liberdade (1974), de Luis Buñuel. Na conclusão (que é, de certa forma, a conclusão de uma carreira), Lewis repete o que fizera tantas vezes em outros filmes e desafia o ilusionismo da “fábrica de sonhos” (Godard) ao mostrar a si mesmo saindo de um cinema depois de ver um filme justamente chamado Smorgasbord, título original de As Loucuras de Jerry Lewis. O diretor, “anárquico não só por tradição, mas também por convicção” (Jairo Ferreira), reflexiona o ato de criar mundos através da transparência total, mesmo que sempre enganadora da própria estrutura na qual se sustenta. Quando é ele, não se parece com ele.






























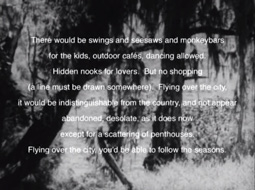
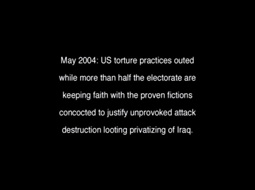























+ CINÉTICA