Trocas e mudanças
por Fábio Andrade e Raul Arthuso
Na célebre troca de cartas publicada na revista Traffic e que abre Movie Mutations (2003), livro organizado por Adrian Martin e Jonathan Rosenbaum sobre os imperativos e distinções de uma então nova cinefilia, o crítico austríaco e diretor do Österreichische Filmmuseum Alexander Horwath responde à pergunta-chave de Rosenbaum, crítico de uma geração anterior, que norteia a conversa: “Quais as necessidades específicas de sua geração que originaram uma cinefilia particular?”. Ele responde: “Acredito que existia certamente uma necessidade específica: se tornar flexível o suficiente, e poder (re)agir com presteza e conhecimento para questionar posições firmemente estabelecidas”.
A resposta é oportuna, pois desloca o paradigma crítico de uma forma de análise, um cânone de filmes ou de pressupostos críticos específicos, para uma postura, uma atitude diante do presente, do passado e do futuro que tem como pedra fundamental sua própria necessidade constante de redefinição – ou, nas palavras de Nicole Brenez, “cada filme é um laboratório”. Embora os postulados da geração movie mutations não sejam exatamente os mesmos dos críticos que fazem a Cinética, a arguta leitura feita por Horwath do cenário crítico que lhes era contemporâneo – dividido entre o pessimismo cultural (o “cinema de verdade” morreu e os “grandes mestres” ainda vivos flutuam como gênios desgarrados do século passado sobre uma paisagem indistinta de mediocridade), a afirmação do mercado (alto-falantes auto-explicativos) e a ironia (aqueles que se colocam à frente do mercado, mas na ponta de uma mesma lança) – e a proposição de uma disposição viva, ainda que não necessariamente eufórica, seguem como balizas possíveis. Em uma época em que essa mesma geração de Horwath, Martin, Kent Jones e Nicole Brenez já se coloca às turras com seus próprios paradigmas – como a entrevista que realizamos com Brenez literalizava sem uma vírgula de auto-traição – e a cinefilia, ela mesma, é movida por novas inquietações que geram novos comportamentos, a resposta de Horwath rebate em novas paredes.
Afinal, trocar paredes de lugar é um gesto político que muda o horizonte e abre pontos de fuga. Redesenhando os cômodos de uma casa que há muito se habita, essas mudanças sedimentam camadas de tempos, mudam circulações e arejam o espaço, mas não deixam, por sua vez, de cercear o olhar. Em momento em que as estruturas críticas, cinéfilas e artísticas já mais claramente estabelecidas demonstram certo esgotamento, a flexibilidade faz-se novamente necessária para criar dobras no tempo e espaço, além de buscar, com isso, possibilidades insuspeitas de saída.
Em 2013, a Cinética passou por uma grande reformulação que resultou na revista como ela pode ser lida hoje. Três anos depois, o formato parece ter cumprido seus objetivos originais, mas os longos intervalos entre as edições deixam cada vez mais claro que o desejo de cinema e pensamento que move a revista precisa remover paredes, uma vez mais. Depois de longo e imprevisto silêncio, trazemos esta nova edição ao ar – a mais volumosa e a última no formato ainda vigente – marcada por uma mudança na editoria da revista – com a saída de Filipe Furtado e a entrada de Raul Arthuso – e colaborações preciosas dos redatores frequentes e também de novos nomes, que nos agraciam com textos especiais. Nas próximas semanas, essa inquietação se materializará em uma nova revista, mais leve, para poder ir mais fundo e alçar voos mais altos.
É fortuito que o EM PAUTA desta edição se dedique centralmente a um cineasta cuja obra tem sido igualmente marcada pela mobilidade e, ironicamente, por brutais intervalos de produção: Monte Hellman. Artista de uma leveza exemplar, Hellman teve a sabedoria de tensionar profundamente as relações que permitiam a existência de seus próprios filmes, para, com isso, indagar mais profundamente os limites da arte e da existência. Seus filmes – todos eles de uma atualidade desconcertante – refletem os pequenos triunfos de uma sensibilidade contumaz a soprar contra o rolo compressor das contingências e dos imperativos de uma estrutura de produção que privilegia os músculos aos nervos.
No EM CARTAZ, uma enxurrada de obras de diretores que há muito ganham nossa atenção especial – Apichatpong Weerasethakul, Hou Hsiao-Hsien, Quentin Tarantino, Hong Sang-soo, Nanni Moretti – se entrecruza com uma dedicada exploração do cinema brasileiro recente, seja por nomes em diálogo com o cinema de autor, como Paula Gaitán, Juliana Rojas, Gabriel Mascaro, André Novais, Affonso Uchoa; seja por tentativas mais frontais de cinema popular (Roberto Santucci, Maurício Farias e Calvito Leal, ou, no documentário, Renato Terra e Ricardo Calil).
No EM VISTA, as relações entre política e estética se colocam de diversas maneiras, nas parcerias iluminadas de Jean-Marie Straub com Danièle Huillet e James Benning com Bette Gordon, no Ressurgentes, de Dácia Ibiapina, ou na série House of Cards.
No EM CAMPO, além de uma entrevista com Monte Hellman, o cinema se esparrama pela cobertura dos mais diversos festivais – CineOP, Olhar de Cinema, Cannes, New Directors/New Films – onde as possibilidades e os limites das surpresas parecem cada vez mais tênues.
Que o tempo de gestação desta nova edição encontre, no leitor, a chance de um outro tempo: o de se perder e se reencontrar entre os textos e os filmes que nos alimentaram pelos últimos meses. Em breve, muito breve, retornaremos, novos, de novo.


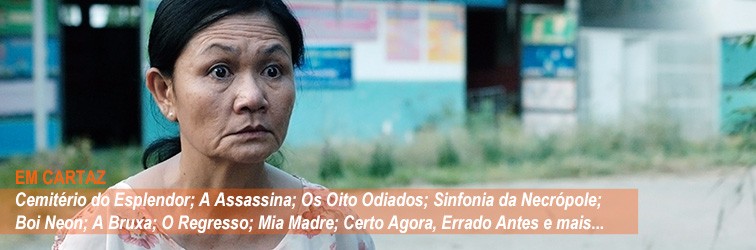





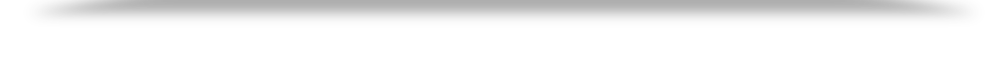
+ CINÉTICA