ensaios
Anotações sobre Jonas Mekas e os novos cinemas americanos
por
Daniel Caetano
 1 - Entre 1955, ano de fundação da revista Film Culture, e 1970, quando foi criado o Anthology Film Archives (que une exibição e armazenamento de filmes, assim como pesquisa e publicação de livros), Jonas Mekas liderou também a criação de vários outros organismos. O mais célebre deles, ainda ativo, é a Film-makers’ Cooperative, empresa cooperativa de produção de filmes fundada em 1962, e também devem ser contabilizados o New American Cinema Group (criado em 1960, como o nome sugere, para reunir realizadores do novo cinema que surgia sobretudo em Nova York), a Film Culture Non-Profit Corporation (criada em 1963 para administrar a revista), a Filmmakers’ Cinematheque (1964), o Filmmakers’ Workshop (1964, para atividades letivas e serviços específicos), o Filmmakers’ Lecture Bureau (1964) e, finalmente, o Filmmakers’ Distribution Center (1966). Entre outras iniciativas, ao longo destes quinze anos, esse grande volume de agrupamentos permitiu a realização de iniciativas como o Anti-censorship Fund (fundo de apoio contra a censura, criado em 1964 por conta da polêmica em torno de Flaming Creatures, filme de Jack Smith) e a New American Cinema Exposition, que, entre 1964 e 1967, levou para diversas cidades alguns filmes dessa produção que um dia Mekas chamou de “Novo cinema americano”. Além disso, o grande número de iniciativas garantia divulgação e curiosidade, ao mesmo tempo em que disfarçava a falta de recursos financeiros, conforme Paul Arthur aponta no seu ensaio “Routines of emancipation” (fonte das informações deste parágrafo), publicado no livro To Free The Cinema - que, organizado por David E. James, traça um panorama das amplas atividades de Mekas. 1 - Entre 1955, ano de fundação da revista Film Culture, e 1970, quando foi criado o Anthology Film Archives (que une exibição e armazenamento de filmes, assim como pesquisa e publicação de livros), Jonas Mekas liderou também a criação de vários outros organismos. O mais célebre deles, ainda ativo, é a Film-makers’ Cooperative, empresa cooperativa de produção de filmes fundada em 1962, e também devem ser contabilizados o New American Cinema Group (criado em 1960, como o nome sugere, para reunir realizadores do novo cinema que surgia sobretudo em Nova York), a Film Culture Non-Profit Corporation (criada em 1963 para administrar a revista), a Filmmakers’ Cinematheque (1964), o Filmmakers’ Workshop (1964, para atividades letivas e serviços específicos), o Filmmakers’ Lecture Bureau (1964) e, finalmente, o Filmmakers’ Distribution Center (1966). Entre outras iniciativas, ao longo destes quinze anos, esse grande volume de agrupamentos permitiu a realização de iniciativas como o Anti-censorship Fund (fundo de apoio contra a censura, criado em 1964 por conta da polêmica em torno de Flaming Creatures, filme de Jack Smith) e a New American Cinema Exposition, que, entre 1964 e 1967, levou para diversas cidades alguns filmes dessa produção que um dia Mekas chamou de “Novo cinema americano”. Além disso, o grande número de iniciativas garantia divulgação e curiosidade, ao mesmo tempo em que disfarçava a falta de recursos financeiros, conforme Paul Arthur aponta no seu ensaio “Routines of emancipation” (fonte das informações deste parágrafo), publicado no livro To Free The Cinema - que, organizado por David E. James, traça um panorama das amplas atividades de Mekas.
 2 – O caso de Flaming Creatures (foto) é bem interessante para compreender algumas das questões presentes no contexto do cinema independente, assim como o papel que Jonas Mekas escolheu para si. Através da Filmmakers’ Coop, Mekas promoveu a estréia pública do filme num festival na Bélgica, junto com outros filmes do “novo cinema americano”. Quando os organizadores consideraram que o filme de Jack Smith era ofensivo ao público e cancelaram as sessões, Mekas promoveu exibições clandestinas para os cineastas presentes (Godard, Agnes Varda, Polanski, entre outros). Quando o filme estreou em Nova York, no cinema Gramercy Arts, foi exibido por três semanas até ser proibido; daí Mekas levou a cópia para o cinema New Bowery – onde, depois de meia hora da primeira sessão, a polícia adentrou para apreender a cópia, o projetor e até mesmo a tela, além de levar Mekas e os demais organizadores para passar a noite na cadeia. Na semana seguinte, Mekas exibiu o filme, junto com Chant d’amour, de Jean Genet, numa pequena sala também em Nova York – e foi novamente preso por isso. Se essa atitude pode ter provocado ciúmes e críticas pelo panfletarismo, o desenrolar foi intrigante: no final da década, o diretor do filme, Jack Smith, acusou Mekas de estar se promovendo à custa do filme, de ter perdido os negativos originais (que na verdade foram localizados mais tarde no depósito de um laboratório) e, sobretudo, de se apropriar do “novo cinema americano” através dos vários organismos que criou e passou a comandar – a ponto de não repassar os direitos autorais pelas exibições. Segundo Smith, Mekas havia se transformado em um “capitalista”, enquanto ele se mantivera “anarquista” – contra as instituições, embora reclamando do dinheiro que, no seu ponto de vista, deveria ter sido repassado. Mekas encarou a corda bamba de criar “instituições” em favor de um “cinema livre” e a reação de Smith, para além da complexidade que pode haver nas relações humanas, indica como essa tensão provocou conflitos. Não foram poucas as críticas ao papel que ele procurou para si, algumas bem severas de ex-amigos - como as de Amos Vogel , o administrador da mítica sala Cinema 16 (onde Mekas por anos havia assistido a filmes de graça), que o acusou de ser um “estrategista maquiavélico, re-escritor da história com pretensões a papa”, movido por duas paixões: “cinema e poder”. O problema de uma crítica deste tipo é o contexto: chega a ser irônico pensar no cinema independente dos EUA pré-anos 80 como um reino digno de disputas de poder. Não por acaso, Paul Arthur atribui estas crítica ao “mal-estar da velha esquerda” com as numerosas iniciativas de Mekas. 2 – O caso de Flaming Creatures (foto) é bem interessante para compreender algumas das questões presentes no contexto do cinema independente, assim como o papel que Jonas Mekas escolheu para si. Através da Filmmakers’ Coop, Mekas promoveu a estréia pública do filme num festival na Bélgica, junto com outros filmes do “novo cinema americano”. Quando os organizadores consideraram que o filme de Jack Smith era ofensivo ao público e cancelaram as sessões, Mekas promoveu exibições clandestinas para os cineastas presentes (Godard, Agnes Varda, Polanski, entre outros). Quando o filme estreou em Nova York, no cinema Gramercy Arts, foi exibido por três semanas até ser proibido; daí Mekas levou a cópia para o cinema New Bowery – onde, depois de meia hora da primeira sessão, a polícia adentrou para apreender a cópia, o projetor e até mesmo a tela, além de levar Mekas e os demais organizadores para passar a noite na cadeia. Na semana seguinte, Mekas exibiu o filme, junto com Chant d’amour, de Jean Genet, numa pequena sala também em Nova York – e foi novamente preso por isso. Se essa atitude pode ter provocado ciúmes e críticas pelo panfletarismo, o desenrolar foi intrigante: no final da década, o diretor do filme, Jack Smith, acusou Mekas de estar se promovendo à custa do filme, de ter perdido os negativos originais (que na verdade foram localizados mais tarde no depósito de um laboratório) e, sobretudo, de se apropriar do “novo cinema americano” através dos vários organismos que criou e passou a comandar – a ponto de não repassar os direitos autorais pelas exibições. Segundo Smith, Mekas havia se transformado em um “capitalista”, enquanto ele se mantivera “anarquista” – contra as instituições, embora reclamando do dinheiro que, no seu ponto de vista, deveria ter sido repassado. Mekas encarou a corda bamba de criar “instituições” em favor de um “cinema livre” e a reação de Smith, para além da complexidade que pode haver nas relações humanas, indica como essa tensão provocou conflitos. Não foram poucas as críticas ao papel que ele procurou para si, algumas bem severas de ex-amigos - como as de Amos Vogel , o administrador da mítica sala Cinema 16 (onde Mekas por anos havia assistido a filmes de graça), que o acusou de ser um “estrategista maquiavélico, re-escritor da história com pretensões a papa”, movido por duas paixões: “cinema e poder”. O problema de uma crítica deste tipo é o contexto: chega a ser irônico pensar no cinema independente dos EUA pré-anos 80 como um reino digno de disputas de poder. Não por acaso, Paul Arthur atribui estas crítica ao “mal-estar da velha esquerda” com as numerosas iniciativas de Mekas.
 3 - Jonas Mekas é sem dúvida um personagem com uma trajetória fascinante: camponês agricultor na juventude na Lituânia; preso em Elmshorn, campo de trabalho obrigatório pelos nazistas na Segunda Guerra; viajante na Europa oriental do pós-guerra; estudante de Filosofia em Mainz; poeta em sua língua de origem, com diversos livros publicados ao longo das décadas seguintes; imigrante sem recursos em Nova York, trabalhando como assistente de alfaiataria (passando roupas a ferro) e numa companhia de bombeiros hidráulicos; documentarista constante a partir de 1954, quando compra sua câmera Bolex 16mm; criador e editor da Film Culture - que, apesar dos recursos mínimos e da falta de regularidade, foi a primeira e maior referência de revista sobre cinema feita nos EUA; crítico severo dos filmes de vanguarda num primeiro momento e, em seguida, líder e profeta da(s) nova(s) geração(ões) de cinema americano fora de Hollywood; finalmente, com o passar dos anos e o esquecimento das brigas, torna-se uma espécie de santo patrono do cinema “experimental”, “livre”, “de vanguarda” (ou seja lá o nome que se quiser dar para o os filmes que pretendem romper com as convenções de linguagem). 3 - Jonas Mekas é sem dúvida um personagem com uma trajetória fascinante: camponês agricultor na juventude na Lituânia; preso em Elmshorn, campo de trabalho obrigatório pelos nazistas na Segunda Guerra; viajante na Europa oriental do pós-guerra; estudante de Filosofia em Mainz; poeta em sua língua de origem, com diversos livros publicados ao longo das décadas seguintes; imigrante sem recursos em Nova York, trabalhando como assistente de alfaiataria (passando roupas a ferro) e numa companhia de bombeiros hidráulicos; documentarista constante a partir de 1954, quando compra sua câmera Bolex 16mm; criador e editor da Film Culture - que, apesar dos recursos mínimos e da falta de regularidade, foi a primeira e maior referência de revista sobre cinema feita nos EUA; crítico severo dos filmes de vanguarda num primeiro momento e, em seguida, líder e profeta da(s) nova(s) geração(ões) de cinema americano fora de Hollywood; finalmente, com o passar dos anos e o esquecimento das brigas, torna-se uma espécie de santo patrono do cinema “experimental”, “livre”, “de vanguarda” (ou seja lá o nome que se quiser dar para o os filmes que pretendem romper com as convenções de linguagem).
Mas o personagem sedutor não pode parecer maior que o contexto, e este risco é constante no que se fala hoje do “cinema experimental” dos EUA. O panorama complexo e diversificado não tem como ser resumido às imensas figuras de Mekas e Stan Brakhage.
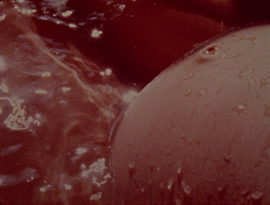 4 – Brakhage e Mekas são certamente os mais célebres nomes do cenário do dito “novo cinema americano”, pelos diversos papéis que cumpriram e pelos muitos anos dedicados aos seus trabalhos. A seus modos, complementares: Brakhage registrou situações de sua vida em seus filmes, mas é difícil falar do cunho “autobiográfico” de, por exemplo, Window Water Baby Moving (foto), enquanto Mekas teve a sua produção marcada pela invenção permanente dos cine-diários (uma invenção fundamental que só funcionou graças ao talento de Mekas, segundo disse o próprio Brakhage num texto já dos anos 90, publicado em To Free the Cinema). Durante muitos anos, Mekas deixou parcialmente de lado a sua atividade como cineasta, envolvido que esteve com a promoção do “novo cinema americano”, atuando como crítico, exibidor e tudo mais; Brakhage, ao contrário, sempre se dedicou a produzir e finalizar novos filmes, ao longo de quase meio século. Mas, se Mekas foi o grande responsável pela ampla divulgação de todos aqueles filmes através da Film Culture e de sua coluna no Village Voice, Stan Brakhage produziu dezenas e mais dezenas de textos de teor crítico, teórico ou de testemunho sobre cinema, tendo inclusive publicado um dos mais interessantes textos críticos sobre realizadores de vanguarda dos EUA no seu livro Film at Wit’s End. Nele, a partir de aulas que apresentou ao longo de anos, Brakhage escreveu sobre os trabalhos de oito cineastas seus favoritos: Maya Deren, James Broughton, Jerome Hill, Ken Jacobs, Marie Menken, Sidney Peterson, Bruce Conner e Christopher MacLaine. Uma lista de respeito, e provavelmente Mekas incluiria vários destes ao fazer uma sua. Já em 1962, no artigo para a Film Culture em que anunciava o “novo cinema americano” (“Notes on the new american cinema”), ele apontava três cineastas como “os poetas puros do cinema”: Marie Menken, Robert Breer e, claro, Stan Brakhage. 4 – Brakhage e Mekas são certamente os mais célebres nomes do cenário do dito “novo cinema americano”, pelos diversos papéis que cumpriram e pelos muitos anos dedicados aos seus trabalhos. A seus modos, complementares: Brakhage registrou situações de sua vida em seus filmes, mas é difícil falar do cunho “autobiográfico” de, por exemplo, Window Water Baby Moving (foto), enquanto Mekas teve a sua produção marcada pela invenção permanente dos cine-diários (uma invenção fundamental que só funcionou graças ao talento de Mekas, segundo disse o próprio Brakhage num texto já dos anos 90, publicado em To Free the Cinema). Durante muitos anos, Mekas deixou parcialmente de lado a sua atividade como cineasta, envolvido que esteve com a promoção do “novo cinema americano”, atuando como crítico, exibidor e tudo mais; Brakhage, ao contrário, sempre se dedicou a produzir e finalizar novos filmes, ao longo de quase meio século. Mas, se Mekas foi o grande responsável pela ampla divulgação de todos aqueles filmes através da Film Culture e de sua coluna no Village Voice, Stan Brakhage produziu dezenas e mais dezenas de textos de teor crítico, teórico ou de testemunho sobre cinema, tendo inclusive publicado um dos mais interessantes textos críticos sobre realizadores de vanguarda dos EUA no seu livro Film at Wit’s End. Nele, a partir de aulas que apresentou ao longo de anos, Brakhage escreveu sobre os trabalhos de oito cineastas seus favoritos: Maya Deren, James Broughton, Jerome Hill, Ken Jacobs, Marie Menken, Sidney Peterson, Bruce Conner e Christopher MacLaine. Uma lista de respeito, e provavelmente Mekas incluiria vários destes ao fazer uma sua. Já em 1962, no artigo para a Film Culture em que anunciava o “novo cinema americano” (“Notes on the new american cinema”), ele apontava três cineastas como “os poetas puros do cinema”: Marie Menken, Robert Breer e, claro, Stan Brakhage.
Brakhage, por sua vez, no texto publicado em To Free the Cinema, ainda que ressaltando o mérito dos filmes de Mekas, aponta a forte influência que ele teve do cinema de Marie Menken. De fato, um curta como Go! Go! Go! parece ter sugerido o caminho para boa parte dos filmes que compõem Walden.
Polêmicas internas foram comuns e as críticas ao “novo cinema americano” foram constantes, ainda mais incisivas do que as pessoais. Se Mekas, com todas as críticas que recebeu, sempre mostrou um espírito agregador, pretendendo incluir todo tipo de filme entre o “novo cinema”, Brakhage provocou inúmeros conflitos de ordem estética: sofreu críticas de Maya Deren por filmar o parto do primeiro filho em Window Water Baby Moving, foi um dos vários a se afastar do “novo cinema americano” por conta de sua institucionalização, criticou com rigor o cinema de pessoas próximas como Shirley Clarke e, sobretudo, afastou-se da cena ao ver os caminhos que foram tomados a partir da aparição dos filmes de Andy Warhol. O “prêmio do cinema independente” dado pela Film Culture em 1964 para Warhol, dois anos depois de ter sido dado a ele próprio, fez com que Brakhage rompesse (naquele momento) com o grupo. Como muito já se disse, nada mais diferente dos filmes experimentais de Brakhage do que o fascínio icônico e desesperado do olhar de Warhol no cinema.
 5 – Para Mekas e a Film Culture, tudo isso e muito mais poderia ser o “novo cinema americano”: desde os precursores como Peterson e seu “humor experimental”, Broughton, Deren e Willard Maas nos anos 40, passando pela geração deflagradora dos anos 50, de Menken, Brakhage, Breer, Mekas, Peter Kulbeka, Kenneth Anger, Ron Rice, George Kuchar e Gregory Markopoulos, entre muitos outros, e incluindo também os realizadores do chamado “cinema estrutural” dos anos 60, como Hollis Frampton, Michael Snow e, claro, Warhol. É possível que, de todos, o mais influente e inovador tenha sido Brakhage, conforme tantos já afirmaram nas últimas décadas – mas não é pequena a lista de filmes notáveis realizados por esse grupo diversificado de cineastas: filmes como The Pleasure Garden e a obra-prima This is it (foto), de Broughton, Blue Moses e tantos outros de Brakhage, The Flower Thief, de Ron Rice, (nostalgia), de Frampton, Go!Go!Go!, de Menken, Fireworks, de Anger, Wavelenght, de Michael Snow, ou as Reminiscências de uma viagem à Lituânia, do próprio Mekas, entre muitos outros. Se a produção “experimental” tende à irregularidade, seja em que época for, e muitas vezes exige bastante do espectador, os cineastas citados e mais alguns outros realizaram certos filmes cuja força e originalidade formal os fazem obras raras, não só no panorama do cinema dos EUA com de todo o mundo. 5 – Para Mekas e a Film Culture, tudo isso e muito mais poderia ser o “novo cinema americano”: desde os precursores como Peterson e seu “humor experimental”, Broughton, Deren e Willard Maas nos anos 40, passando pela geração deflagradora dos anos 50, de Menken, Brakhage, Breer, Mekas, Peter Kulbeka, Kenneth Anger, Ron Rice, George Kuchar e Gregory Markopoulos, entre muitos outros, e incluindo também os realizadores do chamado “cinema estrutural” dos anos 60, como Hollis Frampton, Michael Snow e, claro, Warhol. É possível que, de todos, o mais influente e inovador tenha sido Brakhage, conforme tantos já afirmaram nas últimas décadas – mas não é pequena a lista de filmes notáveis realizados por esse grupo diversificado de cineastas: filmes como The Pleasure Garden e a obra-prima This is it (foto), de Broughton, Blue Moses e tantos outros de Brakhage, The Flower Thief, de Ron Rice, (nostalgia), de Frampton, Go!Go!Go!, de Menken, Fireworks, de Anger, Wavelenght, de Michael Snow, ou as Reminiscências de uma viagem à Lituânia, do próprio Mekas, entre muitos outros. Se a produção “experimental” tende à irregularidade, seja em que época for, e muitas vezes exige bastante do espectador, os cineastas citados e mais alguns outros realizaram certos filmes cuja força e originalidade formal os fazem obras raras, não só no panorama do cinema dos EUA com de todo o mundo.
A óbvia ironia histórica é que a maior parte do cinema experimental feito na nação mais rica e que mais produz filmes no mundo acaba se perdendo ou ficando esquecida, menos por descaso do que por excesso de oferta.
6 – E nunca foram poucos os ataques sofridos por estas obras e estes cineastas – até mesmo porque, é preciso lembrar, nem todos os filmes tinham o vigor dos melhores. Sob esse aspecto, a despeito das críticas, fica visível a qualidade democrática de Jonas Mekas como editor geral e interessado em cinema. Por exemplo: dos demais editores da revista, certamente Andrew Sarris não era o mais simpático ao “Novo cinema americano”, ao contrário – tanto que uma entrevista concedida por Sarris sobre Mekas se chama “Amava ele, detestava aquilo”. Pois foi Sarris quem Mekas chamou para dividir a coluna no Village Voice. Do mesmo modo, a Film Culture manteve por vários anos a coluna de Herman G. Weinberg, crítico brilhante, mas de tom evidentemente nostálgico e regressivo, pouco interessado pelos filmes do grupo que se pretendia vanguardista – e, anos mais tarde, Mekas se referia a Weinberg na sua coluna do Voice como “o verdadeiro amante do cinema”.
 Outro caso: Parker Tyler, o crítico da Film Culture que mais interesse dedicou aos filmes do “Novo cinema americano”, discordou expressivamente de Mekas na sua briga contra a segunda versão de Shadows, de Cassavetes, e a sua valorização, em contraponto, de Pull My Daisy (foto), de Robert Frank e Albert Leslie. Tyler chegou a publicar um artigo intitulado justamente “Em defesa de Shadows, contra Pull My Daisy” - na Film Culture, claro. Outro caso: Parker Tyler, o crítico da Film Culture que mais interesse dedicou aos filmes do “Novo cinema americano”, discordou expressivamente de Mekas na sua briga contra a segunda versão de Shadows, de Cassavetes, e a sua valorização, em contraponto, de Pull My Daisy (foto), de Robert Frank e Albert Leslie. Tyler chegou a publicar um artigo intitulado justamente “Em defesa de Shadows, contra Pull My Daisy” - na Film Culture, claro.
Mais expressivo é o caso de Edouard de Laurot, que também foi editor da Film Culture desde os primeiros números – e, segundo Sarris, foi a principal influência crítica de Mekas nos primeiros anos. Pois na edição nº 24 da Film Culture (a mesma em que Mekas publicou suas “Notas sobre o Novo Cinema Americano”), De Laurot não apenas escreveu um artigo curto e grosso atacando os principais problemas que, a seu ver, tornavam desinteressantes os filmes do “novo cinema americano” (falta de comunicabilidade, egocentrismo dos realizadores e despreparo técnico, entre outros), como preparou um “Glossário ao Novo Cinema Americano”, co-assinado por outros três críticos. O humor do glossário é inegável e, concorde-se ou não, vale a pena transcrever algumas das melhores definições:
- Platéia: sinônimo de cineastas.
- Arte: um produto colateral do acaso.
- Cameraman: um homem controlado por uma câmera.
- Criação: um ato passivo.
- Diretor: aquele que mira primeiro e pergunta depois (aqui o trocadilho é intraduzível: “He who shoots first and ask questions later”, em que o verbo “shoot” pode querer dizer “atira”, como um herói de faroeste, ou “filma”).
- Ego: veja Musa.
- Musa: veja Ego.
- Experiência: uma limitação.
- Fracasso: sucesso.
- Quadro: algo que fica melhor se estiver fora.
- Gênio: uma vítima das circunstâncias.
- Filme caseiro: uma definição hostil para os filmes do Novo cinema americano.
- Improvisação: esperança.
- Profeta: qualquer um que denuncie Hollywood.
- Realista: um neologismo que substitui “mal-exposto”, “caótico”, “câmera trêmula”.
- Expressão pessoal: auto-piedade.
- Espontaneidade: Aquilo a que alguém pode apelar quando a imaginação falha.
- Verdade: opinião expressa pelas costas.
A Film Culture publicou tanto o artigo de De Laurot como o Glossário – mas Mekas apresentou os dois textos com uma “Nota do editor”, em que avisava que a Film Culture “toma a priori a defesa do Novo Cinema Americano” e classificava os autores como colegas “da direita” e seus ataques como “dogmáticos demais, intransigentes demais”. Na edição seguinte, De Laurot esperneou por seus textos terem ganhado uma introdução que, de certa maneira, os desautorizava. Jogo jogado, opiniões expostas, continuou amigo de Mekas e co-editor da revista.
 7 - O caso é que o próprio Mekas já havia feito críticas parecidas aos filmes de vanguarda, logo no primeiro texto que publicou em sua própria revista (na edição nº 3, em 1955). Este texto, intitulado “The experimental film in America”, mais tarde seria ironizado pelo próprio Mekas como fruto de uma fase “Santo-Agostinho-antes-da-conversão”. Nele, Mekas criticava os aspectos “adolescentes” dos filmes que, como seus jovens realizadores, apresentavam “frustrações, incerteza, confusão interna sobre as coisas e as idéias”, caracterizados por “escapismo, frustrações recalcadas, sadismo e crueldade, fatalismo e pessimismo juvenil”. Além disso, percebia a presença de uma certa “conspiração da homossexualidade” nestes jovens filmes. O artigo obviamente causou polêmica e discussões – Maya Deren defendeu inclusive que Mekas fosse processado. Já em 1959, quando tinha sua coluna no Voice e Cassavettes já havia feito Shadows (foto), Mekas publicou na Film Culture um “Chamado para a nova geração de cineastas”, que deixava evidente como o tom era completamente diferente. Naquele momento, de todo modo, a relação com o cinema independente incluía os filmes narrativos. Em 1962, quando publicou as “Notas sobre o Novo cinema americano” e liderou a criação da Filmmaker’s Coop, a defesa dos caminhos de experimentação e vanguarda já dominava o tom. 7 - O caso é que o próprio Mekas já havia feito críticas parecidas aos filmes de vanguarda, logo no primeiro texto que publicou em sua própria revista (na edição nº 3, em 1955). Este texto, intitulado “The experimental film in America”, mais tarde seria ironizado pelo próprio Mekas como fruto de uma fase “Santo-Agostinho-antes-da-conversão”. Nele, Mekas criticava os aspectos “adolescentes” dos filmes que, como seus jovens realizadores, apresentavam “frustrações, incerteza, confusão interna sobre as coisas e as idéias”, caracterizados por “escapismo, frustrações recalcadas, sadismo e crueldade, fatalismo e pessimismo juvenil”. Além disso, percebia a presença de uma certa “conspiração da homossexualidade” nestes jovens filmes. O artigo obviamente causou polêmica e discussões – Maya Deren defendeu inclusive que Mekas fosse processado. Já em 1959, quando tinha sua coluna no Voice e Cassavettes já havia feito Shadows (foto), Mekas publicou na Film Culture um “Chamado para a nova geração de cineastas”, que deixava evidente como o tom era completamente diferente. Naquele momento, de todo modo, a relação com o cinema independente incluía os filmes narrativos. Em 1962, quando publicou as “Notas sobre o Novo cinema americano” e liderou a criação da Filmmaker’s Coop, a defesa dos caminhos de experimentação e vanguarda já dominava o tom.
A partir daí a sua proposta estética passa, cada vez mais, pela crença na invenção. Para Mekas, os erros são parte do jogo – ele defende os erros, problemas e falhas nos filmes com o argumento culturalista de que refletem o contexto dos seus realizadores. Mas isso não significa um mero “vale tudo”. Na poética de Jonas Mekas, todos os erros são perdoáveis, mas o medo de errar acaba com a chance de acertar. O acerto, a beleza, a grandeza do espírito artístico, isso se alcança através do risco e da invenção – a criação artística é fundamentalmente inventiva e visionária. Não basta falar do mundo para ter grandeza – na poética de Mekas, a grande arte fala do mundo para o espectador, mas ao falar reinventa um novo mundo e um novo homem.
 8 – Jonas Mekas, realizador de filmes, procura realizar a ambição fundamental do romantismo de união entre arte e vida. Há nos seus filmes, no entanto, algo mais surpreendente do que um mero uso de registros audiovisuais para rascunhar uma trajetória autobiográfica. O olhar que move a câmera parece sempre buscar os detalhes prosaicos, fugindo de qualquer aspecto solene, por mais célebres que sejam os rostos registrados. Neste sentido, o elenco dos seus filmes pode despertar a curiosidade prévia, mas o olhar de Mekas é oposto ao fetichismo irônico de Warhol. A montagem de suas imagens, no entanto, traz outro sentido a elas. Através do encadeamento, da velocidade das imagens e do sentido que ganham agrupadas, as imagens de Jonas Mekas revelam mundos que se perderam. A melancolia e o desaparecimento convivem intimamente com a alegria e o vitalismo em seus filmes, como se pode ver. O registro cinematográfico não garante a permanência das imagens - ao contrário, indica a sua perda definitiva no tempo. É o paradoxo poético em que seus filmes se equilibram: com fé no novo, investigam a memória. 8 – Jonas Mekas, realizador de filmes, procura realizar a ambição fundamental do romantismo de união entre arte e vida. Há nos seus filmes, no entanto, algo mais surpreendente do que um mero uso de registros audiovisuais para rascunhar uma trajetória autobiográfica. O olhar que move a câmera parece sempre buscar os detalhes prosaicos, fugindo de qualquer aspecto solene, por mais célebres que sejam os rostos registrados. Neste sentido, o elenco dos seus filmes pode despertar a curiosidade prévia, mas o olhar de Mekas é oposto ao fetichismo irônico de Warhol. A montagem de suas imagens, no entanto, traz outro sentido a elas. Através do encadeamento, da velocidade das imagens e do sentido que ganham agrupadas, as imagens de Jonas Mekas revelam mundos que se perderam. A melancolia e o desaparecimento convivem intimamente com a alegria e o vitalismo em seus filmes, como se pode ver. O registro cinematográfico não garante a permanência das imagens - ao contrário, indica a sua perda definitiva no tempo. É o paradoxo poético em que seus filmes se equilibram: com fé no novo, investigam a memória.
Setembro de 2011
editoria@revistacinetica.com.br |

