pariscópio - especial Berlim/Paris
Infância do cinema
por
André Brasil
“Em
nosso jardim havia um pavilhão abandonado e carcomido. Gostava dele por causa
de suas janelas coloridas. Quando, em seu interior, passava a mão de um vidro
a outro, ia me transformando. Tingia-me de acordo com a paisagem na janela...”
(Walter Benjamin)  Definitivamente,
o cinema cresce. Expande. Suas imagens transbordam a sala escura e povoam os espaços
dos museus e galerias. É o que sugerem duas exposições recentes: Le Mouvement
des Images, no Centre Georges Pompidou, em Paris, e Beyond Cinema:
The Art of Projection, no Museum fur Gegenwart, em Berlim. Definitivamente,
o cinema cresce. Expande. Suas imagens transbordam a sala escura e povoam os espaços
dos museus e galerias. É o que sugerem duas exposições recentes: Le Mouvement
des Images, no Centre Georges Pompidou, em Paris, e Beyond Cinema:
The Art of Projection, no Museum fur Gegenwart, em Berlim.
A
primeira, sob a curadoria de Philippe-Alain Michaud, reordena um conjunto de obras
do Museu Nacional de Arte Moderna à luz de categorias importadas do cinema: Defilement,
Projection, Récit, Montage. A segunda, concebida por Stan
Douglas, Christopher Eamon, Joachim Jager e Gabriele Knapstein, pensa essa expansão
do filme a partir de recortes menos didáticos: Phantasmagoria, Persona,
Repertory Cinema, Body Double, The Liminal, The Optic.
Esse processo de expansão do filme para além da sala escura,
sabemos, não é recente. Hoje, ele ganha novas nuances, em grande medida provocadas
pelas possibilidades abertas pelas tecnologias eletrônicas e digitais. Ganha,
também, novos nomes: l’autre cinema, future cinema, pós-cinema,
beyond cinema... conceitos que, de uma forma ou de outra, apontam para
uma superação do cinema provocada por sua própria expansão. Contudo,
algumas obras podem nos indicar um caminho inverso: aquele que nos levaria não
à uma superação, mas à infância do cinema. Seguir esse caminho nos permitiria
esboçar uma política da linguagem cinematográfica, atenta a sua capacidade
de se reinventar constantemente. Aqui, a infância é aquele domínio em que o cinema
reencontra as outras formas artísticas, em que sua linguagem é pura potência:
como um balbucio, um esboço. Como um brinquedo desmontado. Não
se trata, portanto, de uma noção cronológica. A infância, nesse caso, não é o
que, pouco a pouco, se perde no tempo (aquilo de que se alimenta a nostalgia).
Também não se trata de uma essência do cinema, perdida, que deve, a todo custo,
ser recuperada, preservada. A infância é o que resta ao
fundo de toda imagem, o vazio que habita a imagem. Aquilo que, em meio a tantos
clichês, nos possibilita experienciar o mundo, de novo e novamente, com os olhos
ingênuos (ou nem tanto) da criança. Ela é, nesse sentido, um mistério: feita a
imagem, algo permanece por ser feito; vista a imagem, algo permanece por ser visto.
Se a infância é uma origem, ela está no que viria: “Aquilo que tem na infância
a sua pátria originária, rumo à infância e através da infância, deve manter-se
em viagem” (Agamben). Resíduos do tempoNam
June Paik tem um sorriso maroto. À sua revelia, sua obra se institucionalizou,
mas esse riso, entre ingênuo e malandro, se mantém. Ver Zen for Film (1964
- imagem no alto do texto), instalação exposta no Pompidou, é tocar a infância
do cinema. Antes e além do fotograma, da montagem e da narrativa: luz sobre os
resíduos do tempo. Como em outras obras de Paik, uma simplicidade rara: a luz
branca do projetor sobre a tela branca. A pura luz do cinema atravessa a película
transparente, torna-se impura. Os resíduos se acumulam e o que o filme projeta
é a própria ação do tempo sobre a matéria. Em uma leitura literal de Gilles Deleuze,
a imagem não é mais metáfora ou tradução do tempo, mas o tempo mesmo, se desdobrando
em sua multiplicidade. Mas essa infância – luz branca sobre
o branco da tela – já é o cinema, já guarda em germe sua linguagem, seu dispositivo.
A tela branca (como uma página em branco) recebe a projeção de luz e, a partir
desse procedimento mínimo, poderá receber o fotograma, a montagem, a narrativa,
os gestos do cinema.
 One
Candle (1988), outra obra de Paik, agora em Beyond Cinema. Uma vela
queima no centro da instalação. A câmera capta a imagem que se projeta, em direto,
silenciosa, em duas paredes. Os projetores decompõem a imagem da vela nas três
cores primárias do vídeo: azul, verde, vermelho. Aqui, como em Zen for Film,
a imagem é pura presença. Reencontra sua infância icônica e nos permite experienciar
o que nos transcende: o sagrado. Objeto de culto, diante do qual não se olha,
mas se baixa os olhos (Régis Debray). O ícone está na infância da imagem, em seu
limiar: no limite tênue em que a imagem se confunde com o objeto, a representação
se confunde com a presença. A projeção se confunde com a própria vela, captada
em direto. One
Candle (1988), outra obra de Paik, agora em Beyond Cinema. Uma vela
queima no centro da instalação. A câmera capta a imagem que se projeta, em direto,
silenciosa, em duas paredes. Os projetores decompõem a imagem da vela nas três
cores primárias do vídeo: azul, verde, vermelho. Aqui, como em Zen for Film,
a imagem é pura presença. Reencontra sua infância icônica e nos permite experienciar
o que nos transcende: o sagrado. Objeto de culto, diante do qual não se olha,
mas se baixa os olhos (Régis Debray). O ícone está na infância da imagem, em seu
limiar: no limite tênue em que a imagem se confunde com o objeto, a representação
se confunde com a presença. A projeção se confunde com a própria vela, captada
em direto.
Essa é, portanto, uma imagem que menos representa o sagrado
do que nos permite experienciar sua presença, nos faz mergulhar nele. Mas, para
produzi-la, o artista se vale de um sofisticado dispositivo de captação, de composição
e de decomposição da imagem. Recorre a recursos de linguagem sutis e concisos.
Nesse sentido, o gesto zen de Paik é uma profanação, cria uma espécie de
templo tecnológico (se existe um deus aí, ele é tecnicolor!), em que a
presença do sagrado, em sua simplicidade, surge de um complexo trabalho com a
linguagem. Não nos enganemos, portanto: entre o ruído e a palavra, o mínimo balbucio
de uma criança mobiliza, desde já, um intrincado aparato discursivo. Giro
vazioHistórias de aventuras e viagens marítimas povoam
o imaginário infantil. A vida de Donald Crowhurst poderia render uma delas. O
navegador amador inglês desapareceu misteriosamente em meio a uma viagem ao redor
do mundo. 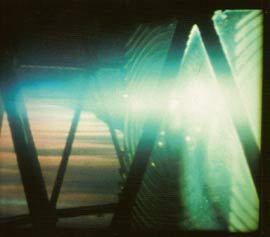 Essa
é a inspiração de Tacita Dean para a obra Disappearance at Sea (1996),
exibida em Beyond Cinema. O filme curto, de 13 minutos, foi realizado no
farol de Berwick, próximo ao porto de onde partiu o navegador: suas lâmpadas,
sua maquinaria, seu giro lento, sua luz forte rastreando o mar. Planos que, em
uma busca incessante, não mostram senão o que desapareceu. Essas imagens – que
nos fazem contemplar o desaparecimento – também são ícones, imagens-presença:
ao querer representar o irrepresentável, elas apresentam a si mesmas. E o seu
giro vazio, misterioso. Essa
é a inspiração de Tacita Dean para a obra Disappearance at Sea (1996),
exibida em Beyond Cinema. O filme curto, de 13 minutos, foi realizado no
farol de Berwick, próximo ao porto de onde partiu o navegador: suas lâmpadas,
sua maquinaria, seu giro lento, sua luz forte rastreando o mar. Planos que, em
uma busca incessante, não mostram senão o que desapareceu. Essas imagens – que
nos fazem contemplar o desaparecimento – também são ícones, imagens-presença:
ao querer representar o irrepresentável, elas apresentam a si mesmas. E o seu
giro vazio, misterioso.
O movimento lento e repetitivo do
farol em busca do navegador desaparecido nos liga ao mistério da morte. Como os
ícones, imagens primeiras: aquelas que nos permitem lidar com a morte, negociar
magicamente com ela. Os ícones povoam de mortos o mundo dos vivos. Aí está a gênese
da imagem, seu nascimento, este que, paradoxalmente, se realiza pela morte (Debray).
Se, ao rastrear a morte do navegador inglês, as imagens
de Tacita Dean nos oferecem o vazio (o desaparecimento), o que nos resta, portanto,
é a pura possibilidade, a linguagem em estado latente, potencial, infantil. Diante
da presença da morte tocamos a infância da imagem. Olhar
vidradoA matéria-prima da obra de Peter Campus é a percepção.
Uma percepção oscilante, relativa: entre a pura presença do corpo e sua modulação
pelas mídias, interfaces e circuitos. Percepção que é relativizada também pelo
movimento e pela posição do corpo no espaço, pela captura do seu deslocamento
através de câmeras e sensores.
Prototype for Interface
(1972). Entramos na sala e nos vemos projetados em duas telas sobrepostas.
A primeira mostra a imagem captada por uma câmera de circuito fechado de
vídeo.  Ao
lado, outra imagem, agora do nosso reflexo em um vidro translúcido. A apreensão
instantânea e defasada de nós mesmos provoca uma sensação de estranhamento, um
esboço de esquizofrenia. Nosso corpo cindido em dois, levemente descolado de nossa
presença na sala. Ao
lado, outra imagem, agora do nosso reflexo em um vidro translúcido. A apreensão
instantânea e defasada de nós mesmos provoca uma sensação de estranhamento, um
esboço de esquizofrenia. Nosso corpo cindido em dois, levemente descolado de nossa
presença na sala. Esse jogo de reflexo e projeção também
nos leva, por vias diferentes, ao limiar da linguagem, à sua infância: quando
nos percebemos fora do mundo, localizando e identificando os objetos, conferindo
a eles forma e nome. Quando nós mesmos nos tornamos objetos de um olhar que se
vê olhando. Percepção primeira, origem da linguagem, que está na base do nosso
encontro surpreendente com o mundo.  Mas,
eis que nos deparamos com Criminal Eye (1995), de Tony Oursler, também
parte de Beyond Cinema. A projeção de um globo ocular sobre uma superfície
esférica. Ele é um olho vidrado, que não pisca e que, mesmo aberto, não nos vê.
Ele assiste televisão. Olho vazio, pelo qual as imagens passam sem parar, e sem
se fixar. Uma espécie de nível zero do olhar, em que se olha sem ver. Ao contrário
da obra de Campus que nos faz experimentar essa defasagem entre nós e o mundo
(a percepção) que funda a linguagem, Criminal Eye nos leva àquele momento
último em que a imagem, tornada informação, nos impede de ver. Olhar anestesiado,
quando nada mais no mundo parece ser capaz de nos surpreender. Mas,
eis que nos deparamos com Criminal Eye (1995), de Tony Oursler, também
parte de Beyond Cinema. A projeção de um globo ocular sobre uma superfície
esférica. Ele é um olho vidrado, que não pisca e que, mesmo aberto, não nos vê.
Ele assiste televisão. Olho vazio, pelo qual as imagens passam sem parar, e sem
se fixar. Uma espécie de nível zero do olhar, em que se olha sem ver. Ao contrário
da obra de Campus que nos faz experimentar essa defasagem entre nós e o mundo
(a percepção) que funda a linguagem, Criminal Eye nos leva àquele momento
último em que a imagem, tornada informação, nos impede de ver. Olhar anestesiado,
quando nada mais no mundo parece ser capaz de nos surpreender.
BrinquedosAs
duas exposições – Le Mouvement des Images e Beyond Cinema – nos
mostram brinquedos. Os brinquedos estão na infância do cinema, como sugere Jonathan
Crary. Da câmera escura ao estereoscópio, passando pelo zootrópio, entre outras
traquitanas, os dispositivos da imagem em movimento criam, cada um a sua maneira,
formas de ver, de se posicionar no espaço, de crer e de pensar. Criam temporalidades
próprias. Dizer que esses dispositivos (esses brinquedos)
estão na infância do cinema não significa dizer que eles fazem parte de uma história
progressiva cuja teleologia, cujo fim último, seria a projeção na sala escura.
Ao contrário, cada dispositivo possui sua própria história, suas próprias virtualidades.
Podemos então pensar que essa infância é formada por uma variedade de mundos para
a qual a projeção na sala escura é uma atualização possível. Quando
crianças, costumamos desmontar os brinquedos, sem conseguir montá-los novamente.
As crianças profanam. “Se consagrar (sacrare) designa a saída das coisas
da esfera do direito humano, profanar significa, ao contrário, sua restituição
ao livre uso dos homens.” (Giorgio Agamben) Profanações.
Essa é uma boa maneira de caracterizar e reunir obras tão díspares. Os artistas
são crianças profanadoras. Desmontam a linguagem, expõem seus vazios. Eles nos
levam ao limiar da linguagem: ali onde ela é um mistério, um truque, uma traquinagem.
Onde expõe sua vulnerabilidade. Esse lugar vazio, essas
peças de brinquedo desmontado, essa tela em branco, esses balbucios... o cinema
se expandiu, cresceu, mas, na sala escura ou fora dela, sua infância permanece.
Sim, hoje, essa infância é ameaçada pelo desencanto e pela descrença, que tornariam
o nosso um olhar vidrado, que não pisca e não se espanta. E é por isso mesmo que
a infância é esse lugar, mais do que nunca necessário, onde nasce a política. Balanço

Rocking Chair
(2003), uma instalação interativa (!) de David Claerbout. Em sua cadeira, calmamente,
uma velhinha balança. Ao entrarmos na sala, o balanço vai diminuindo o ritmo,
até parar. Quem dá a volta em torno da tela, percebe a imagem da velhinha sentada,
agora de costas. Ela contempla a paisagem lá fora, tranqüila, silenciosa. Até
que percebe nossa presença na sala e, em um gesto quase imperceptível, vira a
cabeça em nossa direção.

O
que ela contemplava, antes de, discretamente, notar nossa presença? A morte, talvez.
Mas, não seria a sua infância o que ela encontra? editoria@revistacinetica.com.br
|

