É o Fim (This is the End), de Seth Rogen e Evan Goldberg (EUA, 2013)
dezembro 2, 2013 em Em Cartaz, Fábio Andrade

As profundezas da floresta
por Fábio Andrade
Na introdução do clássico da crítica de cinema The American Cinema (1968), Andrew Sarris fincava a bandeira do autorismo em uma expressão comum ao repertório de sabedoria popular norte-americano: ver a floresta em vez das árvores. Toda a sua teoria, adaptada da política dos Cahiers, nasce como reação ao que ele chama de “forest critics” – ou seja, aqueles que se ocupam do cinema em detrimento dos filmes, do conjunto sobre o específico – e em nome da dedicação às “árvores”, às particularidades dos filmes individuais. Mas Sarris era, também, o primeiro a afirmar que Hollywood tem mais de floresta do que de árvores (inclusive no bosque literal de seu nome), e daí surge a dicotomia central ao cinema-americano que faz o termo “cinema de autor” parecer um tanto despropositado quando trazido para uma cinematografia como a brasileira, por exemplo, mesmo com toda a ameaça das defesas disparatadas por um cinema industrial ou comercial. Armado com a camera-stylo de Astruc e a política de mise en scène refinada pelos jovens franceses até aquele momento, Sarris reavaliava a história do cinema norte-americano (em realidade, a história de Hollywood) usando como critério a capacidade dos autores de inscreverem suas particularidades contra a força de uma máquina que tendia à indistinção (e que, na maior parte do tempo, vencia), tomando esse traço como fator determinante na hora de separar o joio do trigo.
A metáfora-lugar-comum do joio e do trigo, porém, não é das melhores – e embora, diante da massificação da produção hollywodiana recente, exista tentação no exemplo da maçã podre que, por contato, espalha sua podridão por toda uma cesta de maçãs boas, seu decadentismo não faz muito o meu gosto. A questão é que toda crítica de cinema que busca esse traço distintivo dentro da produção hollywoodiana vira e mexe se dá conta de que o funcionamento desta grande máquina de cinema depende de sua bi-função como rolo compressor. Surge, com isso, uma aparente narrativa de pureza, dos artistas virgens, corrompidos por esse grande sistema (ou que sobrevivem a ele, mas até quando?) triturador de todo traço de personalidade que teima se manifestar dentro dessa grande linha de produção – e se esquece, com isso, que a pureza do trigo só importa se render o melhor pão. Com isso, tornamos a olhar para as árvores e teimar: “é uma floresta! É uma floresta!”.
Voltemos às árvores, à árvore mais especificamente, e fica imediatamente claro que a pureza parece ser tema central da estréia na direção de Seth Rogen e Evan Goldberg, paradoxalmente intitulada É o Fim. Trata-se, inclusive, de um filme sobre o juízo final, com direito a roupas brancas e ascenção ao céu de CGI (uma dupla-ironia que parece passar despercebida aos próprios diretores). A pureza surge no discurso sobre o glúten (rendendo algumas boas piadas) e logo se mostra a tônica do encontro disparador da trama entre Seth Rogen e Jay Baruchel, dois atores canadenses e amigos de longa data que se estranham com qualquer manifestação de que ambos podem não ser mais os mesmos, de que tudo entre eles pode ter mudado, e de que o desejo de manter as coisas como já foram seja tão somente isso: um desejo. Os caras ficaram mais velhos, “deram certo”, tomaram o protagonismo e, neste ínterim, perceberam que a proximidade era fruto da convivência, não o contrário. É o Fim é, nesse sentido, um atestado de fracasso do discurso da amizade como mais do que uma contingência, muito mais próximo de uma lógica de clube exclusivo do que propriamente de irmandade. O que temos é um embate, muito ao gosto de certa compreensão enviesada do autorismo, entre a ontologia e a contingência. Armadas as peças sobre o tabuleiro, a questão passa a ser: quem leva a melhor?

Essa necessidade da impressão digital do indivíduo, da especialidade de o que é único diante de uma cadeia de produção do mesmo (no caso do filme, de assassinatos em série), significa que Sarris, em grande medida, ganhou a guerra. Por mais que Hollywood continue seu esforço de trituração, pelo simples motivo que vender mais do mesmo tende a ser mais lucrativo, há, nesta geração do humor norte-americano, um gosto particular pela autoria (lembremos do drama subcutâneo em Funny People, de 2009, do comediante que não consegue escrever suas próprias piadas e de como isso está ligado diretamente à morte) e por aquilo que se tornou a grande moeda de troca em época de impressionismos inflamados: o estilo. Cinco anos atrás, eu escrevia nesta mesma Cinética uma crítica sobre Pineapple Express (2008), com o título de “Cinema de autores”, reivindicando ao filme um lugar mais preciso na filmografia dos então roteiristas Evan Goldberg e Seth Rogen do que na do diretor David Gordon Green (muito embora seja, possivelmente, seu melhor filme). Estávamos, muito claramente, diante de roteiristas-autores, mas também de atores-autores. É o Fim leva esta impressão ao paroxismo, a começar por um investimento ainda mais profundo nesta outra autoria, com personagens que carregam os nomes dos próprios atores e jogam, todo o tempo, com sua persona pública (e aqui é preciso abrir parênteses para a melhor piada do filme, e talvez a representação mais clara da figura de maior talento de todo o grupo: o personagem de Michael Cera doidão, soprando cocaína na cara de seus parceiros de Superbad e se distanciando por completo do tipo que costuma encarnar, dentro e fora dos filmes). Essa consciência autoral não só reserva a cada ator a possibilidade de reforçar sua função-personagem dentro do filme e para fora do filme (de certa maneira, É o Fim é um grande portfólio), como culmina com a estréia da dupla de roteiristas na direção, algo que não se dá sem perdas notáveis em relação ao trabalho de profissionais mais dedicados, como Judd Apatow, Greg Mottola e o próprio David Gordon Green – perdas de ritmo, de fôlego e de critério diante de soluções simplórias que tendem a fascinar nos primeiros contatos com o aparato cinematográfico, da qual a sequência em time lapse em frente à TV é apenas o exemplo mais gritante.

A personalidade salta à frente (este é provavelmente o filme mais Seth Rogen e Evan Goldberg da história, e essa é a raiz de seus méritos e de seus problemas), o que rende alguns momentos fortes de humor, mas deixa vago esse espaço ao lado, esse riso de canto de boca e de tela que conquistava os filmes justamente na fortificação de suas bordas: os colegas de trabalho em O Virgem de 40 Anos (2005); os policiais em Superbad (2007); o núcleo de Paul Rudd, em Ligeiramente Grávidos (2007); e mesmo a comédia de coadjuvantes que era Eu Te Amo, Cara (2009). Como muitos já escreveram, o título do filme serve para marcar um grande ponto final no humor de retração da turma de Judd Apatow, da qual Seth Rogen e Evan Goldberg sempre foram representantes importantes. Tudo aqui é expansão e, nesse sentido, o título é também uma negação completa e absoluta do extracampo: está tudo aqui, neste retângulo, em tela (no tempo de tela – o velocímetro de qualquer ator trabalhando na indústria), e agora é hora de ocupar este centro (e fora daqui, o mundo está acabando). O indivíduo se sobrepõe ao grupo pois, no fim, a salvação é individual; e se o céu idealizado é uma grande festa da galera, saiba que é preciso merecer para poder fazer parte. Não há utopia aqui, mas o ideal norte-americano clássico do self-made man, feliz por ter vencido com suas próprias regras. Neste pretenso épico de galera, o indivíduo se sobrepõe.
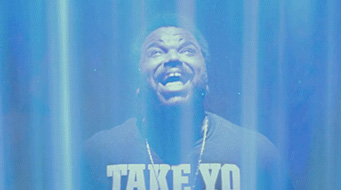
Nesse sentido, é interessante que o filme tente se equilibrar desesperadamente entre o excesso de personalismo e a completa ausência de personalidade – da qual o uso banal da música (à Shrek, à Watchmen, à Meu Malvado Favorito) é apenas o sintoma mais claro. É o Fim não é somente uma concessão do cinema de Rogen e Goldberg ao maquinário hollywoodiano – como vemos, por exemplo, com Andrew Stanton e o espetáculo de assingularidade que é seu John Carter (2012), ou nas sequências que trucidavam toda a boa herança do primeiro e fatalmente bem sucedido Se Beber, Não Case (2009), de Todd Phillips – mas fruto do desejo de negociação com esse sistema. A idéia é ceder apenas o necessário para dobrar as estruturas ao seu favor, e nesse sentido a lógica do autorismo é assimilada de dentro para fora. A lógica do autorismo privilegia, na verdade, a cobra mais tenaz. Parte da distinção dos auteurs americanos estava justamente em sua vocação contrabandista, na capacidade de ser mais esperto que a máquina e conseguir, com um golpe de talento, fazê-la trabalhar para fins pessoalíssimos.
Se existe um sentimento que pontua diversos grandes filmes da história do cinema industrial norte-americano é justamente a estupefação diante do financiamento de loucuras muitas vezes extremamente umbiguistas, o queixo caído ao perceber que alguém responsável por uma enorme quantidade de dinheiro assumiu os custos e as responsabilidades (nem sempre seguidas por louros) para financiar verdadeiras viagens pessoais (muitas delas resultando em grandes filmes – e muitas vezes justamente por isso – mas nem todas). Não há triunfo da pureza, portanto, mas um golpe de Davi em Golias – que, com frequência, terminava por beneficiar o próprio gigante – e É o Fim joga abertamente com esta ideia, inflando uma piada interna a dimensões épicas, com direito a explosões ainda mais vistosas do que as do final de Pineapple Express, e demônios gigantes em computação gráfica.Para ser readmitida no céu, basta à cobra ser maquiavélica o suficiente para, ao final, fazer a coisa certa. Para se manter puro, é necessário passar e sobreviver a um infinito mar de lama e, ao final da jornada, todas as polaridades serão invertidas por simples merecimento – como o céu envolto em nuvem de maconha deixa claro, no desfecho do filme. Há de se apreciar a inconsequência desse aparente terrorismo, mas, ao mesmo tempo, quando o passaporte para o céu vem com piada sobre o refrão final de “I Will Always Love You”, resta uma certeza: se entrar no céu é fácil desse jeito, este lugar está superlotado demais para ser realmente o paraíso.

O filme parece dividido entre a afirmação da personalidade e a deterioração da especificidade, a percepção de que aqueles caras engraçados que nada tinham a perder passaram a ter muito a perder e, com isso, passaram a ver graça onde ela nunca esteve. É o grande drama dos vencedores: como lidar com o estilo quando ele se torna dominante? Como reafirmar a vitalidade desse estilo quando toda a contingência, a mesma contingência que aqui é em alguma medida desprezada, era parte vital da sua força? É o Fim não é somente mais do mesmo, mas o mesmo em sua versão tonificada, amplificada, anabolizada com toda a grana e a produção que não cabia naqueles quartos suburbanos, com colchonetes no chão, falsa memorabilia samurai na parede e bongs guardados sob os travesseiros contaminados de conjuntivite. Não há mais como fingir que um estúdio é um quarto quando suas próprias casas já foram construídas como estúdios (como o bunker de James Franco, no próprio filme). Nos erros e nos acertos, É o Fim é um filme honesto, e a honestidade tende a contar pontos no juízo final. Mas e se a graça estivesse justamente nos colchonetes? E se dormir em camas suntuosas, cercado de mulheres e de toda a droga que o dinheiro pode comprar, de repente parecesse por demais comum quando projetado na tela do cinema?

Neste triunfo do humor personalista, perde-se a especificidade no esforço da piada interna, sacrificando uma das grandes características do humor norte-americano: o craft, o domínio absoluto da técnica via trabalho que, aliado a um pouco de talento e um enorme espaço para experimentações, produz séries e mais séries de gerações de notável talento para o humor. Um exemplo expressivo dessa perda e que tangencia este É o Fim está no programa James Franco Roast, exibido em Setembro deste ano no Comedy Central, que poderia ser um bom laboratório para este longa, não tivesse ele sido feito depois (o que o torna uma repetição um tanto mais triste, embora frequentemente mais engraçada). Em ambos, temos a mesma dedicação à piada interna e ao personalismo inflamado que, aos poucos, termina por excluir o próprio espectador. Mais sintomático ainda é perceber que as contribuições mais inspiradas do programa foram de Bill Hader e Andy Samberg, artistas oriundos e consagrados no Saturday Night Live, programa que privilegia a linhagem e a atualização do craft em relação ao estilo pessoal – que, quando alcançado, tende a marcar a “graduação” dos comediantes e o fim de sua participação no programa. Se anos atrás o personalismo da geração Judd Apatow carregava um bem vindo frescor em um momento em que este craft parecia carente de novos horizontes para onde se desenvolver, hoje fica a sensação de que a equação já se inverteu.
Mas É o Fim não é uma narrativa de fracasso, muito pelo contrário. Se as velhas amizades vão embora – como iam, ao lado de duas raparigas, pela escada rolante final de Superbad – aqui não temos em troca a beleza silenciosa da melancolia, o contraponto do luto por todo um passado que não cabe mais no presente. Se temos “fins” em É o Fim, eles não são fonte de luto, mas de celebração. É um filme de comemoração pela vitória, um auto-exploitation com direito a festa ostensiva de deixar com inveja as mais desmedidas estrelas do futebol, e não há tristeza que resista à tentação de ficar felizes por eles e compartilhar um pouco da alegria por tudo que foi conquistado (mesmo que, do lado de cá, impere o silêncio da separação, o luto por tudo que havia de belo no passado e que não encontra mais lugar no presente). O problema, no caso, é o dia seguinte: se programado como filme de abertura para This is 40 (2012), teríamos não só um corte abrupto da comemoração da vitória (com Rogen e Goldberg) para a rotina dos vencedores (com Apatow), mas também uma das sessões mais melancólicas que duas comédias jamais permitiram montar. A galera cresceu, passou a usar terno por necessidade e, no processo, percebeu que os ternos vestiam melhor do que os velhos bermudões. Mas, para manter o humor sob a lapela de um terno, é preciso ser gênio, é preciso ser Chaplin… é preciso saber que o terno, no fim das contas, não é mais do que um disfarce.

+ CINÉTICA