A morte que nos sonha
julho 14, 2013 em Em Vista, Luiz Soares Júnior
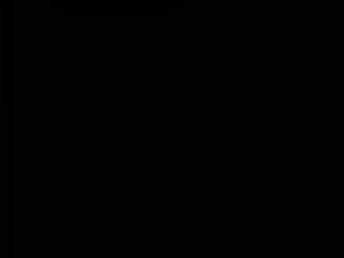
Branca de Neve (2000), de João César Monteiro
Genealogias do fora de campo a partir de Branca de Neve, de João César Monteiro
por Luiz Soares Júnior
“To pass from a normal nature to him one must cross ‘the deadly space between’”.
Herman Melville, “Billy Budd”.
“Tudo o que se realiza nos limites de sua espécie deve ultrapassar esta espécie e tornar-se uma outra coisa que não pode ser comparada a nada”.
Goethe, “As Afinidades Eletivas”.
“Para mim, o mundo está cheio de vozes silenciosas. Significará isto que sou um vidente ou que tenho alucinações?”
Robert Musil, “O Jovem Törless”.
Quando do lançamento de Saló (1975), Roland Barthes criticou dogmaticamente Pasolini em um artigo escrito para o Le Monde. Segundo ele, seria impossível literalizar – converter em imagens-significantes – o Eros e o Thanatos que rivalizam em mais-valia de potência venenosa na obra de Sade. Apenas à narrativa escrita – à écriture: transposição gráfica, abstrata, inscrita do fantasma – caberia este papel. É ao signo, urdido a ferro e férula sobre a tela do papel em branco, que é destinada a função de encapsular o fantasma; e por duas razões: na escrita, reserva-se ao imaginário do leitor o trabalho do Desejo – ou antes: o seu trabalhar, processual litania masturbatória onde o sentido se faz por intercessão da mão e conivência da pupila; o caráter virtual do fantasma; sua potência de ressignificação por cada cúmplice domingueiro de chaise-longue – permanece intacto. Ao encarnar pontualmente, em planos tableaux e causais, a geometria luxuosa de Sade, Pasolini castraria o que é indispensável ao fausto da fantasia sadeana: o seu fora de campo, o horizonte possível de significação sem o qual nenhum significante adquire peso, textura, densidade (em mim). As pirâmides sadeanas necessitam da tara de cada leitor para se fazerem carne – são inverossímeis, abstratas em demasia sem o concurso de nossos demônios. Ao figurá-las, Pasolini retiraria do texto de Sade o personagem sem o qual invalida-se a lógica teoremática de sua rocambolesca dialética de penetrações-mediações: Eu. O Dolmancé, o Duque de Blanchis, a Juliette da mise en scène teratológica de Sade c’est moi. É contra o meu testículo que seus chicotes ressoam, é sobre o meu ventre que seus paus trop décadents ejaculam uma última vez.
Em cinema, Sade só poderia ser-nos restituído “oralmente”- o conto re-cantado pela soberania absoluta de um narrador, apreendido pela teia demoníaca da elocução da voz humana; este é o lugar que lhe resta para fustigar, gozar e morrer. Há dois filmes na história do cinema que seguem à letra a prescrição barthesiana de que um fantasma se diz: Eugénie de Franval (1975), de Louis Skorecki, e Uma História Suja (1977), de Jean Eustache. Mas se diz da forma mais desencantada possível, nada auspiciosa aos encantos maléficos da fascinação: o tom monocórdico da recitação em Skorecki, a frontalidade expositiva, o hieratismo da posição dos atores no quadro, a foto chapada; em Eustache, temos uma dupla tática de mortificação do erotismo: em Uma história Suja, o diretor escolhe um ator profissional (Michel Lonsdale) e um amigo crítico (Jean Noel Picq) para contar, respectivamente em 35 mm e em 16mm, uma soirée entre diletantes de Saint-Germain des Près, um registro em cartório datilografado às pressas – a mesma história suja, que poderia ter saído da História do olho de Bataille: um homem descobre um esconderijo inusitado para “brechar” o sexo das mulheres que usam o sanitário de um bar. A imagem sofre uma violação: ela necessita perder os seus prestígios sensuais, seu númen encantatório, para se tornar um mero suporte do signo. Estes corpos dissecados pela parataxe, este rigor mortis da encenação, este beat atonal, este contracampo litigioso são o revelateur de uma nova função reservada ao plano: ser a urna funerária de um morto, cujo testamento o texto nos legou.

Uma História Suja (1977), de Jean Eustache
Mas há uma adaptação (do espírito) do texto de Sade “que não ousa dizer o nome”: Branca de Neve (2000), de João César Monteiro. Monteiro, que acalentava um velho projeto de levar às telas a Filosofia na alcova (projeto cuja concepção, découpage e clins d’oeil para o espectador são esmiuçados aqui) realiza, por meios singularmente crípticos, o seu intento. Uma História Suja, Eugénie de Franval e Branca de Neve, filmes em que a imagem é desencarnada, dissecada e finalmente tragada pelo Logos. São filmes sobre o fora de campo no cinema – este horizonte temporal (Memória, Imaginário) de problematização hermenêutica do que se mostra que garante ao espectador um lugar no filme; e ao fantasma, um lugar no espectador.
Para Eustache e Skorecki, o invólucro encarregado de preservar o fantasma da inspiração sadeana é o féretro do signo; a imagem é castrada de sua dor e delícia, o campo sofre um déficit de vitalidade e acaba por des-velar o fora de campo do que se narra: o corpo violado, ejaculado e morto da presença que foi. Monteiro vai além (ou aquém): ele retém a integridade do texto e exuma o corpo glorioso do plano, glosando ironicamente a sentença final do “Raparigas em Flor” proustiano: “(…) o dia de verão que ela ia descobrindo parecia tão morto, tão imemorial como uma suntuosa e milenária múmia que a minha velha criada não fizesse mais que ir cautelosamente desenfaixando de todos os seus panos, antes de fazê-la surgir embalsamada em sua túnica de ouro”.
O que “resta” da imagem cinematográfica é a quintessência de seu parentesco com o sonho: um cortejo de nuvens pastoreadas pelo tempo… Assim, Monteiro elimina de seu filme a figuração e a narrativa – Branca de Neve consiste em um comentário dialogal, de caráter filosófico e mito-poético, sobre o “fora de campo” da Féerie Reconciliada dos Grimm: a Vida e a Morte, o Mesmo e a Diferença, a Queda e a Redenção… ele anula as últimas mediações que distanciavam, na história do cinema, o plano da fulguração onírica, a sequência do devaneio, o fondu da queda que nos aspira para o fundo do Id… A “vidência”, hipnótica e fetichista, das nuvens trespassadas pelo tempo é o leitmotif de uma experiência radical de assombro do campo pelo fora de campo. Aqui, as duas funções assumidas pelo fora de campo no cinema moderno – evocador/deflagrador de fantasmas, catalisador de constelações dialéticas – são brilhantemente sintetizadas numa imagem espectral: evanescente, fugidia, Uma e Outra…

Branca de Neve (2000), de João César Monteiro
Exemplifico precisa, clinicamente, os usos “fantasmáticos” e dialéticos” do fora de campo no cinema moderno. O filme que inaugura exemplarmente esta operação crítica (mas não só) de “trabalho” do que se mostra pelo que significa – de espaçamento e refração do campo pelo fora de campo – é Noite e Neblina (1955), de Alain Resnais. A princípio, nada parece indicar que estas panorâmicas cadenciadas sobre os prédios e as cercas de uma “fazenda” abandonada – este “suposto” documentário sobre uma cooperativa rural do Front popular, o vilarejo “elegíaco” de Como Era Verde o Meu Vale, um kibutz israelense – encobre (sepulta) um filme de horror. Se não fosse a infiltração do campo pelo fora de campo da narrativa off do poeta Jean Cayrol, sobrevivente do mais nefasto dentre os campos de concentração austríacos, Gusen… O fantasma só se mostra presente por intercessão (mediação, Diferença, violação da imagem pela Linguagem) do fora de campo.

Noite e Neblina (1955), de Alain Resnais.
Se citei Noite e Neblina, é porque este filme conjuga paradigmaticamente ambos os usos do fora de campo: fantasmagórico, já que o autor/ator do texto é um sobrevivente de campo de concentração; e dialético, ao trazer “à cena” o fora de campo no campo, com as sequências assustadoras de documentários em que o filme se transforma, mostrando-nos a “linha de produção taylorista” de cadáveres patrocinada pelos nazistas, aproveitando todo e qualquer despojo dos corpos. Resnais “joga” com o Negativo: alterna, projeta, intersecta o campo e seu duplo “Grilo falante”… O Ano Passado em Marienbad (1961) é a versão psicodrama-melodramática, fantasmático-romanesca desta mesma trajetória – desta tensão e inervação que o cinema moderno resolveu inocular “na frontalidade e centralidade” clássicas, com o fito de lembrar ao espectador que um plano de cinema não “acaba num plano de cinema”; que ele possui uma reserva – histórica, “fantasmática”, virtual – de sentido e experiência; que não apenas se esgota no mostrar do presente perfeito – que aspira igualmente a demonstrar, argüir, resistir; assim como a evocar e imaginar que “aqui, um dia…”.
Em Noite e Neblina, o fora de campo vai, progressiva e fatalmente, invadindo o plácido (afásico?) território sitiado do campo… este filme instaurou, de direito, uma verdadeira consciência infeliz na História do cinema, ferida narcísica lancetada com rigor masoquista e lucidez implacável pelo grande cinema que seguiu-lhe o rastro: Marguerite Duras, Jean-Marie Straub, Nagisa Oshima, Godard, Fassbinder, Oliveira, Luc Moullet, Alexander Kluge, Chantal Akerman… todos se sentiram solicitados a trabalhar o fora de campo num sentido ou noutro – a integrar ao filme a “nota de rodapé”, o comentário e a glosa críticas, a conjugar o presente do plano “clássico” sob outros modos e tempos – o pretérito imperfeito -, a cumprir luto pelo morto que se carpe aqui…
Um uso mais específico da ativação dialética do fora de campo, exemplo mais do que clássico dado por Serge Daney em seu “A Rampa”, está no filme do casal Straub, Toute Révolution Est un Coup de Dés (1977). “(…) Os Straub fazem dizer versos do poema de Mallarmé no cemitério de Père-Lachaise: os ‘atores’ (um para cada caractere tipográfico) são disseminados – escritura viva – sobre o cimo de uma pequena colina. Sob esta colina foram enterrados os mortos da Comuna de Paris. Mas isto o filme não nos diz. Em Fortini/Cani (1977), a câmera percorre várias vezes um campo italiano onde, durante a Segunda guerra, populações civis foram massacradas”. Os Straub exigem radicalmente do espectador a adjunção de um fora do campo ao campo – é a nós que cabe esta função genealógico-messiânica: aqui, ao contrário do filme de Resnais, do Agatha e as Leituras Ilimitadas (1981) de Duras, não há um texto indicativo (diretivo, causal ao menos) que nos possibilite ligar o que se mostra no plano ao fantasma recalcado, ao trauma histórico – aos “cadáveres sob a terra/o plano”. Acrescentaria aos exemplos de Daney a panorâmica que abre Othon (1970), também dos Straub, e que nos leva diretamente à entrada de uma gruta onde os partigiani escondiam armas durante a última guerra…

Fortini/Cani (1977), de Jean-Marie Straub & Danièle Huillet
Branca de Neve é um filme-foz, O filme sobre o fora de campo – o despenhadeiro onde todos estes experimentos sobre o indizível e o infigurável que jazem sob a imagem são mobilizados, e por fim ir-reconciliados (o final feliz apesar e a partir de todas as negações suscitadas pela personagem); é um filme sobre a Morte – qual o grande fora de campo da vida?, aquilo que em si não se mostra ou diz, mas sem o qual nada somos, posto que tudo o que é se configura-refigura (eidos) a partir do que acaba… É uma piada metafísica, cujo gênio consiste em emprestar ao fantasma e seus avatares – a hipnose, o transe, a rememoração – a obscena materialidade evocada por Kracauer, quando escreve que “um espectador observa as imagens que desfilam sobre a tela em um estado onírico. Assim, ele tem a impressão de apreender a realidade projetada sobre a tela em sua absoluta concretude física”.

+ CINÉTICA